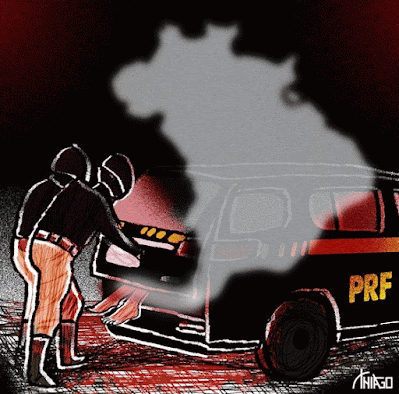terça-feira, 31 de maio de 2022
¿Por qué no te callas?
Sociólogos e cientistas políticos, tremei! Os cantores sertanejos agora estão opinando. Mais recentemente, um parou o show para alertar os fãs contra a ameaça do fantasma do comunismo. Sabe quando a pessoa fala sem saber o que está dizendo? Igual ao colega, também centrou fogo nas leis de incentivo. A música sertaneja hoje ocupa status de potência no Brasil, mas os seus cantores deveriam fechar a boca.
Deixo bem entendido: não estou sugerindo que eles fechem a boca e parem de cantar. Mas, de certa forma, repito o conselho que o rei João Carlos I, da Espanha, deu ao presidente da Venezuela, Hugo Chávez, em 2007: “¿Por qué no te callas?”. Com todo respeito aos fãs dos sertanejos, esses cantores, calados, são ótimos. Bem entendido número 2: quando digo fechar a boca é em termos políticos e de elaboração de crítica social.
Maturidade é se calar quando não se tem o que dizer. No começo dessa reflexão, falei que talvez o mês de maio tenha a ver com tudo isso. Força de expressão, apenas porque este é o mês que tem, entre os seus dias, um em que se homenageia o gênero musical. Para ser mais exato, dia 3, do Sertanejo. Por causa da data, o site do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) publicou um texto em que diz que o “sertanejo urbano” é a preferência nacional. Bacana. Gosto não se discute.
Só porque é homenageado, o representante pode tudo? Não. Mas há quem ouça o que os cantores dizem? Sim. Essa estética musical já atinge todas as classes sociais deste país. O site do Ecad assegura que 48% dos brasileiros gostam da melodia; 27% gostam das letras; 47% se identificam com o ritmo sertanejo (se acham “a cara”); e 40% amam os artistas do gênero. O que os caras falam, influencia.
O texto do Ecad diz ainda que o gênero é quase unânime: “Se em 2011 o sertanejo era uma estrela em ascensão, o top 20 das músicas mais tocadas em rádios em 2020 mostra a sua consolidação”: são 14 entre as 20 mais tocadas em todo o País. Do brega ao romântico, do forró ao arrocha.
Por aí se tire a capacidade de influência dos cantores sertanejos. Na minha singela opinião, eles não vendem somente música. Com suas roupas grifadas, calças coladíssimas às pernas, passam o estereótipo do corpo perfeito e da beleza. O heterossexual, branco, viril, antenado com a moda, cheio de energia, sedutor, como padrão, é quase uma busca política.
Eles fazem a linha “sertanejos urbanos e chiquérrimos”. São personagens para o consumo artístico, como a maioria dos fãs jamais conseguirá ser. Mas, o simples fato de imitá-los já garante o sentido da estética. Eles influenciam no gosto musical, mas também repassam filosofia de vida através de um padrão de beleza e de um modelo de comportamento.
Por isso o agronegócio investe pesado e a televisão diz que agro é pop. Os “influencers musicais”, agora, avançaram o estágio. Em ano eleitoral, resolveram se expressar com palavras faladas, expondo a estética política que representam. Cá para nós, cantando, já estariam em bom tamanho.
Ociosidade criminosa
Oxalá nossos políticos, ao invés de ficar discutindo ideologia, discutam verdadeiramente o bem do nosso amado povo. Olhem para os problemas reais da vida do nosso amado povoDom Paulo Cezar Costa, arcebispo de Brasília, nomeado cardeal pelo Papa Francisco
A glória da bala perdida
Que triste destino o meu, suspirava a Bala Perdida. E tinha razão: entre as Balas Certeiras, a sua reputação era lamentável, para dizer o mínimo. À diferença delas, a Bala Perdida não tinha rumo certo, não tinha alvo definido. Disparada a esmo, ela ia cravar-se numa parede, ou no tronco de uma árvore, ou simplesmente perdia-se. Poderia até cair na água suja de um charco qualquer, onde ficaria por muito tempo, até que misericordiosa ferrugem viesse corroer o metal de que era feita, terminando assim com o seu sofrimento.
O pior não era tanto o fracasso, que afinal é parte da existência. O pior era a inveja. As Balas Certeiras se gabavam, e com razão, do estrago que faziam. Hoje vou estourar um crânio, dizia uma, e outra acrescentava: hoje vou varar um pulmão. Havia aquelas que sonhavam em destruir múltiplos órgãos, ou atingir mais de uma pessoa de cada vez.
A Bala Perdida não podia permitir-se esses sonhos. As outras sabiam disso. Mal eram colocadas no tambor do revólver, começavam a debochar: então, o que vai ser hoje? Um muro caindo aos pedaços? A parede de um barraco imundo? A Bala Perdida nada respondia.
Aguardava somente o doloroso instante da percussão, aquele instante em que, depois da explosão, seria projetada no espaço infinito, rumo a um alvo infamante.
E de repente isso mudou.
Um dia o revólver disparou várias vezes. As Balas Certeiras partiam, alegres. Quando chegou a vez da Bala Perdida ela foi, resignada, esperando sofrer o impacto humilhante em tijolo de barro ou em madeira apodrecida. Mas não; para sua surpresa foi em carne que ela mergulhou, a carne macia da perna de um homem. Ele gritou, e seu grito foi música para a Bala Perdida. Seguiu-se uma jornada excitante: o homem foi levado para o hospital e uma operação foi necessária e o cirurgião comentou com os assistentes: Puxa vida, foi difícil extrair essa bala perdida. Mandou recolhê-la num saco plástico. E ali, examinada por muitos, a Bala Perdida viveu seu instante de glória maior. Queriam saber de seu calibre, queriam saber de onde tinha sido disparada, queriam até examiná-la sob lentes.
A hora das Balas Perdidas tinha chegado. Daí em diante elas passariam a fazer parte do noticiário, ganhando até manchetes. Havia, sim, um deus das Balas Perdidas. E ele tinha por fim manifestado a sua vontade poderosa.
Graciliano Ramos analisa o bolsonarismo
O Brasil que Graciliano encontrou ao deixar o presídio da Ilha Grande às vésperas da instauração do Estado Novo, o de Silviano enquanto escrevia o livro ainda no período da ditadura militar e o de agora, com Bolsonaro e seus generais conspirando para dar um golpe durante as eleições, revelam quão frágil é a nossa realidade democrática.
"Em Liberdade" é um falso diário íntimo, que cobre dois meses da nova vida fora das grades. O leitor acompanha o romancista alagoano na casa do amigo José Lins do Rego, jantando bife à milanesa no Lamas, morando numa pensão do Catete, ganhando o sustento com frilas, seguindo uma garota na praia de Botafogo e tendo de esconder a ereção.
Silviano escreve como se psicografasse, Chico Xavier recebendo Graciliano. Para conseguir o efeito mediúnico, antes de iniciar o livro tirou seis meses para imitar o estilo seco, castiço e límpido do mestre. Eis o resultado:
"Todos e cada um acreditam-se idênticos na miséria, na dor e no sofrimento, isto é: desgraçados todos, mas quem narra é sempre o mais desgraçado dos mortais. Por isso as pessoas são pouco tolerantes diante da miséria alheia. (...) Já a linguagem do prazer é original. Putaria, política e futebol –isso as pessoas escutam. Com o gozo nos olhos e nos lábios, acrescentam: é um brasileiro da gema".
Talvez o desabafo de Graciliano (ou de Gracilviano) explique por que Bolsonaro, segundo o Datafolha, tenha apenas 54% de rejeição entre os eleitores —fora o grupo de fanáticos que aprova a putaria.
segunda-feira, 30 de maio de 2022
Violência das chacinas é inexplicável
Coincidência ou não, apesar da beleza dos dias de maio, preparava um texto sobre violência, das chacinas às agressões verbais de nossos tempos.
É mais fácil explicar por que o velho Santiago do livro de Ernest Hemingway pesca um imenso peixe e o perde no caminho da praia do que entender as razões do jovem Salvador Ramos, que matou 19 crianças e duas professoras em Uvalde, no Texas.
Também é muito difícil entender por que uma operação de inteligência resulta na morte de 23 pessoas, na Vila Cruzeiro, no Rio.
Será que estamos falando da mesma palavra quando dizemos inteligência?
No fundo, é possível dizer que políticas públicas estão por trás dessas mortes: a que coloca nas mãos do jovem Salvador dois fuzis; ou a que antevê no fuzilamento em grande escala um trunfo eleitoral.
O que estava preparando para explicar não trata diretamente de massacres, mas sim das condições que tornaram nossas vidas tão expostas à violência.
Meus temas eram a polarização e a violência verbal. Baseado numa análise de Milan Kundera do romance “A montanha mágica”, de Thomas Mann, achei que havia ali algo para compartilhar.
É um momento em que muitos se perguntam quando tudo começou. Foi com a internet, foram certas mudanças na própria estrutura da internet ou as revoltas ao longo do planeta, inclusive a de 2013 no Brasil?
Segundo Kundera, o romance de Thomas Mann, passado na véspera da Primeira Guerra Mundial, foi um terrível questionamento das ideias, um grande adeus à época que acreditou nas ideias e na sua faculdade de dirigir o mundo.
Dois importantes personagens do romance, um democrata e um autocrata, Settembrini e Naphta, são muito inteligentes, discutem intensamente suas ideias e, diante de seu pequeno auditório, extremam os argumentos, a tal ponto de não se saber mais quem reclama do progresso; quem, da tradição; quem, da razão; quem, do irracional.
Algumas páginas depois, já próximo à eclosão da guerra, os personagens sucumbem a irritações irracionais. Settembrini ofende Naphta, batem-se num duelo que acabará pelo suicídio de um deles.
Kundera afirma que o romance não mostra o irreconciliável antagonismo ideológico, mas uma agressividade extrarracional, “uma força obscura e inexplicada que impele os homens uns contra os outros, para a qual as ideias não passam de um guarda-chuva, de uma máscara e de um pretexto”.
Assim, o grande romance de ideias de Thomas Mann é uma espécie de despedida da esperança de que a discussão racional das ideias possa nos levar a bom termo. Havia certo pessimismo naquele momento em que a guerra se aproximava. Mas o que Thomas Mann queria dizer no princípio do século passado seria tão estranho assim aos nossos dias?
É possível dizer que a ampla discussão nas redes sociais passa ao largo dessas forças irracionais, é possível dizer que o confronto ideológico não é mais que um disfarce para o exercício do ódio?
Toda essa digressão não nos exime de criticar as políticas públicas que potencializam a violência: a liberação geral de armas, o estímulo ao fuzilamento de suspeitos. Talvez seja necessário ir mais longe em nossa reflexão. Se é verdade que o choque de ideias já revelava um fracasso na véspera da Primeira Guerra Mundial, aquelas forças destrutivas de qualquer consenso tornaram-se mais ativas.
Não é outro o objetivo das técnicas desenvolvidas na campanha de Trump e exportadas para a extrema direita do mundo, o uso do troll, descrito também como a quantidade de tempo usada para intervir numa conversa e dinamitar as possibilidades de diálogo.
Os tempos em que as ideias dirigiam o mundo já estavam em declínio. Imaginem agora, em que forças políticas se dedicam à lacração ou atuam apenas para impedir qualquer consenso: sobre a forma da Terra, o perigo de um vírus, a importância da vacina. O processo de autodestruição, tão nítido no meio ambiente, é também assustador na trajetória democrática.
Escola para Todos
Ficamos na defesa correta, mas insuficiente, das cotas para os poucos que terminam o ensino médio, sem olhar para a imensa perda dos que ficam para trás, sem educação de base com qualidade suficiente para se aventurar no vestibular, mesmo com a possibilidade de cotas. Defendemos corretamente que as cotas existam para reduzir o impacto da educação de base desigual, mas não nos mobilizamos para que ela seja a mesma para ricos e pobres, nem acreditamos que isto seja possível antes de 50 anos.
Acertamos ao nos opor ao retrocesso de limitar acesso às universidades federais apenas aos que podem pagar, mas não nos preocupamos com aqueles que nem perto chegarão dela, por serem analfabetos para as exigências do vestibular. Tampouco adotamos a honestidade intelectual de dizer que a universidade já é paga pela sociedade, não existe gratuidade plena, a pergunta devia ser “quem paga” e “quem se beneficia”, e como fazer a universidade servir aos interesses públicos e da nação. Estamos certos em não querer que a universidade seja apenas para quem possa pagar, mas estamos errados ao aceitar a manutenção de um sistema escolar com escolas de qualidade apenas para quem pode pagar caro.
Não lutamos pela gratuidade das escolas de educação de base com qualidade. Defendemos que as universidades sejam grátis, sem defender a gratuidade das escolas de ensino médio com qualidade. Defendemos que alguns poucos pobres possam entrar na universidade, mas não que todos eles concluam o ensino médio em escola com a mesma qualidade dos filhos dos ricos. Possivelmente, nem se acredita que isto seja necessário e possível.
Corretamente defendemos o direito das crianças de famílias ricas e de classe média frequentarem escola para aprenderem com outras crianças, mas pouco fazemos para que as crianças pobres tenham escola com a qualidade que os filhos destas famílias terão em casa. Nem nos preocupamos em saber onde estamos errando ao ponto dos pais desejarem tirar os filhos da escola.
Reagimos ao absurdo de ocupar as escolas com militares, mas não reconhecemos os erros que cometemos ao tolerar a indisciplina, devido a erros pedagógicos, dominação sindical, desprezo à educação por parte de governos e educadores. Não apresentamos, não lutamos nem praticamos métodos que deixem a escola funcionar ordeira e respeitosamente, sem necessidade de ocupação militar.
Ao observar este debate, percebemos que no Brasil o progressista é conservador: defende conceitos arraigados, interesses sindicais e eleitorais, e direitos adquiridos pelos que já têm acesso à educação, ignorando os excluídos que vão ficando abandonados.
Racismo no Brasil: tragédia pouca é bobagem
Minha ideia era dedicar a coluna deste mês à insistência do nosso país em silenciar tudo o que diga respeito aos indígenas – homens, mulheres e crianças que são descendentes dos povos originários desta terra que hoje se chama Brasil. A ideia era tratar de duas situações distintas, mas que comprovam como as violências contra as populações indígenas são múltiplas e se sobrepõem.
A primeira diz respeito à denúncia de um crime feita em 25 de abril: uma jovem yanomami de 12 anos teria sido estuprada até a morte por garimpeiros que invadiram ilegalmente a região de Waikás, em Roraima. Na realidade, o estupro seguido de morte não teria sido o único crime cometido pelos garimpeiros naquele dia, que também teriam lançado no rio uma criança de 3 anos.
Ainda que o grau de violência desses atos seja indivisível, ou justamente por causa disso, era de se esperar que a grande mídia parasse o quer que estivesse fazendo para não só denunciar, como exigir as medidas cabíveis dos órgãos responsáveis pela Justiça brasileira. Mas, o que tivemos, foram algumas matérias, de veículos mais progressistas, que denunciaram o ocorrido, sem que houvesse qualquer repercussão mais forte. Afinal, tratava-se apenas uma jovem yanomami supostamente estuprada até a morte e de uma criança da mesma etnia jogada num rio em Roraima… Se a situação tivesse acontecido em algum bairro da zona Sul do Rio de Janeiro ou da zona oeste de São Paulo com jovens e crianças brancos e de classe média, talvez a dor fosse maior.
Menos de um mês depois, no dia 17 de maio, a antropóloga Sandra Benites enviou uma carta de demissão ao Museu de Arte de São Paulo (Masp) – um dos mais importantes museus brasileiros. Ela era curadora adjunta do museu e estava assinando sua primeira exposição autoral na instituição. E mais: Benites foi a primeira curadora indígena do país, o que fazia do projeto que estava organizando algo muito maior do que ela e o próprio Masp.
No entanto, as instâncias superiores do museu decidiram excluir um conjunto fotográfico que comporia a exposição. De acordo com o Masp, a solicitação das fotografias havia ocorrido fora do prazo estipulado – prazo este que nunca foi devidamente comunicado justamente à curadora da exposição. Poderia até se tratar de um problema de comunicação, não fosse o pequeno detalhe de que as fotografias excluídas eram sobre pessoas ligadas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e fariam parte de um núcleo expositivo intitulado "Retomadas".
O recado estava dado: exposição assinada por indígena até pode (inclusive pega bem), mas indígena trazendo integrantes do MST para o centro da mostra "Histórias Brasileiras", aí já é demais!
Sandra Benites não se curvou aos limites que lhe impuseram e fez o que uma mulher indígena comprometida com uma agenda realmente transformadora poderia fazer: se desligou da instituição.
Mas, como eu disse, falar sobre os silenciamentos e assassinatos de indígenas brasileiros era a ideia original desta coluna. No meio do caminho, alguns policiais do Rio de Janeiro atacaram o memorial construído na favela do Jacarezinho em homenagem às pessoas mortas na mais letal chacina da história da cidade – um memorial que, vale dizer, também homenageava um dos policiais mortos. Uma ação covarde, sem nenhuma validação legal, e que nos lembra de como o controle da memória também é uma forma de exercício de poder. E que, muitas e muitas vezes, esse exercício se dá de forma violenta.
Só que no Brasil, tragédia pouca é bobagem. Não basta destruir memoriais e tentar controlar o que se lembra e o que se busca esquecer. A violência não tem limites.
Na terça-feira, a polícia do Rio de Janeiro protagonizou mais uma chacina numa favela, agora na Vila Cruzeiro, deixando 23 mortos. Uma ação que vem sendo retratada pela grande mídia como uma operação planejada pelo estado do Rio de Janeiro, na qual algumas baixas já eram esperadas. A mesma mídia que, vale dizer, não deu à mínima para a denúncia do assassinato da jovem yanomami.
Na quarta-feira, exatamente dois anos depois que George Floyd foi assassinado por policiais nos EUA, Genivaldo de Jesus Santos foi morto por asfixia pela polícia rodoviária em Sergipe
Pode parecer que não, mas todos os casos aqui descritos fazem parte de um mesmo sistema de poder, que historicamente organiza o Brasil. E o nome dele é RACISMO. A vida de pessoas não brancas, a memória de pessoas não brancas, a autoria de pessoas não brancas continua tendo pouco ou nenhum valor. Enquanto não tomarmos o racismo pelo tamanho que ele tem, o antirracismo continuará podendo ser tomado como uma ação piedosa e arbitrária – sujeita aos modismos de época – de quem goza os privilégios gerados pelo próprio racismo.
O bicho invisível
Surpreso? Claro. Sempre fui classificado como um sujeito frouxo e, por isso, exagerado na luta contra a COVID. Tomei as quatro doses das vacinas; álcool gel do bolso para as mãos; máscara no rosto até para caminhar na Jaqueira, contrariando a função do ar livre que dispersa, segundo os cientistas, a formação da quadrilha virótica.
Medo? Sim, todos os medos, e uma questão de princípio: a paz, detesto brigar, imagine, brigar com quem não vejo, o bicho invisível chamado vírus. Fui confortado pela voz carinhosa de médicos, parentes e amigos. “Tranquilo, vacinado, sintomas leves – diziam os mais afoitos, fortes ou corajosos – já tive”. Tradução: amigo, disso você não morre. Mas seguirei “exagerado”.
Na melhor intenção, repasso a experiência: sintomas leves? Comparado a quê? Na média, uma garganta em chamas com saliva/sabor de gasolina e três noites em claro, acrescidas de severo congestionamento nasal, não é absolutamente nada, se comparado a problemas respiratórios, febre, e outros agravamentos dos quais os vacinados estão protegidos. Vivam as vacinas!
Nenhuma reclamação. Tenho consciência da minha situação privilegiada. Aí dói na alma a dura constatação de que a maior das pandemias – a pobreza extrema – é de natureza política. O corona dói e mata mais os que estão em situação de vulnerabilidade social. A ciência avança, a riqueza cresce mas seus benefícios são desigualmente distribuídos.
Quando olho para Davos, fica a impressão de que, nos últimos dois anos, nada mudou, senão desigualdades: 263 milhões de pessoas em extrema pobreza em contraste com 573 novos bilionários cujos patrimônios tiveram alta de 42% – aumento real de US$ 3,78 trilhões.
No famoso cantão suíço de Davos, a saúde dos ilustres participantes foi objeto dos cuidados preventivos em relação aos riscos da contaminação pandêmica. Todos foram submetidos a um esquema diário de testes e exames. O bicho invisível ataca, também, os poderosos.
Fica a lição. A dinâmica devastadora dos desastres globais exige profunda reflexão sobre destino da humanidade. Enfrentar o incerto e o desconhecido requer virtuosa convergência tal como se coloca o médico diante de uma doença misteriosa: com a ciência, sabendo que não sabe; com a consciência de que o humano é, por natureza, frágil; com a virtude da paciência que enxerga, dia após dia, a melhor maneira de superar desafios e solucionar problemas.
domingo, 29 de maio de 2022
Sufocados estamos
— Aprendi que as pessoas esquecem o que você disse, esquecem o que você fez, mas jamais haverão de esquecer o que você as fez sentir.
Wallison de Jesus é sobrinho de Genivaldo de Jesus Santos, o sergipano de 38 anos abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) numa estrada enlameada de Umbaúba. À luz do meio-dia, Wallison viu o tio levantar a camisa e erguer os braços, mostrando aos agentes não estar armado. Trazia consigo apenas os medicamentos para esquizofrenia que lhe permitiam viver em paz. Viu o tio ser derrubado à força, debater-se, ser imobilizado, amarrado e socado no camburão. Com a cabeça, o tronco e parte das pernas do tio enfiados na viatura, o sobrinho ainda viu que os pés e as canelas finas de Genivaldo impediam o fechamento da porta. Por fim, viu os agentes jogarem spray de pimenta e gás lacrimogêneo no interior do camburão. Lufadas de nuvens tóxicas puderam escapar pelas frestas do porta-malas. Genivaldo, não. Morreu de asfixia ali dentro.
O Brasil inteiro tornou-se testemunha desse crime hediondo graças aos vídeos feitos por moradores de Umbaúba, que a tudo assistiram em agonia, desespero, horror. E resignação diante de um poder sem freios. Como exigir que interviessem, que impedissem? Um dia antes, uma operação deflagrada pelo Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar do Rio, em conjunto com a PRF, havia deixado um rastro de pelo menos 23 cadáveres na Vila Cruzeiro, favela da Zona Norte da capital fluminense. Os relatos de execuções, torturas, tiros de fuzil no rosto dessa chacina cega por parte do Estado do Rio talvez já tivessem chegado a Umbaúba quando o tio de Wallison foi abordado. Como então não ter medo sendo apenas um cidadão civil e negro?
Vale lembrar que Genivaldo foi abordado e morto por dirigir moto sem capacete perto de sua casa. Alguma vez algum agente da PRF ou de outra unidade policial cogitou abordar o presidente da República pelas infrações que gosta de cometer país afora, em terra ou mar? Ou um único integrante de suas motociatas? A pergunta é simplória. Mas a brutalidade policial brasileira também é.
A jornalista Jeniffer Mendonça, do site Ponte Jornalismo, teve acesso ao primeiríssimo boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil de Umbaúba sobre a morte do sergipano. O documento é aterrador pelo que deixou de dizer e fazer. Os quatro policiais envolvidos nem precisaram prestar depoimento ao delegado Gustavo Mendes Ribeiro — foram ouvidos “informalmente” e, portanto, não estão citados nominalmente. A ocorrência, registrada como “morte a esclarecer, sem indício de crime”, fala em “crime de resistência” por parte de Genivaldo, “desobediência às ordens” e necessidade de “algemação para resguardar a integridade física dos policiais envolvidos”. Outro documento, um boletim interno da PRF divulgado pelo Intercept Brasil, com o depoimento e a identidade dos quatro agentes, atribui a morte do abordado a “uma fatalidade desvinculada da ação policial legítima” e “mal súbito”.
O Brasil está reduzido a picos de indignação, em intervalos cada vez menores. Está difícil respirar diante da sucessão de barbáries nacionais. Mas proclamar indignação a peito aberto, mesmo com sinceridade e arrojo, é fácil, quase uma desculpa. Difícil e trabalhoso é o caminho do combate diário por algum sentido coletivo de humanidade no Brasil bolsonarizado. Sem jamais esquecer o que este governo e seus acólitos nos fazem sentir.
Campos de detenção: Técnica utilizada após a Segunda Guerra Mundial ressurgiu, agora na Ucrânia
E foi a partir dessa mesma conta que Todorashko explicou como a mãe terá sido capturada por russos quando estava em sua casa. “Tiraram-na de casa com um saco de plástico na cabeça, amarraram as suas mãos nas costas e levaram-na para a Rússia”, contou, referindo que a mãe foi transportada para um centro de detenção, onde foi espancada e torturada, inclusive com choques elétricos. “Posso matar-te aqui mesmo e sair impune”, disse-lhe um oficial russo, de acordo com Todorashko.
A mãe de Anzhelika já conseguiu escapar do “inferno”, como descreve a jovem, após ter sido feita uma troca com russos sequestrados, mas agora é a sua irmã gémea que está desaparecida, tendo sido, segundo Anzhelika, levada para cativeiro russo no fim do mês passado da mesma forma que a mãe.
Tal como as familiares Todorashko, milhares de ucranianos têm sido levados para território russo, um número que, a 21 de abril, Volodymyr Zelensky dizia já ter chegado aos 420 mil, apesar de ainda não ter sido oficialmente confirmado. Já Sergei Lavrov, ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, garantiu, a 30 de abril, que mais de um milhão de civis ucranianos teriam sido, até esse momento, deportados para a Rússia.
Muitos deles têm passado por centros de detenção, ou filtragem, tal como foi utilizado pelo Exército Soviético após a II Guerra Mundial, assim escreve o The Economist, criados no final da Segunda Guerra Mundial após a libertação de milhões de sobreviventes soviéticos dos campos de concentração nazi. Com medo de que os mais recentes libertos pudessem ter sido sujeitos a influências exteriores liberais, os militares soviéticos forçaram cerca de 5 milhões de pessoas ao repatriamento na União Soviética e, pelo caminho, a maioria passou por esses campos de detenção criados pelos serviços secretos russos.
Nesses locais, as pessoas foram submetidas a um processo muito rigoroso de filtragem, com interrogatórios que pretendiam perceber se os ex-prisioneiros estavam, de alguma forma, a seguir uma ideologia anti-soviética. De acordo com o jornal, quase 300 mil foram para os gulags, campos de trabalhos forçados criados nos anos 30 que seriam o destino de qualquer pessoa que se opusesse ao regime na União Soviética.
Mais tarde, nos anos 90, durante os conflitos armados entre russos e chechenos, primeiro de 1994 a 1996 e depois em 1999, milhares de chechenos também foram levados para estes campos de detenção, tendo sido torturados. Muitos desapareceram e não se descobriu mais o seu paradeiro. O mesmo cenário assustador verifica-se agora, em 2022, com a Ucrânia a acusar a Rússia de levar milhares de cidadãos ucranianos de cidades destruídas pela guerra para centros deste género, para depois os levarem para a Rússia.
A Rússia afirma que as deportações são voluntárias e positivas e o meio de comunicação pro-Kremlin Rossiyskaya Gazeta refere-se a estas pessoas como refugiados, acrescentando que o objetivo é “prevenir que ucranianos nacionalistas se infiltrem na Rússia” – em referência a cerca de 5 mil cidadãos ucranianos que terão sido levados para Bezimenne, uma vila perto de Mariupol controlada pelos russos. Testemunhas disseram, segundo o The Economist, que estes civis foram fotografados e forçados a entregar os seus documentos e telemóveis, antes de serem interrogados e deportados para a Rússia. Também há testemunhos de torturas e assassinatos levados a cabo pelas forças russas, diz o mesmo jornal.
Antes de a guerra ter começado, no final de fevereiro, foi enviada uma carta à ONU pelas autoridades norte-americanas, em que era referido que a Rússia tinha preparado uma lista com nomes de ucranianos que deviam ser capturados ou assassinados caso houvesse uma uma invasão à Ucrânia. Nesse documento, os EUA falavam de uma potencial “catástrofe de direitos humanos”. “Também temos informação confiável de que as forças russas usariam medidas letais para dispersar protestos pacíficos ou de alguma forma contra-atacar o exercício pacífico da resistência de populações civis”, dizia também a mensagem enviada à Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.
Em março, a deputada ucraniana Inna Sovsun já tinha afirmado que “o Gulag” tinha sido “restaurado” e várias fontes oficiais ucranianas denunciavam que “milhares de residentes” estavam a ser capturados e levados à força para lugares remotos na Rússia. Ainda segundo a comissária para os Direitos Humanos do Parlamento ucraniano, Lyudmyla Denisova, existem pelo menos quatro campos de detenção em atividade nos arredores de Mariuopl e a Organização de Segurança e Coordenação Europeia (OSCE) afirma que há provas de que estão a ser detidos civis no sul e leste da Ucrânia, sendo depois sujeitos a “interrogatórios brutais à procura de supostas ligações ao Governo ucraniano ou meios de comunicação independentes”.
Militares querem bolsonarismo até 2035
Três institutos com forte presença militar lançaram na última semana o documento “Projeto de nação, o Brasil em 2035”, um plano de militares alinhados ao governo Bolsonaro para governar o Brasil por mais três mandatos presidenciais. O projeto foi coordenado pelo general Rocha Paiva, ex-presidente do grupo Terrorismo Nunca Mais, e contou com a revisão do general Mendes Cardoso, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no governo FH, do general Santa Rosa, ex-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos de Jair Bolsonaro, do embaixador aposentado Marcos Henrique Camillo Cortes e do professor Timothy Mulholland, ex-reitor da UnB. A cerimônia de lançamento oficial contou ainda com a presença do vice-presidente, o general Hamilton Mourão.
O projeto é uma espécie de plano de ação para os próximos mandatos presidenciais —esperando um governo Bolsonaro 2, seguido de outros dois de um sucessor, como fez Lula. O documento é um vislumbre da visão de mundo dos militares bolsonaristas.
Um dos aspectos mais preocupantes do projeto é que ele está tomado, do começo ao fim, pelo modo de pensar conspiratório, “antiglobalista” e “antiesquerdista”. “Globalismo” é definido no documento como o movimento internacionalista da elite financeira mundial para controlar nações e cidadãos por meio de intervenções autoritárias disfarçadas como socialmente corretas. O interesse dos “globalistas” seria transferir a soberania dos Estados a grandes potências, organismos internacionais e ONGs, para que esses atores possam decidir melhor sobre temas complexos como meio ambiente e direitos humanos. Por isso o projeto se propõe a conter o avanço do “globalismo”, com um grande esforço de conscientização nacional. A luta contra o “globalismo” é ideológica.
Também é ideológica a luta contra a esquerda, vista como a principal responsável pelas mazelas da educação brasileira, com a pregação facciosa e ideológica de professores radicais. Seria deles a culpa pelo subdesenvolvimento e pela baixa produtividade brasileira. Nada que não se resolva com civismo, disciplina e bons valores morais. Afinal, ideológicos são os outros.
A ideia paranoica de que uma elite financeira “globalista” quer controlar o Brasil por meio da ONU e das ONGs permite resolver a contradição entre duas filiações ideológicas contraditórias do documento, o nacionalismo e o liberalismo. Como em nenhum momento o projeto é propriamente nacionalista — defende a cultura, os empregos ou a indústria nacionais — e, ademais, em termos econômicos, enfatiza sempre uma abordagem bastante liberal, é com o combate ao “globalismo” que afirma seu nacionalismo, ainda que numa chave conspiratória.
O liberalismo aparece na defesa da flexibilização da entrada de capital estrangeiro no país para gerar emprego e renda, mas é aberta uma exceção para garantir o capital nacional na agricultura, dada sua “alta relevância estratégica”. Ficamos sem entender por que não seriam também estratégicos os setores de energia, infraestrutura ou comunicações —e fica a desconfiança de que o protecionismo ao agro é apenas para retribuir seu tradicional apoio ao conservadorismo.
No documento, chama a atenção também aquilo que pouco aparece ou fica de fora. Embora as principais tarefas do Estado brasileiro — pelo menos se medidas pelo gasto público —sejam o SUS, a Previdência e a educação, o projeto não tem nada de muito relevante a dizer sobre eles. O documento não pensa os inúmeros desafios para pôr fim à evasão no ensino médio ou ampliar a cobertura da rede de saúde. Apenas insiste na ideia boba de cobrar pelo atendimento no SUS e para cursar as universidades federais. Há um capítulo inteiro sobre defesa cibernética, mas não há palavra alguma sobre os programas de transferência de renda que são nosso principal instrumento de combate à pobreza extrema.
O documento mostra como os militares que se lançaram na política estão tomados de ideias paranoicas “antiglobalistas” e anticomunistas, mas, quando se trata de gerir o Estado brasileiro, não têm um plano de ação que pare de pé. Seu “Projeto de nação” é uma mistura de delírio ideológico com amadorismo na gestão das políticas públicas.
Cerrar fileiras para uma guerra longa
 |
| Galym Boranbayev |
Em apenas três meses, tudo mudou radicalmente. Um novo mapa de segurança começa a ser formado no espaço europeu e é exatamente o contrário daquele que Putin pretendia, quando mandou as suas tropas avançar pela Ucrânia adentro, na madrugada de 24 de fevereiro. A NATO prepara-se para ser reforçada com a entrada da Suécia e da Finlândia, dois países com uma longa história de não alinhamento militar. A concretizar-se, a Aliança Atlântica irá duplicar a extensão das suas fronteiras terrestres com a Rússia, passando de 1 215 para 2 555 quilómetros.
Ao mesmo tempo, a União Europeia conseguiu, nestes meses críticos, dar provas de uma unidade que muitos consideravam impossível de alcançar, depois da crise do Brexit, das ameaças extremistas e da reeleição de Viktor Orbán, na Hungria. Perante a ameaça de um inimigo russo que se recusa a jogar o jogo do Direito Internacional, a União Europeia ganhou um novo alento e a atenção mundial: voltou a ser vista como o maior espaço de liberdade e de respeito dos direitos humanos, admirada pelas suas regras de livre comércio e circulação de pessoas, e até como lugar de acolhimento de refugiados.
Mesmo no dossier difícil da energia, com alguns países da Europa Central totalmente dependentes dos combustíveis russos, a Europa tem conseguido manter um mínimo básico de unidade, o que surpreendeu Putin – que terá sobrestimado o poder dos seus oleodutos e gasodutos. Afinal, apesar das posições mais radicais da Hungria e das cautelas da Alemanha, a Europa tem dado passos firmes para se libertar da dependência energética da Rússia, porventura mais cedo do que muitos esperariam – até porque não existe alternativa. A decisão de Putin de suspender o fornecimento de gás à Polónia e à Bulgária – por, alegadamente, os dois países se recusarem a pagar em rublos – acaba por ser um aviso, aos restantes “clientes”, de que não podem confiar no jogo de Moscovo e que, portanto, precisam de diversificar, com urgência, a origem do fornecimento de combustíveis e de procurar novas fontes de energia – de preferência, já agora, mais “limpas” e amigas do ambiente.
Não obstante todas estas manifestações de unidade no espaço europeu – algumas delas inéditas nos últimos séculos de História –, convém manter alguma prudência acerca do desfecho do conflito. Em termos militares, da mesma maneira que se sobrestimou, no início, a capacidade das Forças Armadas russas, convém agora também não as subestimar, nem a elas nem à sua capacidade de manterem a ocupação em certas partes do Donbass e na Crimeia, apesar das sanções ocidentais e do fornecimento de mais armamento à resistência ucraniana. Isto indica que o conflito poderá prolongar-se por muito tempo, já que a União Europeia, por exemplo, insiste em que nunca reconhecerá qualquer metro de terreno conquistado pelos russos, na Ucrânia, e daí a necessidade atual de cerrar fileiras.
No entanto, apesar das demonstrações de unidade europeia e do “renascimento” da NATO, não se pode afirmar que o mundo está todo unido contra a Rússia. Segundo a insuspeita Economist Intelligence Unit, cerca de dois terços da população mundial vive em países que, até ao momento, se mostram oficialmente neutros, recusando aplicar sanções a Moscovo – o que inclui Estados insuspeitos de serem autocracias, como a África do Sul, o Brasil ou a Índia, bem como um membro fundamental e importante da NATO, a Turquia. No contexto de uma ordem global, muitos países continuam a não querer escolher um lado. Preferem esperar para ver o que irá acontecer, qual o equilíbrio de forças que resultará do conflito, do que vai ser da posição da China e o que acontecerá na Rússia – que, como é evidente, não vai desaparecer do mapa. Também não são de excluir muitas convulsões, por todo o planeta, devido à escassez de alimentos, com efeitos perversos: já que a “culpa” irá ser dividida entre a “invasão de Putin” e as “sanções” impostas pelos países ocidentais. Os choques vão continuar.
sábado, 28 de maio de 2022
Esperanças e utopias
José Saramago, "O caderno"
O eclipse visto pela ciência e pelos índios
Testemunhamos um eclipse lunar no dia 15 deste mês, com ápice na madrugada do dia 16. Ele me levou ao ano de 1961, quando, em 26 de agosto, meu companheiro Julio Cezar Melatti (hoje professor emérito da Universidade de Brasília) e eu — ambos na casa dos 20 anos — éramos iniciados no trabalho de pesquisa antropológica e sérios, mas inocentes, tentávamos compreender o estilo de vida de “índios” regionalmente chamados de gaviões, um grupo de língua jê timbira, na Amazônia paraense.
A Wikipédia informa que “o eclipse lunar de 26 de agosto de 1961 foi um eclipse parcial, o segundo e último de dois eclipses lunares do ano. Teve magnitude penumbral de 1,9330 e umbral de 0,9863. Duração total de 186 minutos. A Lua estava quase coberta pela sombra da Terra num eclipse parcial muito profundo, que durou três horas e seis minutos. Com 99% da Lua na sombra no eclipse máximo, foi um evento memorável. (...) Também coincidiu com o perigeu lunar, ponto mais próximo da Terra, deixando a Lua Cheia cerca de 14% maior e um pouco mais brilhante que no apogeu. Ou seja, o eclipse parcial se deu com uma superlua”.
Tal é a linguagem “científica” do fenômeno. Eis, entretanto, o que ouvi dos nativos e transcrevi no meu diário de campo:
— A outra grande experiência — escrevi — foi um eclipse da Lua. Já estávamos dormindo, quando fomos acordados por Pembkui, que, como toda a aldeia, dizia que Katire (Lua) havia morrido! Quando ela chegou na minha rede, falou em tom patético: “Lua morreu!”. Imediatamente me levantei e comentei com os homens que, ao que parece, esperavam minha opinião. Quando notaram que concordava, Apororenum e Kaututere saíram de casa e, ao lado dos outros, com achas de lenha cujas pontas estavam em brasa nas mãos, cantaram e oscilaram as achas incandescentes em direção à Lua. Eram canções que chamavam a Lua zangada Lua de volta — (hoje vou ver se tomo nota da letra); e, quando tudo acabou, Kaututere prometeu caçar para Katire muito porco, veado, anta e outros animais... Apororenum explicou que, se a Lua morrer, tudo morria, pois, no escuro, sem Sol e Lua, eles comeriam gravetos. O fogo não acenderia e não haveria caça, pois, sem luz, nós ficamos igual a Megaron (alma dos mortos). Hoje vou me aprofundar mais. O fato é que foi uma experiência fabulosa. Depois fomos dormir e de madrugada acordei novamente, desta vez com o maracá e a cantiga de Apororenum. Hoje vou caçar para Katire.
Eis, num texto telegráfico, duas visões de um eclipse e um exemplo de como o humano engloba tudo entre os “índios”.
Esse englobamento de Lua e Sol, bem como de estrelas, pelo cultural tem inspiração no trabalho de Viveiros de Castro, cuja obra tem posto no devido lugar a oposição entre natureza e cultura de modo antropológico — relativizando a dualidade que nós, ocidentais, exceto no plano religioso, tomamos como absoluta.
O notável na minha memória dessa extraordinária experiência foi descobrir que a Lua, como o Sol, tem dimensões humanas. A Lua zangada foi a causa do eclipse. E, conforme minhas pesquisas ulteriores entre os timbiras mostraram, Sol e Lua formam um par criativo do mundo.
Desde os anos 1930, quando um etnólogo alemão chamado Curt Nimuendajú viveu com os canelas do Maranhão e os apinayés do Tocantins, sabemos da polarização produtiva entre Sol e Lua, que, além de serem masculinos para eles, têm um elo parecido com o que temos com nossos doadores de mulheres, nossos afins: um elo que permite confiar e desconfiar.
Desse modo, Sol faz e Lua desfaz; mas, diferentemente das polarizações negativas, Lua também faz e Sol desfaz... Sol fez pessoas bonitas e saudáveis, Lua as fez feias e doentes. Quando Sol reclamou, Lua mostrou que um mundo sem diferenças seria um Universo vazio de sentido.
Sabemos que é impossível olhar para o Sol. Já a Lua tem fases. Com mais espaço, poderia facilmente ligar isso a nosso sistema político, cujo dualismo é ranzinza e traiçoeiro. Aqui, porém, temos um exemplo em que os opostos são necessários e positivos.
Roberto DaMatta
Chega de falar, é hora de agir
As pessoas mais poderosas do planeta, reunidas nos Alpes suíços, concordam com isso. Mas não se resolve crises apenas com conversas. É claro que é necessário intercâmbio entre política, negócios e sociedade civil. É bom que haja diálogo. Mas o Fórum Econômico Mundial de 2022 deve ser o início da ação, e aqui estão os pontos mais urgentes:
Os grãos da Ucrânia precisam voltar a ser exportados. Vinte milhões de toneladas de trigo estão apodrecendo em armazéns ucranianos. Os grãos são necessários para alimentar a população mundial. A Ucrânia fornece cerca de 28% do trigo comercializado no mundo, e a próxima colheita, apesar das difíceis circunstâncias atuais, já amadurece nos campos.
Luc Vernimmen (Bélgica)
Trens e caminhões adicionais devem ser providenciados para transportá-lo. E o presidente russo, Vladimir Putin, precisa permitir essas exportações. Isso significa que uma pressão maior deve ser exercida sobre ele e seu regime. Se isso fracassar, milhões de pessoas em todo o mundo passarão fome ou até morrerão.
As sanções contra o agressor russo devem entrar em uma nova fase. As exportações da Rússia precisam ser massivamente dificultadas. Não deveria ser possível para o país continuar sua guerra de agressão enquanto se beneficia do aumento dos preços da energia.
O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, quer limitar o preço do petróleo incentivando os países consumidores a formar um cartel global, o que atingiria duramente a Rússia. A ideia é boa. Afinal, não há problema de abastecimento, há simplesmente um problema de distribuição. Deve-se trabalhar imediatamente para definir como implementar isso. Sem mais longos debates, por favor.
A União Europeia precisa de um plano de contingência bem antes do início do inverno. A guerra na Ucrânia fez com que os preços da energia já extremamente altos em todo o mundo subissem ainda mais. Cada vez mais indivíduos não podem pagar suas contas de luz. As empresas estão tendo que reduzir a produção. A Europa pode sofrer apagões no próximo inverno. Cortes de energia longos e generalizados afetariam toda a infraestrutura crítica – saúde, telecomunicações, abastecimento de água, apenas para citar alguns.
Uma potencial recessão deve ser combatida com uma intervenção estatal inteligente. Em Davos, a chefe do FMI, Kristalina Georgieva, chocou os participantes ao relatar que as perspectivas de crescimento de 143 de seus países-membros haviam sido rebaixadas. Menos crescimento significa menos bem-estar. A guerra na Ucrânia, o dólar em alta e o encolhimento da economia da China devido à pandemia são as principais causas.
E agora, como seguir? O pior a se fazer é esperar a recessão chegar, é preciso combatê-la logo no início! Com cortes nos impostos, programas estaduais de apoio à proteção climática ou investimento em infraestrutura digital. Economizar agora é o caminho errado.
Um Plano Marshall para a Ucrânia deve ser elaborado e implementado rapidamente. Cidades estão destruídas, assim como infraestruturas importantes. Ninguém sabe quanto tempo a guerra vai durar. Mas o futuro do país deve ser garantido agora. Com investimentos em reconstrução, construção de novas casas e vias de transporte.
Não deve haver qualquer hesitação. Porque a Ucrânia precisa dessa ajuda agora, e a população precisa de perspectivas para o futuro. A luta deles contra o agressor russo é também uma luta a favor dos valores ocidentais, da democracia e do direito à autodeterminação dos Estados soberanos.
Que bom que alguns cenários de crise foram discutidos no Fórum Econômico Mundial. E que bom que políticos, empresários e todos os outros têm condições agora de agir rapidamente. Se não o fizerem, o mundo mergulhará em sua pior crise desde a Segunda Guerra Mundial.
Manuela Kasper-Claridge
Faltavam apenas as câmaras de gás
Por um lado, os mais cautelosos e os apoiadores do governo nos acusam de assimetria, de estarmos fazendo comparações com o incomparável. Dizem que os horrores perpetrados por Bolsonaro não se aproximam do que os nazistas fizeram. Nos perguntam: “se Bolsonaro é nazista, onde estão as câmaras de gás?”
Por outro lado, os opositores do governo por vezes exageram nas comparações, dizendo que Bolsonaro é até pior do que Hitler. E muitas vezes arrematam: “faltam apenas as câmaras de gás”.
O que aconteceu esta semana em Sergipe, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal mataram Genivaldo de Jesus Santos (negro, pobre e com transtornos mentais) sufocado responde, mais literalmente do que simbolicamente, as aspas acima: as câmaras de gás já se fazem presentes.
As câmaras de gás como ferramenta da indústria da morte foram implementadas pelo governo nazista alemão nos chamados Campos de Extermínio. Elas tinham o intuito de acelerar as execuções e, ao mesmo tempo, economizar recursos gastos com munição. As câmaras, que inicialmente funcionavam canalizando o escapamento de veículos para sufocar as vítimas com monóxido de carbono e depois passaram a usar um pesticida chamado “Zyklon B”, foram a causa da morte, apenas em Auschwitz, de cerca de 1 milhão de judeus, mais dezenas de milhares de ciganos e prisioneiros de guerra soviéticos. Belzec, Sobibor e Treblinka foram outros campos que também utilizaram câmaras de gás, nos quais estima-se que mais 2 milhões de judeus tenham sido mortos.
É por conta do uso de uma espécie de câmara de gás pela Polícia Rodoviária Federal, que o assassinato de Genivaldo nesta quarta-feira em Sergipe carrega um simbolismo tão forte. A tortura, o sufocamento e finalmente a execução, escancaram um discurso que o presidente incorporou desde antes de subir ao poder: a banalização da morte de alguns – daqueles que valem menos, que não se encaixam na mentalidade eugenista, seletiva e preconceituosa deste governo. Cabe lembrar que os primeiros mortos pelo regime nazista foram, precisamente, as pessoas com deficiência.
Pode-se argumentar sobre o caráter genocida intencional ou não do governo brasileiro. Mas o fato é que os nossos atuais mandatários têm simpatia pela morte, sobretudo daqueles que, na visão deles, não agregam – ou atrapalham – à sociedade.
A pandemia da Covid-19 acelerou a rotina de morte e evidenciou essa simpatia. Os membros do governo que manifestaram alguma solidariedade às vítimas foram escanteados e/ou perderam seus cargos. E, enquanto a doença matava 10, 100, 300, 600 mil brasileiros – indígenas e os mais pobres em uma proporção maior – Bolsonaro debochava da “gripezinha” e vociferava contra aqueles que tentavam de alguma forma proteger as suas populações.
Com o arrefecimento da letalidade da pandemia veio à tona uma outra ferramenta de massacre, já conhecida pelos mais pobres e mais frágeis e potencializada pelo sentimento bolsonarista: a truculência assassina da polícia.
A violência da polícia, sobretudo contra determinados grupos, não é novidade no Brasil. É comum lermos que “temos a polícia que mais mata e a que mais morre”. A prática de assassinatos injustificados e em situações mal explicadas e misteriosas sempre ocorreu. A diferença, perigosíssima, vem do discurso decorrente. E no discurso também reside o fascismo.
No último ano vimos a perpetração dos dois maiores massacres da história da polícia no Rio de Janeiro: a chacina do Jacarezinho, que matou 28 pessoas e o massacre do começo desta semana na Vila Cruzeiro, cuja contagem de corpos, até o momento, chega aos 26 (esta segunda com a participação, não apenas da Polícia Militar, mas também da Polícia Rodoviária Federal – a mesma que matou Genivaldo sufocado).
Independente do contexto, quando mais de 50 pessoas, cidadãos brasileiros, morrem pelas mãos da polícia, a utilização do termo “confronto” é inverossímil. Trata-se de massacres.
Quanto aos discursos decorrentes, eles mostram o incentivo assustador e o prazer sádico, por parte de Bolsonaro, seu governo e seus seguidores, ao que vem ocorrendo. Bolsonaro comemora, celebra a ação dos policiais, chama todos os mortos de bandidos e merecedores do destino que tiveram. Nas redes sociais os seguidores do presidente esbravejam, chamam de “defensores de bandido” aqueles que lamentam a ação policial, celebram os “CPFs cancelados”, vibram com o sangue derramado e dizem que Bolsonaro é um macho patriota limpando o país, defendendo a família e os valores de Deus. É esta a diferença. Este é o discurso que evidencia que estamos sob comando de fascistas.
O constante ufanismo, o nacionalismo falso e hipócrita, o desdém claro por direitos humanos, a idolatria aos militares – sobretudo quando eles matam – geralmente associada ao culto à masculinidade, são o fascismo. E, neste sentido, a polícia é alçada ao mesmo tempo a protagonista e a bode expiatório, sendo o músculo executor, o órgão que transforma as ideias do fascismo em ações fascistas.
A manipulação através dos grupos de Whatsapp, Telegram, Facebook convence os apoiadores, a proximidade bizarra entre o governo assassino e valores religiosos aproxima os crentes desiludidos e desavisados. Os ataques àqueles que tentam defender minorias esquecidas e o desprezo por nossos artistas e intelectuais (como fez o ex-Secretário da Cultura, Roberto Alvim, de forma explícita em sua alegoria de Goebbels com Wagner) traz regozijo, e o discurso demagógico anticorrupção, enquanto vemos evidências claras de corrupção eclodindo quase que diariamente, ilude. Isso é, na essência mais pura, o fascismo.
O intuito deste artigo não é chamar a polícia de fascista. Pelo contrário. As forças policiais e de segurança pública têm a missão de servir e proteger a população. No entanto, infelizmente, estas forças policiais são o reflexo de uma cultura que desumaniza, e hoje servem, sim, a um líder fascista. E precisam entender que estão sendo usadas por este líder para promover o genocídio do pobre, do negro, do indígena.
Temos a certeza de que tiraremos Bolsonaro do poder nas eleições de outubro. Mas, infelizmente, acabar com a ideologia fascista que ele ajudou a plantar será muito mais difícil.
quinta-feira, 26 de maio de 2022
As Forças Armadas e o momento político nacional
Não afastando a possibilidade de contestação dos resultados da eleição e de um golpe de Estado, o militar apontou para o risco de confrontação no interior das Forças Armadas (FA) e a eventual quebra da hierarquia para respaldar essa diferente visão. Todos os militares juram respeitar a Constituição, mas numa eleição contestada, com lealdades divididas, alguns poderão seguir as ordens do comandante-em-chefe e outros, o comando trumpista. Como exemplo, mencionou a recusa da Guarda Nacional em acatar pedido do presidente Biden para que todos os seus membros se vacinassem. Com o país muito dividido, as FA e o Congresso deveriam tomar medidas para prevenir qualquer tentativa de insurreição e adotar providências cautelares, observou.
O alerta do militar norte-americano sobre a ameaça à quebra dos valores democráticos nos EUA, a partir de uma ação política das FA, não poderia ser mais atual para o cenário político brasileiro. A descrição feita pelo militar muito se assemelha a uma série de atitudes que colocam as FA brasileiras no centro do debate político nacional.
A gradual profissionalização das FA nos últimos 35 anos está sendo testada nos dias que correm. No atual governo, surgiu uma situação diferente dos governos anteriores desde 1985. Desde o período de governos militares, nos últimos 30 anos, podem ter surgido tensões esporádicas, mas atualmente elas se acentuaram a partir da participação de grande número de militares da ativa e da reserva em cargos públicos no governo federal. A crescente exposição dos militares no governo, com acusações de corrupção, de ameaça à democracia e de contestação das urnas eletrônicas e das ações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), está causando um forte desgaste à imagem pública das Forças Armadas. Os acontecimentos do 7 de setembro, com o silêncio eloquente dos comandantes militares, contudo, reafirmaram o papel profissional e constitucional das FA. A politização das Polícias Militares estaduais preocupa, em especial se apoiarem pessoas armadas, não militares, passíveis de reforçar um movimento de apoio ao presidente, porque poderão se chocar com as FA.
Nas últimas semanas, afirmações de que as Forças Armadas não assistirão passivamente ao pleito, de que as FA deverão fazer apuração paralela da votação, por questionar o sistema de urnas eletrônicas e a lisura das apurações (auditoria privada), e o pedido do ministro da Defesa para a divulgação das sugestões de aprimoramento da eleição apresentadas pelos militares, sobre a função das FA (“o permanente estado de prontidão das Forças Armadas para o cumprimento de suas missões constitucionais”) parecem reforçar a ideia de que as FA poderiam desempenhar um papel de poder moderador, à luz do artigo 142 da Constituição, quando, na realidade, não há uma nova missão para as Forças Armadas além daquela definida pela Carta Magna, como decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).
Apesar da dubiedade de afirmações sobre a preservação da democracia, sobre eleições conturbadas, sobre ato de força que ponha em risco as instituições (“só Deus me tira daquela cadeira”) e parcialidade do TSE, não há sinais de que as FA, como instituição, poderão se engajar numa aventura que ameace as eleições e a democracia. A discrição da maioria das lideranças militares, em especial do Alto Comando, parece indicar que os militares deverão se manter dentro de seu papel de instituição de Estado, profissional, sem interferência política em apoio de partidos ou grupos políticos ou em decisões tomadas pelas instâncias civis competentes.
Assim, não me parece haver ameaça à realização das eleições nem ações violentas antes de 2 de outubro, mas o roteiro que está sendo traçado indica que, dependendo do resultado da eleição, é real o risco de, no dia 2, haver mobilização de grupos radicais, armados, para tentar atacar o STF ou o TSE, não o Congresso, como no caso dos EUA. De qualquer forma, a sociedade civil, o Congresso e as próprias Forças Armadas devem estar atentos e mobilizados para evitar qualquer tentativa de ameaça à democracia.
As eleições brasileiras estão despertando crescente atenção no exterior também pela presença dominante de dois políticos que, por razões diferentes, despertam fortes reações e apreensão sobre as perspectivas políticas e econômicas do País. A preocupação com a preservação da democracia e a condenação do autoritarismo estão muito presentes hoje num cenário de grande instabilidade global e de crescente confronto entre os dois regimes de governo representados pelos EUA e por China/Rússia.
Não tenho dúvida de que, se houver qualquer quebra das regras democráticas com o apoio das Forças Armadas, a reação vinda de fora será imediata e o Brasil poderá ser alvo de sanções econômicas e comerciais que, além de aumentar o isolamento internacional do País, afetarão ainda mais o crescimento e os setores mais dinâmicos da economia nacional.
Chamem Josué de Castro, que a fome voltou
- 'O primeiro direito do homem é o de não passar fome' -, ele disse, e sentou-se, exausto, sob palmas.
Pernambucano do Recife, onde nasceu em 1908, Josué foi a personalidade mais importante do século 20 no estudo da fome e na ação contra suas consequências. “Ele foi um gênio. Deveria ter um monumento em cada cidade do Brasil, porque é um dos maiores pensadores do século 20”, afirma o sociólogo suíço Jean Ziegler, relator da ONU para o direito à alimentação entre 2000 e 2008, professor da Universidade de Genebra e da Sorbonne e autor de vasta obra sobre a fome no mundo.
No momento em que o Brasil está sob ameaça de volta ao Mapa da Fome da ONU (da qual havia saído em 2014) e que o caso de uma criança que desmaiou de fome numa escola em Brasília ganha repercussão nacional, é momento de lembrar Josué de Castro. Na hora em que acaba de ser divulgado relatório da ONU mostrando que o flagelo voltou a aumentar no mundo após 10 anos, é hora de tornar a Josué de Castro.
Foi a partir de dois livros que o seu nome ganhou repercussão nacional e internacional. O primeiro, Geografia da Fome, de 1946, sobre o Brasil; o segundo, Geopolítica da Fome, de 1951, sobre a mesma questão, só que agora em escala mundial. “Este livro foi uma revelação para os europeus”, disse Jean Ziegler. O raciocínio que consolidara no Brasil, a partir da obra de 1946, ele expandia para o mundo: a causa da fome não se devia a caprichos da natureza, mas a -- vamos chamar assim -- caprichos da política.
“O autor brasileiro mais lido e comentado no mundo inteiro”, dizia matéria da Folha de S. Paulo (então chamada Folha da Manhã) na edição de 15 de setembro de 1951. “No pós-guerra, todas aquelas instituições criadas ao abrigo da ONU para melhorar o mundo tinham como guru máximo Josué de Castro”, atesta Ignacy Sachs, um dos principais pensadores da atualidade sobre o desenvolvimento sustentável.
Josué foi indicado quatro vezes para o Prêmio Nobel: em 1953, 1963, 1964 e 1965 (em todas, para o da Paz, segundo os arquivos da premiação. Alguns autores mencionam uma indicação para o de Medicina, mas esta não consta nos arquivos). Ganhou o Prêmio Franklin Roosevelt, da Academia de Ciência Política dos Estados Unidos e recebeu a Grande Medalha de Paris, quando teve seu trabalho comparado (pelo pioneirismo) ao de Pasteur e Einstein, dois outros cientistas que também haviam recebido a premiação.
Uma das principais características dele era que combinava a reflexão com a ação. Elegeu-se deputado federal por Pernambuco em duas ocasiões (1958 e 1962). Foi presidente da FAO (Organismo das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura), sendo o primeiro latino-americano a ocupar o cargo, no qual ficou por dois mandatos, de 1952 a 1956. Criou em 1957, junto com personalidades internacionais, a Associação Mundial de Luta contra a Fome (Ascofam), a primeira entidade internacional de combate ao problema, e presidiu a primeira Campanha de Defesa Contra a Fome, promovida pela ONU, em 1960.
O que Josué dizia já nos anos 1950/1960 permanece atual: o problema não é de falta de alimentos. Eles existem. O problema é o acesso das populações a esses alimentos. Voltemos ao sociólogo suíço, em entrevista a Leonardo Cazes, publicada na matéria cujo título tomei a liberdade de repetir neste meu artigo (“ ‘Uma criança que morre de fome hoje é assassinada’, diz Jean Ziegler”, O Globo, 13/07/13): “O relatório da FAO mostra que o número de vítimas cresce, mas que a agricultura mundial poderia alimentar normalmente, com uma dieta de 2,2 mil calorias por dia, 12 bilhões de pessoas. Então, uma criança que morre de fome hoje é assassinada. Fome não é mais morte natural. É massacre criminoso, organizado”.
Josué de Castro foi cassado pela ditadura na segunda semana do golpe civil-militar, em 9 de abril de 1964. Morreu em Paris, no exílio, de infarto, aos 65 anos, em 24 de setembro de 1973. Aquela frase que ele precisou arrancar da garganta, na solenidade em Helsinque, continua mais viva do que nunca: o primeiro direito do homem é o de não passar fome.