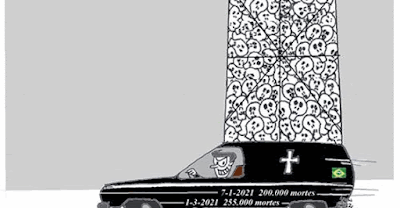A tragédia do Brasil atual extrapola até mesmo a máxima voltairiana: temos na Presidência alguém que não apenas acredita (ou finge acreditar) em absurdos, como ele próprio comete atrocidades em série. Seus áulicos contribuem ao cometer outros tantos, criam terreno fértil para a irresponsabilidade coletiva nacional, e o mundo digital explode num ódio de raiz. “Estão vacinando macaco antes de vacinar gente”, dizia a mensagem recebida pela primeira brasileira a tomar a vacina, Mônica Calazans. Entrevistada no “Globo Repórter” desta semana, a enfermeira negra contou que as mensagens de ódio foram múltiplas.
Impenetrável à razão e à civilização, essa turma acaba afetando os demais. Como resultado, estamos num país-cemitério que não dá conta de seus cidadãos ainda vivos e já enterrou mais de 252 mil contaminados pelo vírus. Talvez a causa mortis devesse ser atestada por inteiro: Covid-19 + falta de vacina + colapso do valente SUS + negacionismo oficial + roubalheira geral + inércia do Congresso + inadimplência moral +... A lista seria por demais extensa, se nominal. Na verdade, a desqualificação do general e titular da Saúde, Eduardo Pazuello, o torna quase inimputável, de tão aberrante. A seu abissal despreparo, soma-se uma deliberada intenção de desinformar e camuflar o pânico — como se fosse possível esconder 1 morto de Covid-19 por minuto, a cada dia. Incapaz de responder às perguntas mais gritantes da imprensa, Pazuello sobrevive à base de pronunciamentos e proclamações à nação, todas sem nexo.
Já o papel de Jair Bolsonaro na devastação humana atingiu um patamar sem volta. Será julgado pela História, o que não lhe importa. Ser condenado pelo Brasil pensante até o alimenta. E ser amaldiçoado por pais, filhos e netos, parentes e dependentes, amigos e colegas dos que não precisariam morrer parece lhe ser indiferente. O presidente é um humano esquisito. Parece feito de um material impermeável à dor alheia. “A verdade é que ninguém chega impunemente a presidente da República”, lascou o Stanislaw Ponte Preta em tempos mais inocentes. Bolsonaro consegue superar a verve de Sérgio Porto: além da sombria bagagem que trouxe para a Presidência, ensandeceu no poder.
Difícil explicar de outra forma sua live semanal da quinta-feira, 25. Naquele dia o Brasil ultrapassara a montanha de 250 mil mortos por Covid-19 em um ano e chegara ao patamar mais alto da contagem diária de óbitos: 1.582. Ouvir o presidente tagarelar sandices contra o uso de máscaras e o isolamento social, naquele seu tom informal salpicado de algo parecido com um ricto/riso, foi horrendo. Foi obsceno.
Dias atrás o crítico de arte do “New York Times” Michael Kimmelman evocou o impacto mundial de uma célebre mostra de fotografia do pós-Segunda Guerra para falar sobre a dificuldade de retratar a atual pandemia. Ele se referia à monumental exposição “The Family of Man”, inaugurada em 1955 no Museu de Arte Moderna de Nova York. Ela foi vista por 9 milhões de pessoas e circulou pelo mundo ao longo de 7 anos. O curador da mostra — ninguém menos que Edward Steichen — selecionara 503 imagens de 68 países para retratar a universalidade da experiência humana e o papel da fotografia na documentação da nossa história.
A família humana de hoje que sobreviverá à Covid-19 ainda não tem uma imagem-ícone capaz de traduzir o medo, o vazio urbano, o horror do isolamento afetivo, a falência física, a morte por asfixia, o silêncio. Não existe o instantâneo imortal do homem em queda das Torres Gêmeas em chamas, nem a foto do menino Alan Kurdi, inerte em areia estrangeira, como símbolo do drama dos refugiados. Do nosso inimigo comum, o vírus, temos apenas uma versão estilizada em forma de bola de tênis com pregos, como já escreveu Helen Lewis na revista “The Atlantic”. As máscaras e equipamento hospitalar radical das equipes médicas já faziam parte de nosso vocabulário visual como sinônimo de higiene e segurança. Não dão conta do recado. E Lewis insiste ser obrigatório encontrarmos a linguagem certa de retratar esta pandemia, porque precisamos relembrar coletivamente o que vivemos. Aguardemos.
A galeria de cúmplices do vírus, contudo, já tem seus nomes de ponta. Disporá de um farto portfólio do presidente brasileiro espalhando a morte.