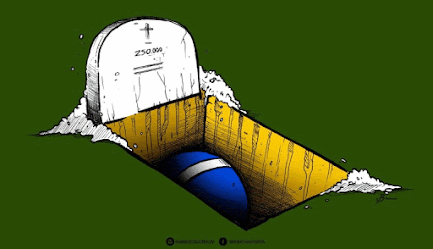sexta-feira, 26 de fevereiro de 2021
Um presidente que age como insano é a primeira vez
Desculpem voltar ao tema, mas não dá para segurar. O cara queria revogar a lei da oferta e da procura! Achava que os laboratórios de vacina disputariam a tapa o mercado brasileiro. Pagou mais caro e ficou no fim da fila de entregas. Exige da Petrobras a previsibilidade do dólar e do preço do barril de petróleo, que nem Mãe Diná garante. Mesmo sabendo que seria uma bomba no mercado, fez a estatal perder 100 bilhões de reais de seu valor, ao colocar na presidência mais um general, que entende tanto de petróleo quanto Pazuello de saúde. Feliz de quem soube antes e vendeu na alta e recomprou na baixa.
O homem disse, sem rir, que sempre tratou a imprensa “com cortesia e lealdade”, só queria dar um soco na cara do repórter que perguntou sobre os 89 mil do Queiroz na conta de Michele. Por ele, fecharia os jornais. E o tal do “mercado” também. Ele ameaça mais o capitalismo do que um governo de esquerda. Deu mais prejuízo à Petrobras que todas as ladroeiras da era Lula/Dilma.
O capetão (será erro de digitação, ato falho, piada ou justiça poética?) confia no respeito dos militares pela hierarquia: o chefe manda e eles obedecem. Talvez por isso tenha tantos militares submissos no governo executando suas ordens absurdas. Deve imaginar que, se sofrer um impeachment, os militares o apoiarão em um golpe “em defesa da liberdade”. A deles, é claro.
Suplicamos a nossos irmãos evangélicos que submetam o capetão a um urgente descarrego, expulsem seus demônios, lavem sua alma de entidades malignas, iluminem seu espírito e avisem a ele que Jesus está vendo. O homem está carregado. Só isso pode explicar as barbaridades que ele diz, desdiz, mente, trapaceia, sempre com efeitos desastrosos na diplomacia, na economia e na democracia.
Quanto mais gente morre, quanto mais atrasam as vacinas, quanto mais a economia piora, mais cresce a rejeição a Bolsonaro. Cresceria em qualquer governo, contra os números não há argumentos nem fake news que convençam. Todo mundo sente na pele os efeitos de suas mentiras e suas bravatas irresponsáveis, como os americanos sentiram com Trump e o levaram à derrota.
Com o fim ou a diminuição do auxílio emergencial, ou o estouro do teto fiscal, Bolsonaro tende a ser o que seus fanáticos o chamam: um mito, apenas um mito, como o saci ou a mula sem cabeça, cultuado por seus devotos e rejeitado pela maioria da população.
Governantes bons ou maus entram e saem com as eleições, mas um presidente que age como insano é a primeira vez. Ou segunda, depois de Jânio Quadros, que além de amalucado era golpista e bebum e deu incalculáveis prejuízos ao Brasil.
O monarca inglês George III (1738-1820) enlouqueceu, perdeu o juízo, e nos seus surtos saía nu pelos jardins do palácio, falava barbaridades e jogava fezes em seus ministros. O rei foi afastado, mas antes provocou muitos estragos à Inglaterra. Doença mental é assunto sério, não é vergonha para ninguém.
Jair Bolsonaro não precisa ser odiado ou adorado, combatido ou apoiado, precisa ser estudado.
O homem disse, sem rir, que sempre tratou a imprensa “com cortesia e lealdade”, só queria dar um soco na cara do repórter que perguntou sobre os 89 mil do Queiroz na conta de Michele. Por ele, fecharia os jornais. E o tal do “mercado” também. Ele ameaça mais o capitalismo do que um governo de esquerda. Deu mais prejuízo à Petrobras que todas as ladroeiras da era Lula/Dilma.
O capetão (será erro de digitação, ato falho, piada ou justiça poética?) confia no respeito dos militares pela hierarquia: o chefe manda e eles obedecem. Talvez por isso tenha tantos militares submissos no governo executando suas ordens absurdas. Deve imaginar que, se sofrer um impeachment, os militares o apoiarão em um golpe “em defesa da liberdade”. A deles, é claro.
Suplicamos a nossos irmãos evangélicos que submetam o capetão a um urgente descarrego, expulsem seus demônios, lavem sua alma de entidades malignas, iluminem seu espírito e avisem a ele que Jesus está vendo. O homem está carregado. Só isso pode explicar as barbaridades que ele diz, desdiz, mente, trapaceia, sempre com efeitos desastrosos na diplomacia, na economia e na democracia.
Quanto mais gente morre, quanto mais atrasam as vacinas, quanto mais a economia piora, mais cresce a rejeição a Bolsonaro. Cresceria em qualquer governo, contra os números não há argumentos nem fake news que convençam. Todo mundo sente na pele os efeitos de suas mentiras e suas bravatas irresponsáveis, como os americanos sentiram com Trump e o levaram à derrota.
Com o fim ou a diminuição do auxílio emergencial, ou o estouro do teto fiscal, Bolsonaro tende a ser o que seus fanáticos o chamam: um mito, apenas um mito, como o saci ou a mula sem cabeça, cultuado por seus devotos e rejeitado pela maioria da população.
Governantes bons ou maus entram e saem com as eleições, mas um presidente que age como insano é a primeira vez. Ou segunda, depois de Jânio Quadros, que além de amalucado era golpista e bebum e deu incalculáveis prejuízos ao Brasil.
O monarca inglês George III (1738-1820) enlouqueceu, perdeu o juízo, e nos seus surtos saía nu pelos jardins do palácio, falava barbaridades e jogava fezes em seus ministros. O rei foi afastado, mas antes provocou muitos estragos à Inglaterra. Doença mental é assunto sério, não é vergonha para ninguém.
Jair Bolsonaro não precisa ser odiado ou adorado, combatido ou apoiado, precisa ser estudado.
União de todos contra o vírus
O Brasil superou a terrível marca de 250 mil mortes em decorrência da covid-19. É a maior tragédia nacional a se abater sobre as atuais gerações. Para aumentar ainda mais a angústia de milhões de brasileiros, nada indica que a pior fase da peste já tenha passado. Ao contrário, há evidentes sinais de recrudescimento da pandemia. No Amazonas, por exemplo, só nos dois primeiros meses de 2021 foram registradas mais mortes por covid-19 do que ao longo de todo o ano passado.
A campanha de vacinação, única saída para pôr fim ao morticínio, segue lenta, incerta. A distribuição das poucas vacinas que há é atabalhoada, vide a recente trapalhada ocorrida no envio dos imunizantes para o Amapá e o Amazonas.
Novas cepas do coronavírus, mais contagiosas, já circulam livremente Brasil afora, sem qualquer tipo de rastreamento pelas autoridades sanitárias.
A medida está longe do ideal. Mas o que é “ideal” no atual estágio da pandemia e dos humores da sociedade? Ideal é o que é possível fazer. É verdade que a maior parte das pessoas já estaria recolhida naquele período, mas também é fato que há muitos eventos e festas clandestinas que reúnem pequenas multidões nas madrugadas. Os objetivos do governo paulista são coibir, na medida do possível, esses eventos e alertar a população, mais uma vez, de que as coisas não vão bem. Qualquer medida de restrição tem também essa função de alertar os cidadãos para o risco.
O novo coronavírus se espalha como nunca antes pelo País desde o início deste flagelo, há um ano. Há mais de um mês, os brasileiros convivem com a morte de mais de mil de seus concidadãos todos os dias. O número é subestimado. A baixa testagem e a imprecisão diagnóstica escondem a real dimensão da tragédia.
A campanha de vacinação, única saída para pôr fim ao morticínio, segue lenta, incerta. A distribuição das poucas vacinas que há é atabalhoada, vide a recente trapalhada ocorrida no envio dos imunizantes para o Amapá e o Amazonas.
Novas cepas do coronavírus, mais contagiosas, já circulam livremente Brasil afora, sem qualquer tipo de rastreamento pelas autoridades sanitárias.
Os sistemas de saúde de pequenas e médias cidades do interior do Brasil entraram em colapso. Médicos têm de decidir na porta dos hospitais quem será socorrido e quem terá de se haver com a própria sorte. Muitos cidadãos, em especial os mais jovens, comportam-se como se a pandemia tivesse passado. Ou pior, como se não lhes dissesse respeito. É muito difícil nutrir a esperança por dias melhores diante da ausência de um espírito mais fraterno que una a sociedade nos esforços para superar um mal que, independentemente da medida, afeta todos, sem distinções de qualquer ordem.
No mais rico Estado do País, São Paulo, estima-se que em apenas três semanas não haverá leitos de UTI para dar conta do atendimento de todos os doentes. É de imaginar o que pode ocorrer – na verdade, já está ocorrendo – em Estados sem as mesmas condições dos paulistas. O governador João Doria (PSDB) anunciou uma “restrição de circulação” entre 23 e 5 horas, que valerá de hoje até o dia 14 de março, para tentar conter o avanço da doença.
A medida está longe do ideal. Mas o que é “ideal” no atual estágio da pandemia e dos humores da sociedade? Ideal é o que é possível fazer. É verdade que a maior parte das pessoas já estaria recolhida naquele período, mas também é fato que há muitos eventos e festas clandestinas que reúnem pequenas multidões nas madrugadas. Os objetivos do governo paulista são coibir, na medida do possível, esses eventos e alertar a população, mais uma vez, de que as coisas não vão bem. Qualquer medida de restrição tem também essa função de alertar os cidadãos para o risco.
Sempre é possível questionar as chances de eficácia das medidas impostas pelo Palácio dos Bandeirantes, seguindo a recomendação do Comitê de Contingência da Covid-19, na contenção do espalhamento do vírus. No entanto, o fato é que, sejam quais forem as medidas adotadas por governos, no Brasil e no mundo, por melhores que sejam entre as paredes dos gabinetes de crise, de nada valerão se os cidadãos não as respeitarem na vida cotidiana. Em outras palavras, a solução para uma crise da magnitude da pandemia de covid-19 não depende apenas da atuação do Estado, mas também do engajamento da sociedade.
Evidentemente, não se está aqui a relativizar a enorme responsabilidade que os atos e as omissões das autoridades, em especial do presidente Jair Bolsonaro e de seu ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, têm na construção dessa tragédia sem paralelos recentes. Chegará o dia em que a negligência de um e de outro será escrutinada pela Justiça. Entretanto, não cabe uma postura igualmente omissa e passiva de cada um dos cidadãos.
Hoje, o País chora a morte de 250 mil dos seus, e nada indica que a pandemia arrefecerá sem uma robusta campanha de imunização e sem a adoção de rigorosas medidas preventivas. O iminente colapso do sistema de saúde em boa parte do País não permite relaxamento – nem das autoridades nem dos cidadãos.
O preço da liberdade
Outro dia, num debate sobre política na TV, escutei alguém dizer: “Aqueles que não se lembram do passado estão condenados a repeti-lo”. Fiquei encantado —havia anos não ouvia essa frase do filósofo George Santayana. Não que ela tivesse deixado de valer. É que, pela quantidade de vezes em que foi citada no século 20, era como se entrasse e saísse por conta própria dos textos. Quando isso acontece, não há frase que aguente —o conteúdo se esgota e fica a frase pela frase. E ela já fora abandonada.
Várias outras frases clássicas da política correm o risco de ter de pedir aposentadoria: “A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa” (Karl Marx). “O patriotismo é o último refúgio dos canalhas” (Samuel Johnson). “Não existe almoço grátis” (popularizada por Milton Friedman). “Tudo deve mudar para que tudo fique na mesma” (Giuseppe Tomasi di Lampedusa).
E o que dizer dos achados dos nossos frasistas? “Política é como nuvem. Você olha e está de um jeito. Olha de novo e já mudou” (Magalhães Pinto). “O que vale não é o fato, mas a versão” (José Maria Alckmin). “Política é a arte de engolir sapos” (Nereu Ramos). “Política é a arte de namorar homem” (Rubem Braga).
Seja como for, essas citações ficaram sofisticadas demais para o que está acontecendo hoje no Brasil. Nossa realidade se brutalizou de forma a não comportar mais análises, só constatações —e alertas. Nunca se viu, por exemplo, uma interferência política tão nociva e ofensiva em todos os setores da administração. Os canais da Justiça estão sendo meticulosamente obstruídos para dar um verniz de legalidade à fratura institucional em preparo. E há fanáticos e sicários se armando e juntando munição para o caso de resistência. Está na cara.
Diante disso ressurge, quem diria, uma frase muito popular no passado entre os avós dos que hoje tramam um auto-assalto ao poder: “O preço da liberdade é a eterna vigilância”.
Várias outras frases clássicas da política correm o risco de ter de pedir aposentadoria: “A história se repete primeiro como tragédia, depois como farsa” (Karl Marx). “O patriotismo é o último refúgio dos canalhas” (Samuel Johnson). “Não existe almoço grátis” (popularizada por Milton Friedman). “Tudo deve mudar para que tudo fique na mesma” (Giuseppe Tomasi di Lampedusa).
E o que dizer dos achados dos nossos frasistas? “Política é como nuvem. Você olha e está de um jeito. Olha de novo e já mudou” (Magalhães Pinto). “O que vale não é o fato, mas a versão” (José Maria Alckmin). “Política é a arte de engolir sapos” (Nereu Ramos). “Política é a arte de namorar homem” (Rubem Braga).
Seja como for, essas citações ficaram sofisticadas demais para o que está acontecendo hoje no Brasil. Nossa realidade se brutalizou de forma a não comportar mais análises, só constatações —e alertas. Nunca se viu, por exemplo, uma interferência política tão nociva e ofensiva em todos os setores da administração. Os canais da Justiça estão sendo meticulosamente obstruídos para dar um verniz de legalidade à fratura institucional em preparo. E há fanáticos e sicários se armando e juntando munição para o caso de resistência. Está na cara.
Diante disso ressurge, quem diria, uma frase muito popular no passado entre os avós dos que hoje tramam um auto-assalto ao poder: “O preço da liberdade é a eterna vigilância”.
Tragédia na tragédia: O desgoverno de Bolsonaro na pandemia
Em um ano, já morreram mais de 250 mil brasileiros. Agora a nova explosão de casos se soma à escassez de vacinas. O país amarga uma tragédia dentro da tragédia: o desgoverno do Capitão Corona aumenta o poder de destruição da doença.
Bolsonaro conspirou abertamente contra a saúde pública. Estimulou aglomerações, fez campanha contra o uso de máscaras, travou a negociação de vacinas e ejetou dois médicos do ministério. Entregou a pasta a um paraquedista trapalhão, escolhido por não contestar as ordens do chefe.
Em janeiro, o general Eduardo Pazuello deixou faltar oxigênio em Manaus. Ele havia sido avisado com dias de antecedência, mas não se mexeu para evitar o colapso nos hospitais. Nesta quarta, o ministério militarizado admitiu outro erro grotesco: enviou para o Amapá vacinas destinadas ao Amazonas.
A pane na imunização é mais um reflexo do desgoverno. O Brasil registra 10% das mortes pela Covid em todo o mundo, mas aplicou apenas 3% das vacinas. Ontem o Rio retomou a vacinação de idosos, que havia sido suspensa por falta de doses. No sábado, terá que interromper a campanha pela segunda vez.
“Não sei onde vamos parar. Se o Brasil mantiver a vacinação a conta-gotas, o número de mortos pode ultrapassar os dois mil por dia. O país corre o risco de virar uma grande Manaus”, alerta o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.
Demitido por Bolsonaro no início da pandemia, ele projeta um cenário de “desastre anunciado” nas próximas semanas. “O sistema de saúde está se despedaçando. Quem está no comando sabe o que é coturno, mas não sabe o que é seringa ou agulha. E os técnicos que restaram no ministério estão morrendo de medo”, conta.
Bolsonaro conspirou abertamente contra a saúde pública. Estimulou aglomerações, fez campanha contra o uso de máscaras, travou a negociação de vacinas e ejetou dois médicos do ministério. Entregou a pasta a um paraquedista trapalhão, escolhido por não contestar as ordens do chefe.
Em janeiro, o general Eduardo Pazuello deixou faltar oxigênio em Manaus. Ele havia sido avisado com dias de antecedência, mas não se mexeu para evitar o colapso nos hospitais. Nesta quarta, o ministério militarizado admitiu outro erro grotesco: enviou para o Amapá vacinas destinadas ao Amazonas.
A pane na imunização é mais um reflexo do desgoverno. O Brasil registra 10% das mortes pela Covid em todo o mundo, mas aplicou apenas 3% das vacinas. Ontem o Rio retomou a vacinação de idosos, que havia sido suspensa por falta de doses. No sábado, terá que interromper a campanha pela segunda vez.
“Não sei onde vamos parar. Se o Brasil mantiver a vacinação a conta-gotas, o número de mortos pode ultrapassar os dois mil por dia. O país corre o risco de virar uma grande Manaus”, alerta o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta.
Demitido por Bolsonaro no início da pandemia, ele projeta um cenário de “desastre anunciado” nas próximas semanas. “O sistema de saúde está se despedaçando. Quem está no comando sabe o que é coturno, mas não sabe o que é seringa ou agulha. E os técnicos que restaram no ministério estão morrendo de medo”, conta.
“No meio da crise, o Paulo Guedes ainda quer aprovar o fim da vinculação de recursos para a saúde. Se isso passar, será o tiro de misericórdia no SUS”, afirma Mandetta.
Sem luto nem luta
O Brasil atingiu a inimaginável marca dos 250 mil mortos por Covid-19 sem que seu presidente tenha tido a decência mínima de decretar luto oficial, de determinar medidas enérgicas para conter uma curva que só empina ou de se empenhar para garantir vacina e auxílio emergencial a um país entregue à pandemia sem perspectiva de saída.
Assim como outras marcas tenebrosas em um ano de circulação do novo coronavírus em terras brasileiras, essa também passou em branco pelo Palácio do Planalto e pela Esplanada dos Ministérios. Vamos enterrando pessoas aos milhares todos os dias, sem que o governo federal reconheça a gravidade da crise sem precedentes que atravessamos.
Diante de uma tragédia que nenhum de nós, crianças ou velhos, viveu antes, Jair Bolsonaro está fazendo planos de mandar buscar em Israel não vacinas, mas spray nasal experimental.
Eduardo Pazuello está enviando doses escassas de imunizantes não para o Amazonas, epicentro das mortes, da falta de oxigênio e da nova cepa do vírus, mas para o vizinho Amapá, de população e urgência infinitamente menores.
O presidente não está se ocupando de exigir providências do general que enfiou na Saúde, mas do presidente da Petrobras. Não está empenhado em trocar o responsável pelo fracassado Plano Nacional de Imunização, mas sim o encarregado da publicidade oficial.
A pressa não é para conceder auxílio emergencial a quem precisa, depois que essa ajuda foi suprimida sem nada para ser colocado no lugar em dezembro, mas para subsidiar combustível para caminhoneiros que têm o presidente da República como refém.
No Congresso, o auxílio emergencial e o acordo para a compra de vacinas de outras empresas com que Bolsonaro achou por bem não negociar podem esperar. O que é para ontem é a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição ampliando ainda mais os limites da já praticamente plena imunidade parlamentar. A imunidade ao vírus que espere. As pessoas que se virem.
Nesse cenário de absoluta anomia — estatal, social, cívica —, vivemos de improvisos que têm por objetivo mitigar o colapso no enfrentamento da pandemia.
O mais recente deles veio de novo do Supremo Tribunal Federal, que virou uma Corte de emergências de toda sorte. De acordo com a decisão tomada na quarta-feira, estados e municípios poderão adquirir vacinas por conta própria.
A chancela do STF é antes de tudo um atestado de fracasso, um carimbo da inépcia do Brasil para lidar com a crise. Outros virão: a decisão abre espaço também para que, no futuro, empresas privadas possam adquirir vacinas, o que contraria a lógica do Sistema Único de Saúde.
Mas, se não for isso, quando teremos a maioria da população imunizada, de forma a que se possa pensar em começar a reconstruir a economia, a educação e a vida das pessoas, que estão em decomposição há um ano?
Vivemos sob um regime que banaliza e precifica mortes, não importa as cifras que elas atinjam. É como se o presidente visse o taxímetro da pandemia correr e continuasse rodando despreocupadamente, fazendo barbeiragens em todos os demais assuntos nos quais esbarra pelo caminho.
Somos o vice-líder mundial em mortes por Covid-19, só abaixo dos Estados Unidos. E, no entanto, temos apenas a sexta maior população do mundo. Com o segundo maior número de mortes, só vacinamos menos de 4% da população. E assistimos a essa sucessão de indicadores do nosso fracasso como quem acompanha uma entediante partida de tênis, virando o pescoço indiferentes para um lado e para o outro.
Um ano depois, a constatação é que fomos derrotados. E não há nem choro nem indignação, só letargia.
Vera Magalhães
Assim como outras marcas tenebrosas em um ano de circulação do novo coronavírus em terras brasileiras, essa também passou em branco pelo Palácio do Planalto e pela Esplanada dos Ministérios. Vamos enterrando pessoas aos milhares todos os dias, sem que o governo federal reconheça a gravidade da crise sem precedentes que atravessamos.
Diante de uma tragédia que nenhum de nós, crianças ou velhos, viveu antes, Jair Bolsonaro está fazendo planos de mandar buscar em Israel não vacinas, mas spray nasal experimental.
Eduardo Pazuello está enviando doses escassas de imunizantes não para o Amazonas, epicentro das mortes, da falta de oxigênio e da nova cepa do vírus, mas para o vizinho Amapá, de população e urgência infinitamente menores.
O presidente não está se ocupando de exigir providências do general que enfiou na Saúde, mas do presidente da Petrobras. Não está empenhado em trocar o responsável pelo fracassado Plano Nacional de Imunização, mas sim o encarregado da publicidade oficial.
A pressa não é para conceder auxílio emergencial a quem precisa, depois que essa ajuda foi suprimida sem nada para ser colocado no lugar em dezembro, mas para subsidiar combustível para caminhoneiros que têm o presidente da República como refém.
No Congresso, o auxílio emergencial e o acordo para a compra de vacinas de outras empresas com que Bolsonaro achou por bem não negociar podem esperar. O que é para ontem é a aprovação de uma Proposta de Emenda à Constituição ampliando ainda mais os limites da já praticamente plena imunidade parlamentar. A imunidade ao vírus que espere. As pessoas que se virem.
Nesse cenário de absoluta anomia — estatal, social, cívica —, vivemos de improvisos que têm por objetivo mitigar o colapso no enfrentamento da pandemia.
O mais recente deles veio de novo do Supremo Tribunal Federal, que virou uma Corte de emergências de toda sorte. De acordo com a decisão tomada na quarta-feira, estados e municípios poderão adquirir vacinas por conta própria.
Trata-se de algo a ser celebrado, pois parece ser uma possibilidade ao menos de que saiamos da letargia em que o Plano Nacional de Imunização se encontra, justamente porque foi sabotado pelo presidente da República, por seus acólitos e seu general.
A chancela do STF é antes de tudo um atestado de fracasso, um carimbo da inépcia do Brasil para lidar com a crise. Outros virão: a decisão abre espaço também para que, no futuro, empresas privadas possam adquirir vacinas, o que contraria a lógica do Sistema Único de Saúde.
Mas, se não for isso, quando teremos a maioria da população imunizada, de forma a que se possa pensar em começar a reconstruir a economia, a educação e a vida das pessoas, que estão em decomposição há um ano?
Vivemos sob um regime que banaliza e precifica mortes, não importa as cifras que elas atinjam. É como se o presidente visse o taxímetro da pandemia correr e continuasse rodando despreocupadamente, fazendo barbeiragens em todos os demais assuntos nos quais esbarra pelo caminho.
Somos o vice-líder mundial em mortes por Covid-19, só abaixo dos Estados Unidos. E, no entanto, temos apenas a sexta maior população do mundo. Com o segundo maior número de mortes, só vacinamos menos de 4% da população. E assistimos a essa sucessão de indicadores do nosso fracasso como quem acompanha uma entediante partida de tênis, virando o pescoço indiferentes para um lado e para o outro.
Um ano depois, a constatação é que fomos derrotados. E não há nem choro nem indignação, só letargia.
Vera Magalhães
Sapadores, em marcha!
O sistema de saúde está se despedaçando. Quem está no comando sabe o que é coturno, mas não sabe o que é seringa ou agulha. E os técnicos que restaram no Ministério da Saúde estão morrendo de medoLuiz Henrique Mandetta, médico e ex-ministro da Saúde demitido por Bolsonaro
Coincidências demais
Coincidências são puramente acidentais? Amigo meu estava numa cidade na Europa do Leste, ao tempo da Cortina de Ferro, e decidiu almoçar em determinado restaurante. Chegou na porta, não gostou do ambiente, virou as costas e saiu. Minutos depois, o restaurante explodiu.
Não se explica por que alguém gosta ou não gosta de outra pessoa. Há ainda aquela desagradável sensação de já ter vivido determinada situação. O ‘’dejá vu’’ provoca uma estranha percepção extrassensorial, inexplicável.
O assunto é apaixonante. Na política, nas guerras, ou nas ações de espionagem coincidências usualmente são propositais. Na vida profana, as coincidências obedecem a lógica própria. Assustam por serem inexplicáveis.
Quem quiser se aprofundar no assunto sugiro o livro intrigante, inteligente e provocativo cujo título é "As razões da coincidência’’, de Arthur Koestler, editora Nova Fronteira. Segundo ele, muitas incertezas podem formar uma certeza, ou grande número de ocorrências fortuitas tendem a desembocar em resultado previsível de acordo com a teoria das probabilidades.
Mas a coincidência a que me refiro é o fato deste deputado de fundo do plenário, ex-policial militar, ex-motorista de ônibus, produzir vídeo com ofensas pesadas, ataques furiosos e afirmações tenebrosas contra ministros do Supremo Tribunal Federal sem que nada justificasse tamanho desvario.
Não aconteceu por acaso. Provocou enorme repercussão, os ministros não gostaram e, por unanimidade, mandaram prender o meliante. Confrontar as onze excelências não é atitude recomendável para quem tem juízo. Parece que ele não tem nenhum. Mas tem o perfil do tipo ideal para realizar provocação deste quilate.
Lee Oswald, o homem acusado de atirar no presidente John Kennedy, era um tipo controvertido. Ex-fuzileiro naval, de repente, declarou-se marxista, decidiu se mudar para a União Soviética, morou em Minsk por mais de dois anos, casou-se com uma russa. Depois retornou a Dallas.
No início do movimento fascista na Itália, Mussolini, que era jornalista, produzia artigos vigorosos contra o regime e seus seguidores, chamados de camisa preta, promoviam badernas públicas contra o sistema. Intimidavam as pessoas, agrediam, batiam e matavam.
Intimidar é essencial. Na escalada do nazismo na Alemanha, também os defensores de Hitler se reuniam nas milícias chamadas de SS, que agrediam, intimidavam, matavam e disseminavam o ódio. O método era o mesmo. Provocar, intimidar e disseminar o ódio. Tudo muito parecido com o que está acontecendo no Brasil de hoje.
Estas confusões, provocadas por pessoas sem qualquer importância, têm o poder de mudar o foco do debate nacional, na imprensa e nas redes sociais. O país está sem vacina, sem orçamento, sem as comissões temáticas no Congresso, sem auxílio emergencial e a pandemia continua a matar brasileiros numa velocidade superior a mil óbitos por dia.
Na realidade, o Brasil está em guerra. O inimigo é invisível, mas ele existe, é perceptível e provoca estrago nunca imaginado. Trata-se de cataclisma de consequências devastadoras. Não há previsão razoável para o fim da pandemia. No próximo ano haverá eleição. Ou seja, mais aglomeração. Mas a ação do meliante é a principal pauta da imprensa.
O governo não se preparou no tempo certo para imunizar os brasileiros. O general da logística não percebeu a extensão do problema. Quando entendeu, o estrago já estava feito. E seguindo a tradição histórica brasileira, abandonou os estados do norte. A Amazônia é outro país, que foi socorrido pelos venezuelanos.
As crises vão se empilhando, umas sobre as outras. Os brasileiros não são aceitos em outros países. O país está ilhado. Cumpriu-se o objetivo do ministro Ernesto Araújo. O Brasil transformou-se num pária. Nicolas Maduro, presidente da Venezuela, também era motorista de ônibus antes de assumir o poder. Em Caracas, ele governa em proveito próprio em nome da defesa da pátria. Apoiado por seus principais chefes militares.
Coincidências muito coincidentes.
André Gustavo Stumpf
Não se explica por que alguém gosta ou não gosta de outra pessoa. Há ainda aquela desagradável sensação de já ter vivido determinada situação. O ‘’dejá vu’’ provoca uma estranha percepção extrassensorial, inexplicável.
O assunto é apaixonante. Na política, nas guerras, ou nas ações de espionagem coincidências usualmente são propositais. Na vida profana, as coincidências obedecem a lógica própria. Assustam por serem inexplicáveis.
Quem quiser se aprofundar no assunto sugiro o livro intrigante, inteligente e provocativo cujo título é "As razões da coincidência’’, de Arthur Koestler, editora Nova Fronteira. Segundo ele, muitas incertezas podem formar uma certeza, ou grande número de ocorrências fortuitas tendem a desembocar em resultado previsível de acordo com a teoria das probabilidades.
Mas a coincidência a que me refiro é o fato deste deputado de fundo do plenário, ex-policial militar, ex-motorista de ônibus, produzir vídeo com ofensas pesadas, ataques furiosos e afirmações tenebrosas contra ministros do Supremo Tribunal Federal sem que nada justificasse tamanho desvario.
Não aconteceu por acaso. Provocou enorme repercussão, os ministros não gostaram e, por unanimidade, mandaram prender o meliante. Confrontar as onze excelências não é atitude recomendável para quem tem juízo. Parece que ele não tem nenhum. Mas tem o perfil do tipo ideal para realizar provocação deste quilate.
Lee Oswald, o homem acusado de atirar no presidente John Kennedy, era um tipo controvertido. Ex-fuzileiro naval, de repente, declarou-se marxista, decidiu se mudar para a União Soviética, morou em Minsk por mais de dois anos, casou-se com uma russa. Depois retornou a Dallas.
No dia do assassinato ele estava perto do local onde o presidente passou em carro aberto. Oswald foi preso dentro de um cinema. Quando deixava a delegacia de polícia, também foi assassinado. Personagem ideal, meio lunático, metido a salvador da pátria, soldado profissional norte-americano que transferiu sua residência para o inimigo por vontade própria.
Tinha o perfil adequado para se encaixar no conceito policial de prender os suspeitos de sempre. Ninguém sabe até hoje, ao certo, quem matou Kennedy.
Tinha o perfil adequado para se encaixar no conceito policial de prender os suspeitos de sempre. Ninguém sabe até hoje, ao certo, quem matou Kennedy.
No início do movimento fascista na Itália, Mussolini, que era jornalista, produzia artigos vigorosos contra o regime e seus seguidores, chamados de camisa preta, promoviam badernas públicas contra o sistema. Intimidavam as pessoas, agrediam, batiam e matavam.
Intimidar é essencial. Na escalada do nazismo na Alemanha, também os defensores de Hitler se reuniam nas milícias chamadas de SS, que agrediam, intimidavam, matavam e disseminavam o ódio. O método era o mesmo. Provocar, intimidar e disseminar o ódio. Tudo muito parecido com o que está acontecendo no Brasil de hoje.
Estas confusões, provocadas por pessoas sem qualquer importância, têm o poder de mudar o foco do debate nacional, na imprensa e nas redes sociais. O país está sem vacina, sem orçamento, sem as comissões temáticas no Congresso, sem auxílio emergencial e a pandemia continua a matar brasileiros numa velocidade superior a mil óbitos por dia.
Na realidade, o Brasil está em guerra. O inimigo é invisível, mas ele existe, é perceptível e provoca estrago nunca imaginado. Trata-se de cataclisma de consequências devastadoras. Não há previsão razoável para o fim da pandemia. No próximo ano haverá eleição. Ou seja, mais aglomeração. Mas a ação do meliante é a principal pauta da imprensa.
O governo não se preparou no tempo certo para imunizar os brasileiros. O general da logística não percebeu a extensão do problema. Quando entendeu, o estrago já estava feito. E seguindo a tradição histórica brasileira, abandonou os estados do norte. A Amazônia é outro país, que foi socorrido pelos venezuelanos.
As crises vão se empilhando, umas sobre as outras. Os brasileiros não são aceitos em outros países. O país está ilhado. Cumpriu-se o objetivo do ministro Ernesto Araújo. O Brasil transformou-se num pária. Nicolas Maduro, presidente da Venezuela, também era motorista de ônibus antes de assumir o poder. Em Caracas, ele governa em proveito próprio em nome da defesa da pátria. Apoiado por seus principais chefes militares.
Coincidências muito coincidentes.
André Gustavo Stumpf
Pandemia, BBB21 e o avesso do mesmo lugar
Há tempos uma frase de Tom Jobim não me sai da cabeça: "O Brasil não é para principiantes". Olhando ao meu redor, apenas confirmo o quão cirúrgicas são essas palavras, que por aqui já se tornaram um jargão: quando menos se espera, pá!, o Brasil te surpreende. E o mais curioso é que essa surpresa geralmente acaba te levando para um mesmo lugar.
Às vésperas do marco de um ano da chegada da pandemia de covid-19 ao Brasil, a ineficácia do planejamento do cronograma de vacinação seria, por si só, um fator de surpresa (e profunda indignação). Desde março de 2020, um dos grandes desafios enfrentados pela humanidade – em escala global – foi conseguir produzir uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. E graças a um conjunto de esforços e ao empenho de milhares de médicos e cientistas, a humanidade (sim, a espécie humana) venceu esse desafio. Em tempo recorde, temos diferentes vacinas, cujo uso emergencial foi aprovado pela OMS.
O Brasil, com seu Programa Nacional de Imunização (integrado ao SUS), que sempre foi motivo de orgulho para os brasileiros e uma referência mundial, poderia vacinar 5 milhões de pessoas por dia, segundo estimativa da pesquisadora da Fiocruz Margareth Delcomo. Bastaria uma "decisão política" que garantisse as vacinas e o planejamento minucioso de como aplicá-las.
Quando as mortes pela covid-19 chegam a 250 mil, quando uma nova cepa do vírus é detectada no território nacional, quando a frouxidão do isolamento não é acompanhada por uma diminuição do número diário de mortos no país, era de se imaginar um esforço hercúleo das autoridades para garantir a vacinação em massa. A ausência dessa garantia deveria ser nosso único, ou então principal, assunto: estampado nas manchetes dos jornais, noticiado nos telejornais e rádios, viralizado nas redes sociais, tuitado e retuitado à exaustão.
Mas aí vem o Brasil e puxa nosso tapete.
Em meio ao caos deste início de 2021, os debates sobre a ineficiência do plano de vacinação no Brasil concorrem com as "tretas" do BBB21. A necessidade de uma válvula de escape num momento de crise poderia ser um argumento poderoso para compreender a audiência recorde do programa. Mas esta edição tem um um ingrediente a mais: o racismo e as disputas sobre quem controla o seu debate.
Às vésperas do marco de um ano da chegada da pandemia de covid-19 ao Brasil, a ineficácia do planejamento do cronograma de vacinação seria, por si só, um fator de surpresa (e profunda indignação). Desde março de 2020, um dos grandes desafios enfrentados pela humanidade – em escala global – foi conseguir produzir uma vacina eficaz contra o novo coronavírus. E graças a um conjunto de esforços e ao empenho de milhares de médicos e cientistas, a humanidade (sim, a espécie humana) venceu esse desafio. Em tempo recorde, temos diferentes vacinas, cujo uso emergencial foi aprovado pela OMS.
O Brasil, com seu Programa Nacional de Imunização (integrado ao SUS), que sempre foi motivo de orgulho para os brasileiros e uma referência mundial, poderia vacinar 5 milhões de pessoas por dia, segundo estimativa da pesquisadora da Fiocruz Margareth Delcomo. Bastaria uma "decisão política" que garantisse as vacinas e o planejamento minucioso de como aplicá-las.
Quando as mortes pela covid-19 chegam a 250 mil, quando uma nova cepa do vírus é detectada no território nacional, quando a frouxidão do isolamento não é acompanhada por uma diminuição do número diário de mortos no país, era de se imaginar um esforço hercúleo das autoridades para garantir a vacinação em massa. A ausência dessa garantia deveria ser nosso único, ou então principal, assunto: estampado nas manchetes dos jornais, noticiado nos telejornais e rádios, viralizado nas redes sociais, tuitado e retuitado à exaustão.
Mas aí vem o Brasil e puxa nosso tapete.
Em meio ao caos deste início de 2021, os debates sobre a ineficiência do plano de vacinação no Brasil concorrem com as "tretas" do BBB21. A necessidade de uma válvula de escape num momento de crise poderia ser um argumento poderoso para compreender a audiência recorde do programa. Mas esta edição tem um um ingrediente a mais: o racismo e as disputas sobre quem controla o seu debate.
O ano de 2020 foi marcado pela ampliação significativa da discussão sobre o racismo no Brasil, em consonância com o movimento estadunidense #BlackLivesMatter [vidas negras importam, em tradução livre]. Ainda que não seja nenhuma novidade para boa parte dos negros e negras brasileiros, por aqui, uma parcela da população branca parece ter sido apresentada à dimensão estrutural do racismo em plena pandemia do coronavírus.
E mesmo que a compreensão do racismo estrutural seja comprometida pelo próprio racismo estrutural, o país que até pouco tempo atrás não se reconhecia como tal passou a dar os primeiros passos em direção à aceitação de sua natureza racista. Isso se desdobrou no mercado editorial, nas pautas jornalísticas, no aumento e reconhecimento de figuras públicas negras formadoras de opinião e, ao que tudo indicava, na escolha dos participantes do BBB21, edição com o maior número de negros da história.
Só que lembremos: o Brasil não é para principiantes.
O comportamento de parte dos integrantes negros do programa se revelou uma contradição abissal em relação às expectativas sobre negros engajados na luta antirracista. Aqui, não me interessa analisar a conduta dos participantes negros, pois as ações desses homens e mulheres revelam que, pasmem!, a população negra não é apenas múltipla e diversa, mas também complexa e contraditória – características inerentes a todo ser humano.
Pensando na longa duração da história brasileira e no fato de o racismo ser, antes de mais nada, um sistema de poder, o fundamental a saber é: a quem interessa desqualificar a discussão sobre o racismo no Brasil?
O BBB é um programa que escolhe seus participantes e, consequentemente, as narrativas que serão expostas para milhões de telespectadores. Não se trata da "vida como ela é", ou do "Brasil real". E, sim, daquilo sobre o que se escolhe falar e daquilo sobre o que se silencia. Mesmo tendo incorporado – na superfície – os debates mais recentes, o BBB21 se mostrou mais um produto bem-acabado do racismo brasileiro.
O racismo não é nem deve ser encarado como uma tendência, uma moda que dá e passa. O racismo, esse sim, é a "vida como ela é", o "Brasil real". E não sejamos ingênuos: os responsáveis por implementar políticas ineficazes de imunização e aqueles que produzem programas como o BBB sabem disso. Em ambos os casos, e não por acaso, os lugares sociais e políticos edificados pelo e com o racismo, permanecem os mesmos. Não é mera coincidência que, no Brasil, a pandemia mate mais negros, ao mesmo tempo que a rejeição desse segmento da população bate recordes no reality show.
Por isso, é importante que estejamos atentos e dispostos a enxergar o avesso desse mesmo lugar.
Ynaê Lopes dos Santos, mestre e doutora em História Social pela USP e professora de História das Américas na UFF
E mesmo que a compreensão do racismo estrutural seja comprometida pelo próprio racismo estrutural, o país que até pouco tempo atrás não se reconhecia como tal passou a dar os primeiros passos em direção à aceitação de sua natureza racista. Isso se desdobrou no mercado editorial, nas pautas jornalísticas, no aumento e reconhecimento de figuras públicas negras formadoras de opinião e, ao que tudo indicava, na escolha dos participantes do BBB21, edição com o maior número de negros da história.
Só que lembremos: o Brasil não é para principiantes.
O comportamento de parte dos integrantes negros do programa se revelou uma contradição abissal em relação às expectativas sobre negros engajados na luta antirracista. Aqui, não me interessa analisar a conduta dos participantes negros, pois as ações desses homens e mulheres revelam que, pasmem!, a população negra não é apenas múltipla e diversa, mas também complexa e contraditória – características inerentes a todo ser humano.
Pensando na longa duração da história brasileira e no fato de o racismo ser, antes de mais nada, um sistema de poder, o fundamental a saber é: a quem interessa desqualificar a discussão sobre o racismo no Brasil?
O BBB é um programa que escolhe seus participantes e, consequentemente, as narrativas que serão expostas para milhões de telespectadores. Não se trata da "vida como ela é", ou do "Brasil real". E, sim, daquilo sobre o que se escolhe falar e daquilo sobre o que se silencia. Mesmo tendo incorporado – na superfície – os debates mais recentes, o BBB21 se mostrou mais um produto bem-acabado do racismo brasileiro.
O racismo não é nem deve ser encarado como uma tendência, uma moda que dá e passa. O racismo, esse sim, é a "vida como ela é", o "Brasil real". E não sejamos ingênuos: os responsáveis por implementar políticas ineficazes de imunização e aqueles que produzem programas como o BBB sabem disso. Em ambos os casos, e não por acaso, os lugares sociais e políticos edificados pelo e com o racismo, permanecem os mesmos. Não é mera coincidência que, no Brasil, a pandemia mate mais negros, ao mesmo tempo que a rejeição desse segmento da população bate recordes no reality show.
Por isso, é importante que estejamos atentos e dispostos a enxergar o avesso desse mesmo lugar.
Ynaê Lopes dos Santos, mestre e doutora em História Social pela USP e professora de História das Américas na UFF
Assinar:
Comentários (Atom)