
domingo, 9 de outubro de 2016
A arte de enganar os pobres
Sem ter conseguido seduzir com o discurso do “golpe”, o PT – maior derrotado nas urnas municipais -- tateia em busca de motes para reaglutinar a sua turma. Atira para todos os cantos e, com insistência e determinação, atinge o próprio pé, gangrenando o pouco que restava da biografia do partido e de seus líderes.
Pisam e repisam na tese delirante de conluio entre a elite e a mídia monopolizada. Uma conspiração fantástica capaz de unir na mesma seara a Lava-Jato e os endinheirados que agonizam atrás das grades para manter o poder perpétuo do PT e dos seus. Agora, se fixam na demonização da emenda constitucional que limita gastos públicos, aprovada na comissão especial por ampla maioria – 23 x 7 –, com chances de ser decidida nesta semana pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Apelidada pelo PT e o “campo de esquerda” como PEC da Morte, a emenda ganhou versões tão fantasiosas na boca dessa trupe que chegam a ser perigosas. Nas redes sociais, entre críticas engraçadas e mentiras deslavadas, dizem até que o governo Michel Temer acabou com o 13º salário e que na reforma previdenciária os “velhinhos” com menos de 70 anos terão seus benefícios suspensos.
A má-fé oficial não é menor do que a irresponsabilidade anônima ou de perfis falsos e contratados para as redes sociais. Sobre a PEC do Teto, por exemplo, o deputado Henrique Fontana (PT-RS) disse que ela vai aumentar o desemprego e a desigualdade social. “Vai piorar a saúde, a educação, a assistência social e a segurança pública”. Patrus Ananias (PT-MG) foi ainda mais enfático: “Os ricos ficarão mais ricos e os pobres mais pobres”.
Além de brigar com a lógica de que não se pode gastar mais do que se arrecada, a direção do PT, suas lideranças e admiradores fazem chacota dos pobres que dizem defender. Empenham-se em raciocínios mirabolantes, falseiam números, mentem.
Dados divulgados na quinta-feira informam que, ao contrário do que propala Ananias, os pobres já estão cada vez mais pobres e os ricos mais ricos.
Análises do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), feitas a partir das declarações de IR de 2014, apontam que a renda do topo da pirâmide cresceu 9% contra 2% dos que recebem até 5 salários mínimos. Pior: ainda no primeiro mandato da presidente deposta Dilma Rousseff, os que receberam até meio salário mínimo comprometeram 1,17% de seus ganhos quase inexistentes com impostos, número escandalosamente maior do que o dos que têm renda superior a 120 salários, que só pingaram 0,03% na boca do Leão.
Os pobres, que na festa do consumo patrocinada pelo ex Lula e por sua pupila parcelaram suas vidas em até 60 prestações, foram os que mais sentiram na pele o tamanho do engodo. Batizados de nova classe média, muitos deles estão sem emprego, na penúria. Respondem por inadimplência crescente, hoje superior a 52%.
Na saúde, setor que segundo o deputado Fontana será arrasado com o equilíbrio das contas, o país amarga crise sem precedentes. De 2010 a 2015, a oferta de leitos no SUS caiu 7,5%, de 50,1 mil para 48,4 mil – 1,6 mil leitos a menos, de acordo com o Conselho Federal de Medicina.
Sem emprego, salário e dinheiro no bolso, o brasileiro superlotou o sistema público de saúde. O SUS, que já não conseguia dar conta da demanda, herdou 1,6 milhão de pacientes que abandonaram os planos de saúde complementar.
Cenário catastrófico se verificou também na educação. Com o acirramento da crise econômica que a presidente deposta fermentou, ela mesma se viu forçada a cortar R$ 10,5 bilhões – 10% da verba do MEC -, enterrando o lema marqueteiro “Pátria educadora”. Na segurança pública, a redução de investimentos foi constante, totalizando mais de R$ 20 bilhões em 13 anos.
Um legado diabólico, dificílimo de ser exorcizado.
Despidos moral e politicamente, flagrados com a mão na botija e enricados com o dinheiro dos pobres que diziam defender, líderes da sigla tentam, com palavrório, driblar a história. Mas quanto mais se mexem mais se enterram. Os resultados do primeiro turno das eleições municipais não deixam dúvidas.
Pisam e repisam na tese delirante de conluio entre a elite e a mídia monopolizada. Uma conspiração fantástica capaz de unir na mesma seara a Lava-Jato e os endinheirados que agonizam atrás das grades para manter o poder perpétuo do PT e dos seus. Agora, se fixam na demonização da emenda constitucional que limita gastos públicos, aprovada na comissão especial por ampla maioria – 23 x 7 –, com chances de ser decidida nesta semana pelo plenário da Câmara dos Deputados.
Apelidada pelo PT e o “campo de esquerda” como PEC da Morte, a emenda ganhou versões tão fantasiosas na boca dessa trupe que chegam a ser perigosas. Nas redes sociais, entre críticas engraçadas e mentiras deslavadas, dizem até que o governo Michel Temer acabou com o 13º salário e que na reforma previdenciária os “velhinhos” com menos de 70 anos terão seus benefícios suspensos.
A má-fé oficial não é menor do que a irresponsabilidade anônima ou de perfis falsos e contratados para as redes sociais. Sobre a PEC do Teto, por exemplo, o deputado Henrique Fontana (PT-RS) disse que ela vai aumentar o desemprego e a desigualdade social. “Vai piorar a saúde, a educação, a assistência social e a segurança pública”. Patrus Ananias (PT-MG) foi ainda mais enfático: “Os ricos ficarão mais ricos e os pobres mais pobres”.
Além de brigar com a lógica de que não se pode gastar mais do que se arrecada, a direção do PT, suas lideranças e admiradores fazem chacota dos pobres que dizem defender. Empenham-se em raciocínios mirabolantes, falseiam números, mentem.
Dados divulgados na quinta-feira informam que, ao contrário do que propala Ananias, os pobres já estão cada vez mais pobres e os ricos mais ricos.
Análises do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), feitas a partir das declarações de IR de 2014, apontam que a renda do topo da pirâmide cresceu 9% contra 2% dos que recebem até 5 salários mínimos. Pior: ainda no primeiro mandato da presidente deposta Dilma Rousseff, os que receberam até meio salário mínimo comprometeram 1,17% de seus ganhos quase inexistentes com impostos, número escandalosamente maior do que o dos que têm renda superior a 120 salários, que só pingaram 0,03% na boca do Leão.
Os pobres, que na festa do consumo patrocinada pelo ex Lula e por sua pupila parcelaram suas vidas em até 60 prestações, foram os que mais sentiram na pele o tamanho do engodo. Batizados de nova classe média, muitos deles estão sem emprego, na penúria. Respondem por inadimplência crescente, hoje superior a 52%.
Na saúde, setor que segundo o deputado Fontana será arrasado com o equilíbrio das contas, o país amarga crise sem precedentes. De 2010 a 2015, a oferta de leitos no SUS caiu 7,5%, de 50,1 mil para 48,4 mil – 1,6 mil leitos a menos, de acordo com o Conselho Federal de Medicina.
Sem emprego, salário e dinheiro no bolso, o brasileiro superlotou o sistema público de saúde. O SUS, que já não conseguia dar conta da demanda, herdou 1,6 milhão de pacientes que abandonaram os planos de saúde complementar.
Cenário catastrófico se verificou também na educação. Com o acirramento da crise econômica que a presidente deposta fermentou, ela mesma se viu forçada a cortar R$ 10,5 bilhões – 10% da verba do MEC -, enterrando o lema marqueteiro “Pátria educadora”. Na segurança pública, a redução de investimentos foi constante, totalizando mais de R$ 20 bilhões em 13 anos.
Um legado diabólico, dificílimo de ser exorcizado.
Despidos moral e politicamente, flagrados com a mão na botija e enricados com o dinheiro dos pobres que diziam defender, líderes da sigla tentam, com palavrório, driblar a história. Mas quanto mais se mexem mais se enterram. Os resultados do primeiro turno das eleições municipais não deixam dúvidas.
Limpar a...
Houve um tempo, na Grécia, tão recuado que o chamamos “arcaico” e perdemos o contato com ele, em que as diferenças e divergências sérias eram resolvidas, ou pelo menos reduzidas, por composição. Na prática, era como negociar com boas bases e obter acordos de que ninguém precisaria depois se envergonhar. Acordos programáticos, preservando a essência de cada participante. Por exemplo: havia deusas e deuses, homens e mulheres. Tinham, todos, seus interesses próprios. Muitas vezes andavam aos tapas. Mas podiam se aproximar, quando havia suficiente convergência, e até parcialmente se fundir. Semideuses, semideusas eram produtos desses acordos. Como, entre cavalos e homens, os centauros. E as ninfas, entre as águas e as mulheres. Havia violências, claro, porque a vida pode ser violenta. Mas não nos acordos. Esses eram como que naturais. Não eram frankensteins como os que conhecemos na nossa política. Um semideus era um bom acordo. Herdava a astúcia dos deuses e as boas imperfeições humanas. A altivez e a força. — Hércules era um semideus.
Filho do rei dos deuses, Zeus, e da mortal Alcmena, Hércules foi deles todos o que mais vivo ficou para nós depois que o contato com esses tempos míticos se rompeu. Conhecemos seus 12 Trabalhos, desafios que a ciumenta Hera, mulher de Zeus, lhe lançara para testar o filho da infidelidade do marido. Hércules passou nas mãos de Hera o pão que o diabo amassou. Um dos desafios foi limpar as cavalariças de Áugias.

Áugias era rei da cidade grega de Elis, e possuía estábulos imensos, onde vivia um gado imortal. Isso também quer dizer: estercava um gado imortal, eternamente. As cavalariças de Áugias nunca tinham sido limpas. O desafio era Hércules lavá-las em um só dia. Olhando assim, impossível. Mas para feitos impossíveis é que se faziam semideuses. Em um dia os estábulos do rei brilhavam de limpeza e escorriam água fresca.
O que Hércules fez? Passava por perto um belo rio, o Alfeu. O semideus desviou o curso do rio e o fez passar por dentro das cavalariças. Um gesto ousado e claro. E definitivo. E simples. Água limpa esterco. É natural. Não tem artifícios. Operação perfeita. Não cavou passagens laterais, para deixar vazar um pouco por aqui, um pouco por lá. Não abriu e fechou torneiras. Nem chamou os repórteres do tempo para divulgarem a conta-gotas os feitos de um semideus calculista. Não aprisionou água em alguns lugares, por bastante tempo, para, acumulada, acumulada, estourar de repente em manifestações de raiva e espuma. Não. Foi lá, convocou uma enxurrada de limpeza cirúrgica. Sem adiamentos e surpresas. De uma vez só. Sem etapas infindáveis. Para não agir de modo rápido e seguro, Hércules precisaria ter uma agenda mais ampla do que a já difícil limpeza do entulho fétido. Um programa político, por exemplo. Como o de derrubar Áugias. Se Áugias fosse o objetivo final de Hércules, táticas de esticamento do tempo seriam compreensíveis. Esse desejo político seria uma explicação para retenções de fluxos, vazamentos que não limpam, histórias contadas antes de feitas. E, de fato, Hércules chamou Áugias para a briga. Guerreou com ele e com os filhos. Meteu família no meio. Mas depois. Primeiro, limpou o esterco de séculos. Tudo limpo, foi fazer política, que na época era assim que se fazia. E o fez claramente. Não misturou as coisas. Uma era desafio imposto pela deusa. Precisava urgentemente ser cumprido. Ninguém aguentava mais. A sujeira era uma barbaridade. Contaminava tudo no reino. A outra era ambição. Não tinha nada de divino. Era assunto de Hércules com o seu desejo. Nenhuma desculpa acima disso. De modo que foi lá e guerreou. Pronto. O trabalho estava feito. E o rei desafiado para a guerra.
Mas isso foi no tempo em que havia semideuses. E as coisas se jogavam às claras. As necessárias eram feitas porque eram necessárias. E a guerra, a política, não tinham nada com isso. Depois os semideuses acabaram. Os condutores e “homens providenciais” quiseram tomar o seu lugar — e até, por cúmulo, falar em nome de Deus. Que Ele nos livre dos homens providenciais! Eles se imaginam acima dos valores comuns. E enxergam nessa superioridade um sinal de missão. Atuam com astúcia às vezes, às vezes com brutalidade. Parece que, no fundo, até se sentem meio servos da verdade. Mas em nome dela meio-mentem, meio-escondem, meio-mostram. No fim, as cavalariças estão convulsionadas, os touros berram, e o esterco só foi revirado. Os estábulos imortais continuam sujos. Mas a população do reino se impressiona com a operosidade dos candidatos a semideus.
A ponto de não se dar conta de que eles estão, na verdade, só de olho no rei. Se puderem pegá-lo, danem-se os touros. Quem fez a merda que a limpe.
Marcio Tavares D’amaral
Filho do rei dos deuses, Zeus, e da mortal Alcmena, Hércules foi deles todos o que mais vivo ficou para nós depois que o contato com esses tempos míticos se rompeu. Conhecemos seus 12 Trabalhos, desafios que a ciumenta Hera, mulher de Zeus, lhe lançara para testar o filho da infidelidade do marido. Hércules passou nas mãos de Hera o pão que o diabo amassou. Um dos desafios foi limpar as cavalariças de Áugias.

O que Hércules fez? Passava por perto um belo rio, o Alfeu. O semideus desviou o curso do rio e o fez passar por dentro das cavalariças. Um gesto ousado e claro. E definitivo. E simples. Água limpa esterco. É natural. Não tem artifícios. Operação perfeita. Não cavou passagens laterais, para deixar vazar um pouco por aqui, um pouco por lá. Não abriu e fechou torneiras. Nem chamou os repórteres do tempo para divulgarem a conta-gotas os feitos de um semideus calculista. Não aprisionou água em alguns lugares, por bastante tempo, para, acumulada, acumulada, estourar de repente em manifestações de raiva e espuma. Não. Foi lá, convocou uma enxurrada de limpeza cirúrgica. Sem adiamentos e surpresas. De uma vez só. Sem etapas infindáveis. Para não agir de modo rápido e seguro, Hércules precisaria ter uma agenda mais ampla do que a já difícil limpeza do entulho fétido. Um programa político, por exemplo. Como o de derrubar Áugias. Se Áugias fosse o objetivo final de Hércules, táticas de esticamento do tempo seriam compreensíveis. Esse desejo político seria uma explicação para retenções de fluxos, vazamentos que não limpam, histórias contadas antes de feitas. E, de fato, Hércules chamou Áugias para a briga. Guerreou com ele e com os filhos. Meteu família no meio. Mas depois. Primeiro, limpou o esterco de séculos. Tudo limpo, foi fazer política, que na época era assim que se fazia. E o fez claramente. Não misturou as coisas. Uma era desafio imposto pela deusa. Precisava urgentemente ser cumprido. Ninguém aguentava mais. A sujeira era uma barbaridade. Contaminava tudo no reino. A outra era ambição. Não tinha nada de divino. Era assunto de Hércules com o seu desejo. Nenhuma desculpa acima disso. De modo que foi lá e guerreou. Pronto. O trabalho estava feito. E o rei desafiado para a guerra.
Mas isso foi no tempo em que havia semideuses. E as coisas se jogavam às claras. As necessárias eram feitas porque eram necessárias. E a guerra, a política, não tinham nada com isso. Depois os semideuses acabaram. Os condutores e “homens providenciais” quiseram tomar o seu lugar — e até, por cúmulo, falar em nome de Deus. Que Ele nos livre dos homens providenciais! Eles se imaginam acima dos valores comuns. E enxergam nessa superioridade um sinal de missão. Atuam com astúcia às vezes, às vezes com brutalidade. Parece que, no fundo, até se sentem meio servos da verdade. Mas em nome dela meio-mentem, meio-escondem, meio-mostram. No fim, as cavalariças estão convulsionadas, os touros berram, e o esterco só foi revirado. Os estábulos imortais continuam sujos. Mas a população do reino se impressiona com a operosidade dos candidatos a semideus.
A ponto de não se dar conta de que eles estão, na verdade, só de olho no rei. Se puderem pegá-lo, danem-se os touros. Quem fez a merda que a limpe.
Marcio Tavares D’amaral
A Lava Jato e o crime desorganizado no Brasil
Ao apresentar recente denúncia contra o ex-presidente Lula, procuradores do Ministério Público Federal acusaram-no de ser comandante de uma “organização criminosa”. O uso dessa expressão forte, que continua causando ruídos no Fla-Flu que o cenário político brasileiro se tornou, merece exame mais atento.
Para ser bem claro, a verdade é que os esquemas de propina investigados pela Lava Jato podem ser muita coisa, mas chamá-los de “organização” não parece correto. Há um sutil erro no uso desse termo que vale a pena analisar.
Os criminologistas italianos Della Porta e Vannucci demonstram que para um esquema corrupto funcionar, quando envolve muitas partes e grandes quantias, a corrupção tem de ser sistêmica. E corrupção sistêmica tem duas características principais. Primeiro, tem de haver regras de jogo claras e respeitadas por todos os envolvidos – por exemplo, estabelecendo que, uma vez combinado o valor da propina, o “prestador do serviço” entrega exatamente o prometido pelo preço acertado.
A outra regra fundamental é a obrigação de sigilo, nunca falar da transação e jamais dedurar os participantes. Esta segunda característica mostra a existência de um sistema de “governança” para garantir a adimplência das regras.
Em termos de dinâmicas organizacionais, esses são nada mais, nada menos que os dois pilares do crime organizado propriamente dito. A obrigação de sigilo é o vínculo de coesão dos envolvidos, de comprometimento mútuo – chamado no Brasil de “rabo preso”. Para entrar no grupo um novo integrante tem de ter o “rabo preso” com seus confrades.
Na Máfia siciliana, o arquétipo de crime organizado, esse processo tem nome, Omertà. Para ser aceito como membro pleno da família o novato deve cometer um assassinato. Assim ele fica comprometido. Não só ele, cada participante está da mesma maneira comprometido com os outros. Cada indivíduo possui informações que podem incriminar os demais. Daí, se todos ficam quietos, todos estão protegidos; se um abre a boca, todos se tornam vulneráveis – e a casa pode cair.
O outro pilar é a contrapartida do primeiro. Toda organização criminosa tem um mecanismo para manter seus membros na linha, o que, na prática, envolve ameaçar e intimidar o potencial violador das regras, até usar da violência física se e quando necessário.
No Brasil, essa parte é conhecida como “queima de arquivo”. Porém aqui esse conceito é mais restrito e tem origem na ditadura, quando se referia à eliminação de provas.
Numa organização criminosa, a destruição de evidências comprometedoras é só um aspecto, nem sequer o mais básico, de seu modus operandi. Mais importante é garantir o cumprimento das obrigações, sendo a mais fundamental a de calar a boca. Isso implica enviar uma mensagem clara a potenciais dissidentes advertindo sobre o que vai acontecer com eles se transgredirem.

Olhando pelo prisma desses conceitos, o esquema de corrupção investigado pela Lava Jato representa o ápice do crime desorganizado. Para começar, não havia regras claras – e as que havia nem sempre eram cumpridas. Quem pagava propina não tinha certeza se o acordo seria honrado. Os ditos “lobistas” e outros intermediários ofereciam resolver situações, aceitavam de bom grado o dinheiro e nem sempre entregavam o serviço. Ou pediam mais dinheiro e, ainda assim, às vezes não davam o prometido. Pior, alguns exigiam pagamento de propina na caradura, sem nenhuma oferta em troca e sob ameaça de prejudicar o pagador. Extorsão pura.
Isso ocorria porque não havia ninguém para controlar as transações – isto é, para garantir o cumprimento das regras.
O que se percebe agora, com uma certa perspectiva, é que os esquemas revelados pela Lava Jato eram uma mistura de gula, Lei de Gerson e da mais imaculada sensação de impunidade. Quem pagava propina aceitava seu papel de vítima e otário.
Quando a Lava Jato começou, usando prisão preventiva para forçar delação premiada, com base no modelo italiano da Operação Mãos Limpas, a atividade de dedurar virou bola de neve, superando todas as expectativas dos promotores. Trata-se apenas do antigo jogo do dilema do prisioneiro. Nele, dois presos são postos em celas separadas. Se os dois ficam quietos, ambos se salvam. O objetivo dos captores é convencer ao menos um deles de que seu colega abriu a boca. Se ele acredita nisso, tem de falar também para se salvar ou, pelo menos, mitigar sua situação.
Para usar uma dessas metáforas de filme de máfia, no caso da Lava Jato a delação corre solta porque não há uma equipe de gângsteres durões para passar simples mensagem: cale a boca ou você ou sua família serão mortos. Claro, isso é apenas metafórico – mas, como se viu, a existência de algum tipo de controle pela ameaça é condição sine qua non para configurar a organização criminosa.
Chamar de “crime organizado” os esquemas de falcatruas que envolveram Petrobrás, políticos, empreiteiras, agências de publicidade e outros atores, portanto, chega a ser quase ofensivo a “instituições” como a Máfia, esta, sim, organizada.
Talvez o modelo criminoso mais próximo do que ocorreu no Brasil seja o das gangues, nas quais o vale-tudo impera. Ou, caso se queira ficar em terminologia próxima à eleita pelos procuradores federais, bem cabe a expressão “desorganização criminosa”.
Seja qual for a escolha das palavras, isso demonstra que a situação é ainda mais assustadora do que aquela que seria traduzida por uma “organização”. Nesta, ao menos, há regras, ou seja, algum tipo de limite. No vale-tudo, não.
Chamar de organização o vale-tudo do petrolão é ofender ‘instituições’ como a Máfia siciliana.
Para ser bem claro, a verdade é que os esquemas de propina investigados pela Lava Jato podem ser muita coisa, mas chamá-los de “organização” não parece correto. Há um sutil erro no uso desse termo que vale a pena analisar.
Os criminologistas italianos Della Porta e Vannucci demonstram que para um esquema corrupto funcionar, quando envolve muitas partes e grandes quantias, a corrupção tem de ser sistêmica. E corrupção sistêmica tem duas características principais. Primeiro, tem de haver regras de jogo claras e respeitadas por todos os envolvidos – por exemplo, estabelecendo que, uma vez combinado o valor da propina, o “prestador do serviço” entrega exatamente o prometido pelo preço acertado.
A outra regra fundamental é a obrigação de sigilo, nunca falar da transação e jamais dedurar os participantes. Esta segunda característica mostra a existência de um sistema de “governança” para garantir a adimplência das regras.
Em termos de dinâmicas organizacionais, esses são nada mais, nada menos que os dois pilares do crime organizado propriamente dito. A obrigação de sigilo é o vínculo de coesão dos envolvidos, de comprometimento mútuo – chamado no Brasil de “rabo preso”. Para entrar no grupo um novo integrante tem de ter o “rabo preso” com seus confrades.
Na Máfia siciliana, o arquétipo de crime organizado, esse processo tem nome, Omertà. Para ser aceito como membro pleno da família o novato deve cometer um assassinato. Assim ele fica comprometido. Não só ele, cada participante está da mesma maneira comprometido com os outros. Cada indivíduo possui informações que podem incriminar os demais. Daí, se todos ficam quietos, todos estão protegidos; se um abre a boca, todos se tornam vulneráveis – e a casa pode cair.
O outro pilar é a contrapartida do primeiro. Toda organização criminosa tem um mecanismo para manter seus membros na linha, o que, na prática, envolve ameaçar e intimidar o potencial violador das regras, até usar da violência física se e quando necessário.
No Brasil, essa parte é conhecida como “queima de arquivo”. Porém aqui esse conceito é mais restrito e tem origem na ditadura, quando se referia à eliminação de provas.
Numa organização criminosa, a destruição de evidências comprometedoras é só um aspecto, nem sequer o mais básico, de seu modus operandi. Mais importante é garantir o cumprimento das obrigações, sendo a mais fundamental a de calar a boca. Isso implica enviar uma mensagem clara a potenciais dissidentes advertindo sobre o que vai acontecer com eles se transgredirem.

Isso ocorria porque não havia ninguém para controlar as transações – isto é, para garantir o cumprimento das regras.
O que se percebe agora, com uma certa perspectiva, é que os esquemas revelados pela Lava Jato eram uma mistura de gula, Lei de Gerson e da mais imaculada sensação de impunidade. Quem pagava propina aceitava seu papel de vítima e otário.
Quando a Lava Jato começou, usando prisão preventiva para forçar delação premiada, com base no modelo italiano da Operação Mãos Limpas, a atividade de dedurar virou bola de neve, superando todas as expectativas dos promotores. Trata-se apenas do antigo jogo do dilema do prisioneiro. Nele, dois presos são postos em celas separadas. Se os dois ficam quietos, ambos se salvam. O objetivo dos captores é convencer ao menos um deles de que seu colega abriu a boca. Se ele acredita nisso, tem de falar também para se salvar ou, pelo menos, mitigar sua situação.
Para usar uma dessas metáforas de filme de máfia, no caso da Lava Jato a delação corre solta porque não há uma equipe de gângsteres durões para passar simples mensagem: cale a boca ou você ou sua família serão mortos. Claro, isso é apenas metafórico – mas, como se viu, a existência de algum tipo de controle pela ameaça é condição sine qua non para configurar a organização criminosa.
Chamar de “crime organizado” os esquemas de falcatruas que envolveram Petrobrás, políticos, empreiteiras, agências de publicidade e outros atores, portanto, chega a ser quase ofensivo a “instituições” como a Máfia, esta, sim, organizada.
Talvez o modelo criminoso mais próximo do que ocorreu no Brasil seja o das gangues, nas quais o vale-tudo impera. Ou, caso se queira ficar em terminologia próxima à eleita pelos procuradores federais, bem cabe a expressão “desorganização criminosa”.
Seja qual for a escolha das palavras, isso demonstra que a situação é ainda mais assustadora do que aquela que seria traduzida por uma “organização”. Nesta, ao menos, há regras, ou seja, algum tipo de limite. No vale-tudo, não.
Chamar de organização o vale-tudo do petrolão é ofender ‘instituições’ como a Máfia siciliana.
PT sofreu derrota na urna, mas introduziu Zeitgeist que segue
"Zeitgeist", palavra alemã que, ao contrário do que reza a lenda, Hegel nunca usou, significa o "espírito do tempo" — isto é, as ideias prevalecentes numa época e numa sociedade. Hoje, no Brasil, o zeitgeist pode ser desvendado a partir de três indicadores circunstanciais, entre tantos outros: a Bienal de Arte de São Paulo, o cancelamento da prova específica para ingresso na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU-USP) e o movimento que contesta o ensino da norma culta da língua.
"Faltou arte, que é onde realmente nossas certezas são postas em xeque", diagnostica o crítico Rodrigo Naves, depois de um passeio pelas instalações da Bienal, para completar, certeiro: "ideologias são tigres de papel". Numa avaliação paralela, Ferreira Gullar contrasta a "arte de verdade" com a "arte efêmera" montada pelos artistas de uma exposição dedicada, segundo seu curador, a "questões contemporâneas" como a "ecologia", o "multiculturalismo", o "feminismo" e a "descolonização".
A arte engajada, panfletária, conduzida por "novos Timoneiros, os curadores" (Naves) recicla, quase um século depois, o Proletkult soviético, que dissolveu-se na sopa totalitária do realismo socialista. Os artistas-pedagogos contemporâneos almejam, como seus predecessores, indicar o caminho certo ao povo. A diferença é que eles não contam com o amparo do poder de um Estado profético, mas apenas com a leniência intelectual, a preguiça de pensar, das instituições organizadoras.
O zeitgeist manifestou-se também na FAU-USP. Rotulada como "elitista", a prova de Linguagem Arquitetônica não será aplicada no exame de ingresso em 2017. A professora Raquel Rolnik defendeu a suspensão sob o argumento da "necessidade de democratizar o acesso à faculdade, promovendo ações afirmativas para grupos historicamente marginalizados", enquanto seu colega Renato Cymbalista avançou uma justificativa mais ampla: "Nós formamos um 'arquiteto humanista', que pode atuar em diversos campos: na crítica, na teoria, na curadoria, no ativismo e também nas políticas públicas".
A palavra chave é "ativismo". No desenho, pelo traço, o arquiteto antecipa sua intervenção, testando hipóteses e descortinando possibilidades. Os "antielitistas" querem substituir o traço pelo discurso. Poderiam propor que a FAU, como instituição, seguisse o exemplo de alguns de seus alunos, que criaram o CursinhoLA, um curso gratuito para a prova específica destinado a candidatos de baixa renda. Mas, sem surpresa, preferem imolar o conhecimento, a técnica, no altar do seu "tigre de papel".
A "visão paternalista do povo brasileiro" (Naves, sobre a Bienal) manifesta-se, há anos, na guerrilha contra o ensino prescritivo da língua portuguesa. Tomando como pretexto a crítica moderna, tão necessária, ao ensino tradicional de gramática, os guerrilheiros acusam as escolas e (claro!) a "mídia" de usarem a norma culta escrita como instrumento de "discriminação" e "controle social". Dessa plataforma, suas franjas mais demagógicas propõem a eliminação escolar dos parâmetros unificadores da língua escrita.
Na versão inicial das bases curriculares nacionais, ao lado da abolição da "história ocidental", os demagogos da língua praticamente aboliram a gramática. Assim, escondidos no óbvio, que é o reconhecimento da diversidade no uso da língua, delineiam um programa de oficialização do "apartheid linguístico", condenando os alunos das escolas públicas à incapacidade de apreender o sentido dos textos impressos nos jornais e de apreciar a herança literária portuguesa e brasileira.
"Quando Lula fala, tudo se ilumina", exclamou certa vez Marilena Chaui, formulando uma tese filosófica que, por motivos mais práticos, ganharia a adesão de Marcelo Odebrecht. O PT sofreu uma avassaladora derrota nas urnas, mas o zeitgeist que introduziu segue entre nós.
"Faltou arte, que é onde realmente nossas certezas são postas em xeque", diagnostica o crítico Rodrigo Naves, depois de um passeio pelas instalações da Bienal, para completar, certeiro: "ideologias são tigres de papel". Numa avaliação paralela, Ferreira Gullar contrasta a "arte de verdade" com a "arte efêmera" montada pelos artistas de uma exposição dedicada, segundo seu curador, a "questões contemporâneas" como a "ecologia", o "multiculturalismo", o "feminismo" e a "descolonização".
A arte engajada, panfletária, conduzida por "novos Timoneiros, os curadores" (Naves) recicla, quase um século depois, o Proletkult soviético, que dissolveu-se na sopa totalitária do realismo socialista. Os artistas-pedagogos contemporâneos almejam, como seus predecessores, indicar o caminho certo ao povo. A diferença é que eles não contam com o amparo do poder de um Estado profético, mas apenas com a leniência intelectual, a preguiça de pensar, das instituições organizadoras.
O zeitgeist manifestou-se também na FAU-USP. Rotulada como "elitista", a prova de Linguagem Arquitetônica não será aplicada no exame de ingresso em 2017. A professora Raquel Rolnik defendeu a suspensão sob o argumento da "necessidade de democratizar o acesso à faculdade, promovendo ações afirmativas para grupos historicamente marginalizados", enquanto seu colega Renato Cymbalista avançou uma justificativa mais ampla: "Nós formamos um 'arquiteto humanista', que pode atuar em diversos campos: na crítica, na teoria, na curadoria, no ativismo e também nas políticas públicas".
A "visão paternalista do povo brasileiro" (Naves, sobre a Bienal) manifesta-se, há anos, na guerrilha contra o ensino prescritivo da língua portuguesa. Tomando como pretexto a crítica moderna, tão necessária, ao ensino tradicional de gramática, os guerrilheiros acusam as escolas e (claro!) a "mídia" de usarem a norma culta escrita como instrumento de "discriminação" e "controle social". Dessa plataforma, suas franjas mais demagógicas propõem a eliminação escolar dos parâmetros unificadores da língua escrita.
Na versão inicial das bases curriculares nacionais, ao lado da abolição da "história ocidental", os demagogos da língua praticamente aboliram a gramática. Assim, escondidos no óbvio, que é o reconhecimento da diversidade no uso da língua, delineiam um programa de oficialização do "apartheid linguístico", condenando os alunos das escolas públicas à incapacidade de apreender o sentido dos textos impressos nos jornais e de apreciar a herança literária portuguesa e brasileira.
"Quando Lula fala, tudo se ilumina", exclamou certa vez Marilena Chaui, formulando uma tese filosófica que, por motivos mais práticos, ganharia a adesão de Marcelo Odebrecht. O PT sofreu uma avassaladora derrota nas urnas, mas o zeitgeist que introduziu segue entre nós.
A África para os brasileiros
Por longos e tristes anos, empresários brasileiros mantiveram lucrativos negócios na África, que só cessaram com o fim da escravidão. Passam-se os tempos e os bons negócios voltam - para alguns brasileiros, para alguns africanos. Até um bom dinheirinho na conta de Eduardo Cunha, lembra-se? foi atribuído à venda de carne moída brasileira, enlatada, para a África.
O Quadrilhão, por enquanto o principal processo da Lava Jato, que envolve Lula, o sobrinho de sua primeira esposa, e a Odebrecht, tem tudo a ver com a África - exceto o dinheiro, que passa por lá e volta para os bolsos já preparados para recebê-lo (e distribuí-lo). A Exergia, empresa energética do sobrinho, foi criada, segundo a Polícia Federal, apenas para receber e destinar corretamente os pixulecos da Odebrecht. O sobrinho tinha metade de uma empresa de fechamento de varandas. Criou a Exergia, que firmou 16 contratos com a Odebrecht, financiados pelo BNDES. E sua vida mudou: viagens, jatinhos, gastos exuberantes, contatos com estadistas.
Os diamantes, pedras pequenas e valiosas, fáceis de esconder, sempre foram as favoritas de quem quer contrabandear dinheiro. E consta que Angola, ainda bem relacionada com Portugal, seu ex-colonizador, e com países como Cuba, faz parte do ciclo de movimentação de valores. Se depósitos bancários são monitorados e arrestados, dinheiro embutido em financiamentos internacionais circula com muito mais segurança e garantia.
O Banco Espírito Santo baseou suas operações no triângulo África, Brasil, Espanha; mas cometeu uma série de irregularidades graves. Na mesma época, uma senhora que costumava viajar no avião presidencial brasileiro sem constar na lista de passageiros foi várias vezes à África, e daí a Portugal. Rumores, até hoje não comprovados, citavam a entrega de pacotes e caixotes, talvez lembranças, a funcionários do banco.
E dizia-se que qualquer problema no Espírito Santo se refletiria no pai e no filho.
Todas as histórias estão narradas no relatório da CPI do BNDES. Veja tudinho em "Como Lula operou na África", de Cláudio Tognolli, É grande, mas fascinante. Compensa ler.
O Quadrilhão, por enquanto o principal processo da Lava Jato, que envolve Lula, o sobrinho de sua primeira esposa, e a Odebrecht, tem tudo a ver com a África - exceto o dinheiro, que passa por lá e volta para os bolsos já preparados para recebê-lo (e distribuí-lo). A Exergia, empresa energética do sobrinho, foi criada, segundo a Polícia Federal, apenas para receber e destinar corretamente os pixulecos da Odebrecht. O sobrinho tinha metade de uma empresa de fechamento de varandas. Criou a Exergia, que firmou 16 contratos com a Odebrecht, financiados pelo BNDES. E sua vida mudou: viagens, jatinhos, gastos exuberantes, contatos com estadistas.
Um desses estadistas é o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Seu país é rico, tem petróleo e diamantes; seu povo é pobre, vivendo com cerca de R$ 7 por dia; sua filha é a mulher mais rica da África. E deste relacionamento, diz a investigação, R$ 31 milhões sobram para o sobrinho do homem. Acompanhe o julgamento do Quadrilhão, que pode levar à prisão um ex-presidente e líder popular. Mas tem muito mais.
Os diamantes, pedras pequenas e valiosas, fáceis de esconder, sempre foram as favoritas de quem quer contrabandear dinheiro. E consta que Angola, ainda bem relacionada com Portugal, seu ex-colonizador, e com países como Cuba, faz parte do ciclo de movimentação de valores. Se depósitos bancários são monitorados e arrestados, dinheiro embutido em financiamentos internacionais circula com muito mais segurança e garantia.
O Banco Espírito Santo baseou suas operações no triângulo África, Brasil, Espanha; mas cometeu uma série de irregularidades graves. Na mesma época, uma senhora que costumava viajar no avião presidencial brasileiro sem constar na lista de passageiros foi várias vezes à África, e daí a Portugal. Rumores, até hoje não comprovados, citavam a entrega de pacotes e caixotes, talvez lembranças, a funcionários do banco.
E dizia-se que qualquer problema no Espírito Santo se refletiria no pai e no filho.
Todas as histórias estão narradas no relatório da CPI do BNDES. Veja tudinho em "Como Lula operou na África", de Cláudio Tognolli, É grande, mas fascinante. Compensa ler.
Não faz nexo
A passagem do tempo e as desgraças comprovadas que jorram quase todo santo dia das investigações de corrupção feitas pela Polícia Federal na Operação Lava Jato estão transformando o ex-presidente Lula numa figura cada vez mais absurda. Já se sabe, há pelo menos uns dois anos, que ele está ficando menor a cada escândalo que estoura na sua vizinhança imediata. Também se sabe que sua idade aumenta, como a de todo mundo, mas sua biografia diminui. O que ele apresenta como “obra” vai caindo no esquecimento; o que se lembra, mais e mais, são histórias que parecem compor um prontuário policial. Lula tornou-se o presidente que mais recebeu dinheiro de empreiteiras de obras públicas na história deste país. Enfim, e na frente de todo mundo, vai sumindo velozmente o que ele parece ser — e vai aparecendo o que ele de fato é.
 Nas últimas semanas, como numa vertigem, o ex-presidente se viu denunciado e tornou-se réu sob a acusação de ter praticado crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os dois ministros da Fazenda que teve em seus oito anos de governo foram presos, também por suspeitas de assaltar o Erário. Está na cadeia há mais de um ano o maior empreiteiro de obras públicas do Brasil, com quem ele mantinha relações íntimas. Foram ou estão presos três tesoureiros do PT, um amigo pessoal que tinha, oficialmente, livre trânsito no Palácio do Planalto e altos diretores da Petrobras, com quem despachava diretamente. Sua mulher tornou-se ré junto com ele. Seus filhos estão sob investigação criminal. Sua própria liberdade física, enfim, depende da sentença de um juiz de direito do Estado do Paraná. É um desastre — e no meio dele Lula pretende convencer o Brasil e o mundo de que é um herói. Está conseguindo ser apenas incompreensível.
Nas últimas semanas, como numa vertigem, o ex-presidente se viu denunciado e tornou-se réu sob a acusação de ter praticado crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Os dois ministros da Fazenda que teve em seus oito anos de governo foram presos, também por suspeitas de assaltar o Erário. Está na cadeia há mais de um ano o maior empreiteiro de obras públicas do Brasil, com quem ele mantinha relações íntimas. Foram ou estão presos três tesoureiros do PT, um amigo pessoal que tinha, oficialmente, livre trânsito no Palácio do Planalto e altos diretores da Petrobras, com quem despachava diretamente. Sua mulher tornou-se ré junto com ele. Seus filhos estão sob investigação criminal. Sua própria liberdade física, enfim, depende da sentença de um juiz de direito do Estado do Paraná. É um desastre — e no meio dele Lula pretende convencer o Brasil e o mundo de que é um herói. Está conseguindo ser apenas incompreensível.Como seria possível compreender alguma coisa, realmente, no meio de tudo o que Lula anda dizendo? O ex-presidente insiste em exigir que as pessoas acreditem na seguinte enormidade: que, com todas as denúncias, prisões, confissões, condenações, provas e fatos apresentados acima, ele não tem culpa por nada, absolutamente nada, do que aconteceu em matéria de corrupção no Brasil ao longo dos últimos treze anos. Para ficar só na Lava Jato e no quintal da Petrobras, e só nos primeiros dois anos da operação, completados em março, já houve mais de sessenta acordos que resultaram em confissão de crimes, mais de 100 sentenças de condenação, mais de 1 000 anos somados de penas de prisão e quase 3 bilhões de reais de dinheiro roubado que foram recuperados para os cofres públicos; os procuradores da República pedem que seja devolvido um total superior a 20 bilhões de reais.
Lula não diz uma palavra sobre esses números — repete, o tempo todo, que é o homem “mais inocente” do Brasil. Da mesma forma, não admite a mínima responsabilidade pela destruição da Petrobras durante o seu governo, e durante o da sua sucessora. Que lógica pode haver nisso aí?
A verdade, em toda essa cordilheira de misérias, é que Lula vem com a moral antes de contar a fábula. A moral que ele apresenta é algo mais ou menos assim: “No Brasil, um homem que quer governar para os pobres, como o Lula, acaba sendo processado na Justiça”. E a fábula que levaria a essa moral? Ele não conta; ninguém conta. Tudo o que o ex-presidente e seus admiradores têm é uma teoria. Segundo ela, os ricos brasileiros detestam os pobres, por alguma tara patológica; não toleram, sequer, que viajem de avião. Como Lula governa só fazendo o bem para os pobres, a começar pelas viagens de avião, os ricos precisam destruir a sua carreira política. Primeiro derrubaram sua sucessora na Presidência, para que ficasse desmoralizado, e agora querem que ele seja condenado e preso, para que não possa disputar e ganhar as eleições de 2018. Como chamar de “defesa” uma salada dessas? Lula quer ser reconhecido como o campeão dos pobres quando ninguém, em seus dois governos, ganhou como os milionários — sobretudo os odiados “rentistas”, que tanto amam a dívida pública criada por seu “projeto social”. Ameaça jogar o povo contra quem não concorda com ele — e na última manifestação de rua a que compareceu havia menos de 500 pessoas. Apresenta-se como uma força eleitoral invencível — e na mais importante das eleições municipais, a de São Paulo, vê o candidato que escolheu como seu pior inimigo pular do último para o primeiro lugar nas pesquisas em apenas trinta dias. Diz que até ele chegar à Presidência, em 2003, o Brasil vivia no século XVIII — e por aí vamos.
Lula deixou de fazer nexo.
Sugestão de nome para a presidência do PT
Ninguém deveria se meter na vida do PT — ou na morte, considerando-se o comportamento suicida da legenda. O petismo não lida muito bem com avisos. Mal conduzida, uma tentativa de chamar a atenção do partido pode agravar a situação, reforçando seus impulsos autodestrutivos. Mas já que nenhum petista parece disposto a ajudar, o repórter oferecerá uma sugestão de nome para ocupar a presidência do PT, no lugar de Rui Falcão, o ruinoso.
Eis o melhor nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele líder sindical da década de 80, estalando de pureza moral, respeitado até pelos adversários, poupado pela imprensa. Esse Lula com cheiro de ABC paulista seria uma referência em meio à falência da política tradicional. Impossível imaginá-lo fechando acordos com Sarneys e Renans ou desfrutando de confortos pouco assépticos, fora dos limites do contracheque.
Eis o melhor nome: Luiz Inácio Lula da Silva. Aquele líder sindical da década de 80, estalando de pureza moral, respeitado até pelos adversários, poupado pela imprensa. Esse Lula com cheiro de ABC paulista seria uma referência em meio à falência da política tradicional. Impossível imaginá-lo fechando acordos com Sarneys e Renans ou desfrutando de confortos pouco assépticos, fora dos limites do contracheque.

Como Lula, Olívio é fundador do PT. Cultiva os mesmos valores. Com uma diferença: jamais desapareceu. Ao contrário, reaparece nos momentos mais incômodos. Como no domingo passado, dia em que o eleitor rosnou para o PT.
Ao comentar a situação da legenda numa entrevista radiofônica, Olívio declarou coisas assim: ''Não adianta dizer que a culpa é do Judiciário, do adversário, da grande mídia. Existem erros graves pelos quais as pessoas estão sendo julgadas e algumas até presas.''
Olívio tachou de “legítima, consciente e necessária” a reação do eleitorado. ''O PT tem de levar uma lambada forte mesmo porque errou, e errou seriamente.'' Não cogita deixar o partido. Enxerga espaço para “retomar o caminho certo.” Como? ''Evidente que tem de ter conteúdo e prática muito diferentes desses conteúdos e práticas dos discursos dessa maioria que está dirigindo o partido.''
Tomado pelas palavras, Olívio lembra muito aquele Lula dos idos de 80. Distribuindo lambadas, poderia se converter num bom recomeço.
Desobediência cidadã
Pelo que se viu nas análises sobre o resultado das eleições municipais, ficaram todos muito impressionados com o índice de abstenção. Na verdade, quase igual ao registrado em 2012. Na época foi pouco mais de 16% e agora pouco menos de 18%. Isso no cômputo da votação geral do País. Vistos do ponto de vista local, porém, os números são maiores, sendo o Rio de Janeiro o campeão de ausências com algo em torno de 26%. Um quarto do eleitorado.
A julgar pelo que restou de escolha no segundo turno na cidade realmente maravilhosa, capital do Estado de fato em situação falimentar – Marcelo Crivella contra Marcelo Freixo, duas pontas extremas do espectro ideológico – o prezado leitor e a cara leitora não se iludam e preparem-se: o número de ausentes vai aumentar.
Crescerá também a quantidade dos que consideram mais fácil anular ou optar pelo voto branco do que depois ir atrás de um cartório eleitoral para pagar multa irrisória (na média, menos de R$ 3), a fim de não ficar impedidos de tirar passaporte e carteira de identidade.
Não são apenas essas as penalidades. Quem não vota não pode obter qualquer documento no caso de diplomatas e funcionários do Itamaraty; é excluído de participar de concorrências públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal; não pode obter empréstimos em entidades direta ou indiretamente ligadas ao governo; é vetado na renovação de matrículas em escolas do ensino oficial e da inscrição em concursos públicos ou da tomada de posse nos cargos. Os funcionários públicos não recebem salários no segundo mês subsequente à eleição e todo e qualquer cidadão está impedido de praticar ato de exija quitações do serviço militar ou do Imposto de Renda.

Portanto, as sanções não são leves quando faz crer a vã assertiva segundo a qual o voto no Brasil na prática é facultativo. Entre outros e principal motivo em decorrência da multa irrisória. Importante que as pessoas saibam das restrições e dos aborrecimentos decorrentes da abstenção eleitoral para que não se iludam com a ideia de que na prática o voto é facultativo devido a uma penalidade sem maior significado. O Estado castiga pesado quem não vota, exercitando um direito de não ir às urnas. Coisa que na maioria ampla das democracias no mundo é garantida aos cidadãos.
Nelas, o voto é um direito. Aqui é tratado como obrigação. Imposição negada por boa parte do eleitorado que, por isso, é tratada como alienada, boboca, sem noção. Convicção compartilhada por partidos à direita e à esquerda, que na Constituinte de 1988 derrotaram a proposta do voto facultativo sob o argumento (até hoje vigente) de que o voto obrigatório seria uma garantia democrática em país de pouca educação. Por essa ótica, seria necessário esperar que o Brasil e os brasileiros tivessem um grau cultural tido como “razoável” para ter a liberdade de votar. Ou não.
O eleitor que não quer votar é alvo de preconceito. Visto como alienado, não engajado, praticamente um pária da civilidade. Isso porque se convencionou dizer que o voto obrigatório é uma garantia do exercício da cidadania. Bobagem. O cidadão exerce seus direitos na plenitude se tiver liberdade para tal. Conforme ocorre na quase totalidade das democracias de mundo, nas quais neste aspecto o Brasil é exceção.
Posta na mesa e reconhecida a jabuticaba quase que exclusivamente brasileira, resta reconhecer: o eleitor depôs, derrotou no cotidiano a obrigatoriedade do voto, numa das mais belas, contundentes e definitivas rejeições ao voto obrigatório. Só falta o universo dos políticos cair em si, abrir mão da reserva de mercado e se adequar ao mundo real para defender e adotar o voto facultativo já.
A julgar pelo que restou de escolha no segundo turno na cidade realmente maravilhosa, capital do Estado de fato em situação falimentar – Marcelo Crivella contra Marcelo Freixo, duas pontas extremas do espectro ideológico – o prezado leitor e a cara leitora não se iludam e preparem-se: o número de ausentes vai aumentar.
Crescerá também a quantidade dos que consideram mais fácil anular ou optar pelo voto branco do que depois ir atrás de um cartório eleitoral para pagar multa irrisória (na média, menos de R$ 3), a fim de não ficar impedidos de tirar passaporte e carteira de identidade.
Não são apenas essas as penalidades. Quem não vota não pode obter qualquer documento no caso de diplomatas e funcionários do Itamaraty; é excluído de participar de concorrências públicas nos âmbitos federal, estadual e municipal; não pode obter empréstimos em entidades direta ou indiretamente ligadas ao governo; é vetado na renovação de matrículas em escolas do ensino oficial e da inscrição em concursos públicos ou da tomada de posse nos cargos. Os funcionários públicos não recebem salários no segundo mês subsequente à eleição e todo e qualquer cidadão está impedido de praticar ato de exija quitações do serviço militar ou do Imposto de Renda.

Nelas, o voto é um direito. Aqui é tratado como obrigação. Imposição negada por boa parte do eleitorado que, por isso, é tratada como alienada, boboca, sem noção. Convicção compartilhada por partidos à direita e à esquerda, que na Constituinte de 1988 derrotaram a proposta do voto facultativo sob o argumento (até hoje vigente) de que o voto obrigatório seria uma garantia democrática em país de pouca educação. Por essa ótica, seria necessário esperar que o Brasil e os brasileiros tivessem um grau cultural tido como “razoável” para ter a liberdade de votar. Ou não.
O eleitor que não quer votar é alvo de preconceito. Visto como alienado, não engajado, praticamente um pária da civilidade. Isso porque se convencionou dizer que o voto obrigatório é uma garantia do exercício da cidadania. Bobagem. O cidadão exerce seus direitos na plenitude se tiver liberdade para tal. Conforme ocorre na quase totalidade das democracias de mundo, nas quais neste aspecto o Brasil é exceção.
Posta na mesa e reconhecida a jabuticaba quase que exclusivamente brasileira, resta reconhecer: o eleitor depôs, derrotou no cotidiano a obrigatoriedade do voto, numa das mais belas, contundentes e definitivas rejeições ao voto obrigatório. Só falta o universo dos políticos cair em si, abrir mão da reserva de mercado e se adequar ao mundo real para defender e adotar o voto facultativo já.
A batalha contra os privilégios
O mamute – um paquiderme pré-histórico com espécies que chegavam a alcançar cinco metros de altura e a pesar até dez toneladas – é considerado um dos maiores mamíferos de todos os tempos. Para efeito de comparação, o elefante, seu parente moderno e o maior animal terrestre existente hoje, pesa, no máximo, seis toneladas e sua altura não supera quatro metros. Talvez, por isso, o Estado brasileiro – gigante, pesado e lerdo – seja frequentemente comparado a um mamute. Mesmo com sua força e seu tamanho, o elefante parece acanhado para simbolizar as proporções extraordinárias adquiridas pelo Estado no País.
O fardo estatal se faz sentir sobre os cidadãos e as empresas de forma implacável. Ele se expressa nos impostos de Primeiro Mundo que os brasileiros têm de pagar, em troca de serviços de Terceiro Mundo, na burocracia que emperra o cotidiano das famílias e o desenvolvimento dos negócios e na corrupção endêmica, que cria dificuldades para vender facilidades. Mas, hoje, talvez, nada simbolize tanto o peso que a sociedade tem de carregar para manter o mamute em pé quanto o funcionalismo e seus privilégios.
Nos últimos anos, impulsionado pelo estatismo pregado nos governos Lula e Dilma, com impacto em todo o País, o número de funcionários públicos deu um salto. Segundo uma pesquisa realizada pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-DAPP), o total de funcionários na ativa passou de 5,8 milhões, em 2001, para quase 9 milhões, em 2014, nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) e nos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), – um aumento de 54,4%. Isso sem contar os funcionários terceirizados, principalmente nas áreas de limpeza, segurança e manutenção predial, que somam cerca de 18 mil só no governo federal. O maior crescimento do efetivo, de 94%, aconteceu nos municípios, em parte pelas novas atribuições recebidas com a Constituição de 1988, para criar e manter serviços públicos de alcance local. No Executivo federal, embora o crescimento tenha sido um pouco menor – cerca de 30%, – foram contratados 120 mil novos servidores no período, mais que o dobro do total de trabalhadores do Bradesco, um dos maiores bancos do País.
Também contribuiu para o aumento do número de funcionários a criação de novos Estados e municípios após a promulgação da Constituição de 1988. Desde então, o número de municípios cresceu cerca de 40%, de 3.900 para 5.570. Isso levou ao aumento das representações nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional, ao aumento das bases do Judiciário e à criação de estruturas administrativas para dar suporte aos novos entes federativos. “O povo, para sustentar as novas estruturas, continuou o mesmo”, diz o jurista Ives Gandra da Silva Martins, professor emérito da Universidade Mackenzie, da Escola de Comando e Estado Maior do Exército e da Escola Superior de Guerra.
Com o tsunami de contratações, era inevitável que os gastos com pessoal crescessem em progressão geométrica. Mas eles aumentaram em ritmo ainda mais acelerado que ao das contratações, em decorrência da concessão de aumentos salariais bem acima da inflação para o funcionalismo. O “rombo” existente hoje nos orçamentos do governo federal e de vários Estados e municípios é decorrente, em boa medida, do inchaço da folha de pagamento nesse período. Desde 2001, as despesas com pessoal tiveram um aumento de 127,3%. Passaram de R$ 171,6 bilhões para R$ 390,2 bilhões em 2014, em valores já corrigidos pela inflação. A diferença daria para o governo federal pagar o Bolsa Família, concedido a 13 milhões de beneficiários, de acordo com dados oficiais, por sete anos. A conta das benesses, como sempre, sobrou para os pagadores de impostos. O gasto per capita dos brasileiros para pagar os salários do funcionalismo quase dobrou em 14 anos, de R$ 976 para R$ 1.925, em valores de 2014, também considerando os três níveis de governo e os três Poderes. “A despesa de pessoal do governo é muito grande e tem muita importância na composição de gastos do governo”, afirma o professor Nelson Marconi, coordenador executivo do Fórum de Economia na FGV de São Paulo e um dos responsáveis pela reforma administrativa realizada no governo Fernando Henrique. “O ajuste fiscal tem de passar pela questão de pessoal.”
Enquanto no setor público os salários subiram, em média, cerca de 50% nos três níveis de governo desde 2001, na iniciativa privada o aumento médio ficou em 21,4%, já descontada a inflação do período. O aumento real do funcionalismo, na média, foi mais que o dobro do obtido no setor privado. Essa diferença só encontra paralelo em Portugal, onde alcança 58%, segundo um levantamento feito pelo economista Marcos Köhler, consultor legislativo do Senado. Na Alemanha, os salários do funcionalismo são, em média, 7% menores que no setor privado. Na França, 8%. Mesmo em países em que os salários do setor público são maiores, como Espanha, Grécia e Itália, a diferença fica em torno de 30%, bem aquém do que acontece no Brasil (e em Portugal). “Havia uma grande influência sindical no governo”, diz Köhler. “Isso contribuiu para a obtenção de acordos salariais muito favoráveis pelo funcionalismo no nível federal, que acabaram influenciando o setor público como um todo.”
Obviamente, a média salarial do funcionalismo esconde os casos extremos, tanto na base como no topo da pirâmide. Mas, nos últimos anos, os salários iniciais das diferentes carreiras da administração, em especial na esfera federal, receberam aumentos reais generosos, distanciando-os também dos valores pagos no setor privado. Enquadram-se nessa categoria os motoristas da Câmara Federal, que ganham mais de R$ 12 mil e os garçons do Senado, com salário superior a R$ 17 mil, o menor para servidores efetivos, sem escolaridade, mas com comprovação de “capacidade técnica” para a função. É no andar de cima, porém, que se encontram os casos mais escandalosos, particularmente no Poder Judiciário, onde os valores dos benefícios recebidos “por fora” superam, muitas vezes, os valores dos salários ou chegam bem perto deles, engordando os vencimentos. São tantos os subterfúgios que, em muitos casos, o teto constitucional – que limita os salários do setor público federal aos vencimentos recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aos dos governadores nos estados e aos dos prefeitos nos municípios – tornou-se uma peça de ficção.
Mesmo com salários bem acima da média do mercado, custeados pelos contribuintes, o apetite do funcionalismo parece não ter fim. No momento em que o Brasil real enfrenta a recessão interminável, o desemprego recorde e a queda na renda, os servidores federais, protegidos pela estabilidade no emprego e com a aposentadoria garantida com o mesmo salário da ativa, lotam as galerias do Congresso Nacional para reivindicar, sem constrangimento, a aprovação de aumentos reais de salário e a preservação de suas vantagens. “Alguém teria de dizer para eles que nós estamos numa crise fiscal muito grande e que o que estão pedindo não tem nexo com o mundo real”, afirma Marconi.
Ao mesmo tempo, as greves e ameaças de greves em serviços essenciais, como saúde e segurança, sem desconto dos dias parados e sem risco de represálias, tornaram-se uma realidade que afeta de forma dramática o dia a dia da população, em especial nas faixas de menor renda, que dependem quase exclusivamente dos serviços públicos. “No Brasil, há uma classe que se aproveita de todo o setor privado e manda no País”, diz o economista Antonio Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. “O Brasil é vítima do corporativismo estatal que se apropriou de Brasília.” Segundo o advogado Almir Pazzianotto, o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), é difícil enfrentar os interesses do funcionalismo, porque os servidores têm intimidade com os deputados, senadores e estão dentro do Congresso, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, que deveriam ser os responsáveis pela aprovação de medidas para restringir os privilégios. “A corporação não está pensando no bem comum, mas em seus próprios benefícios”, diz Pazzianotto. “Nós trouxemos a ideia do corporativismo do fascismo. É uma coisa um pouco medieval também, das velhas corporações de ofício, que se organizavam para proteger as atividades profissionais de seus integrantes”.
Embora o espírito de corpo predomine no funcionalismo, nem todos rezam por essa cartilha, Muitos servidores públicos fazem jus ao título. Trabalham duro para servir à população e se preocupam em efetuar suas tarefas com dedicação e eficiência, muitas vezes sob os olhares enviesados dos colegas. As generalizações quase sempre acabam promovendo injustiças. Feita a ressalva, porém, não dá para negar o que qualquer brasileiro que já entrou numa repartição pública pode observar. Em geral, há um contingente razoável de funcionários que, escudados pela estabilidade, fazem o que se costuma chamar em português claro de “enrolação”. Nos cargos de livre nomeação, que somam cerca de 21 mil, conforme os dados oficiais mais recentes, boa parte dos interessados, de acordo com Pazzianotto, já se aproxima dos políticos mal-intencionada, para obter um privilégio, e não para se tornar um servidor exemplar. “O princípio do privilégio é o não comparecimento ao trabalho, não ter a obrigação de cumprir horário”, diz. “Você sempre tem aquele funcionário faltoso, acumula falta, sempre tem atestado médico e você sabe que ele é apenas um ocioso, não quer trabalhar.”
Pazzianotto afirma que, ao assumir a presidência do TST, encontrou em seu gabinete mais de 200 funcionários comissionados, quando precisava de apenas 20. “Eu tinha até funcionário da presidência em Nova York. O marido foi para lá e a mulher foi atrás, devidamente autorizada.” Ele conta que, na ocasião, chamou um funcionário do TST, que já conhecia, para uma conversa. “Eu disse: ‘Escuta fulano, em todos esses anos que estou aqui, vejo você namorando pelos corredores o dia inteiro, está sempre encostado com uma funcionária, não necessariamente a mesma. Comigo você não vai fazer isso. Você vai ter de trabalhar.”
Embora haja muitas áreas com excesso de pessoal, há outras em que falta gente. De acordo com Nelson Marconi, na área administrativa, é comum haver uma quantidade grande de servidores, com baixa produtividade, porque não há tanta cobrança como na iniciativa privada. “De forma geral, daria para cortar fácil, fácil, pelo menos 10% do pessoal”, diz Nelson Marconi. “Na esfera administrativa, poderia ter um corte até maior, de uns 20%.” Por ora, porém, parece pouco provável que, no atual cenário político e econômico, o presidente Michel Temer esteja disposto a abrir mais essa frente de batalha.
O fardo estatal se faz sentir sobre os cidadãos e as empresas de forma implacável. Ele se expressa nos impostos de Primeiro Mundo que os brasileiros têm de pagar, em troca de serviços de Terceiro Mundo, na burocracia que emperra o cotidiano das famílias e o desenvolvimento dos negócios e na corrupção endêmica, que cria dificuldades para vender facilidades. Mas, hoje, talvez, nada simbolize tanto o peso que a sociedade tem de carregar para manter o mamute em pé quanto o funcionalismo e seus privilégios.
Nos últimos anos, impulsionado pelo estatismo pregado nos governos Lula e Dilma, com impacto em todo o País, o número de funcionários públicos deu um salto. Segundo uma pesquisa realizada pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV-DAPP), o total de funcionários na ativa passou de 5,8 milhões, em 2001, para quase 9 milhões, em 2014, nos três níveis de governo (federal, estadual e municipal) e nos três Poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário), – um aumento de 54,4%. Isso sem contar os funcionários terceirizados, principalmente nas áreas de limpeza, segurança e manutenção predial, que somam cerca de 18 mil só no governo federal. O maior crescimento do efetivo, de 94%, aconteceu nos municípios, em parte pelas novas atribuições recebidas com a Constituição de 1988, para criar e manter serviços públicos de alcance local. No Executivo federal, embora o crescimento tenha sido um pouco menor – cerca de 30%, – foram contratados 120 mil novos servidores no período, mais que o dobro do total de trabalhadores do Bradesco, um dos maiores bancos do País.
Com o tsunami de contratações, era inevitável que os gastos com pessoal crescessem em progressão geométrica. Mas eles aumentaram em ritmo ainda mais acelerado que ao das contratações, em decorrência da concessão de aumentos salariais bem acima da inflação para o funcionalismo. O “rombo” existente hoje nos orçamentos do governo federal e de vários Estados e municípios é decorrente, em boa medida, do inchaço da folha de pagamento nesse período. Desde 2001, as despesas com pessoal tiveram um aumento de 127,3%. Passaram de R$ 171,6 bilhões para R$ 390,2 bilhões em 2014, em valores já corrigidos pela inflação. A diferença daria para o governo federal pagar o Bolsa Família, concedido a 13 milhões de beneficiários, de acordo com dados oficiais, por sete anos. A conta das benesses, como sempre, sobrou para os pagadores de impostos. O gasto per capita dos brasileiros para pagar os salários do funcionalismo quase dobrou em 14 anos, de R$ 976 para R$ 1.925, em valores de 2014, também considerando os três níveis de governo e os três Poderes. “A despesa de pessoal do governo é muito grande e tem muita importância na composição de gastos do governo”, afirma o professor Nelson Marconi, coordenador executivo do Fórum de Economia na FGV de São Paulo e um dos responsáveis pela reforma administrativa realizada no governo Fernando Henrique. “O ajuste fiscal tem de passar pela questão de pessoal.”
Enquanto no setor público os salários subiram, em média, cerca de 50% nos três níveis de governo desde 2001, na iniciativa privada o aumento médio ficou em 21,4%, já descontada a inflação do período. O aumento real do funcionalismo, na média, foi mais que o dobro do obtido no setor privado. Essa diferença só encontra paralelo em Portugal, onde alcança 58%, segundo um levantamento feito pelo economista Marcos Köhler, consultor legislativo do Senado. Na Alemanha, os salários do funcionalismo são, em média, 7% menores que no setor privado. Na França, 8%. Mesmo em países em que os salários do setor público são maiores, como Espanha, Grécia e Itália, a diferença fica em torno de 30%, bem aquém do que acontece no Brasil (e em Portugal). “Havia uma grande influência sindical no governo”, diz Köhler. “Isso contribuiu para a obtenção de acordos salariais muito favoráveis pelo funcionalismo no nível federal, que acabaram influenciando o setor público como um todo.”
Obviamente, a média salarial do funcionalismo esconde os casos extremos, tanto na base como no topo da pirâmide. Mas, nos últimos anos, os salários iniciais das diferentes carreiras da administração, em especial na esfera federal, receberam aumentos reais generosos, distanciando-os também dos valores pagos no setor privado. Enquadram-se nessa categoria os motoristas da Câmara Federal, que ganham mais de R$ 12 mil e os garçons do Senado, com salário superior a R$ 17 mil, o menor para servidores efetivos, sem escolaridade, mas com comprovação de “capacidade técnica” para a função. É no andar de cima, porém, que se encontram os casos mais escandalosos, particularmente no Poder Judiciário, onde os valores dos benefícios recebidos “por fora” superam, muitas vezes, os valores dos salários ou chegam bem perto deles, engordando os vencimentos. São tantos os subterfúgios que, em muitos casos, o teto constitucional – que limita os salários do setor público federal aos vencimentos recebidos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) aos dos governadores nos estados e aos dos prefeitos nos municípios – tornou-se uma peça de ficção.
Mesmo com salários bem acima da média do mercado, custeados pelos contribuintes, o apetite do funcionalismo parece não ter fim. No momento em que o Brasil real enfrenta a recessão interminável, o desemprego recorde e a queda na renda, os servidores federais, protegidos pela estabilidade no emprego e com a aposentadoria garantida com o mesmo salário da ativa, lotam as galerias do Congresso Nacional para reivindicar, sem constrangimento, a aprovação de aumentos reais de salário e a preservação de suas vantagens. “Alguém teria de dizer para eles que nós estamos numa crise fiscal muito grande e que o que estão pedindo não tem nexo com o mundo real”, afirma Marconi.
Ao mesmo tempo, as greves e ameaças de greves em serviços essenciais, como saúde e segurança, sem desconto dos dias parados e sem risco de represálias, tornaram-se uma realidade que afeta de forma dramática o dia a dia da população, em especial nas faixas de menor renda, que dependem quase exclusivamente dos serviços públicos. “No Brasil, há uma classe que se aproveita de todo o setor privado e manda no País”, diz o economista Antonio Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura. “O Brasil é vítima do corporativismo estatal que se apropriou de Brasília.” Segundo o advogado Almir Pazzianotto, o ex-ministro do Trabalho e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), é difícil enfrentar os interesses do funcionalismo, porque os servidores têm intimidade com os deputados, senadores e estão dentro do Congresso, das Assembleias Legislativas e das Câmaras Municipais, que deveriam ser os responsáveis pela aprovação de medidas para restringir os privilégios. “A corporação não está pensando no bem comum, mas em seus próprios benefícios”, diz Pazzianotto. “Nós trouxemos a ideia do corporativismo do fascismo. É uma coisa um pouco medieval também, das velhas corporações de ofício, que se organizavam para proteger as atividades profissionais de seus integrantes”.
Embora o espírito de corpo predomine no funcionalismo, nem todos rezam por essa cartilha, Muitos servidores públicos fazem jus ao título. Trabalham duro para servir à população e se preocupam em efetuar suas tarefas com dedicação e eficiência, muitas vezes sob os olhares enviesados dos colegas. As generalizações quase sempre acabam promovendo injustiças. Feita a ressalva, porém, não dá para negar o que qualquer brasileiro que já entrou numa repartição pública pode observar. Em geral, há um contingente razoável de funcionários que, escudados pela estabilidade, fazem o que se costuma chamar em português claro de “enrolação”. Nos cargos de livre nomeação, que somam cerca de 21 mil, conforme os dados oficiais mais recentes, boa parte dos interessados, de acordo com Pazzianotto, já se aproxima dos políticos mal-intencionada, para obter um privilégio, e não para se tornar um servidor exemplar. “O princípio do privilégio é o não comparecimento ao trabalho, não ter a obrigação de cumprir horário”, diz. “Você sempre tem aquele funcionário faltoso, acumula falta, sempre tem atestado médico e você sabe que ele é apenas um ocioso, não quer trabalhar.”
Pazzianotto afirma que, ao assumir a presidência do TST, encontrou em seu gabinete mais de 200 funcionários comissionados, quando precisava de apenas 20. “Eu tinha até funcionário da presidência em Nova York. O marido foi para lá e a mulher foi atrás, devidamente autorizada.” Ele conta que, na ocasião, chamou um funcionário do TST, que já conhecia, para uma conversa. “Eu disse: ‘Escuta fulano, em todos esses anos que estou aqui, vejo você namorando pelos corredores o dia inteiro, está sempre encostado com uma funcionária, não necessariamente a mesma. Comigo você não vai fazer isso. Você vai ter de trabalhar.”
Embora haja muitas áreas com excesso de pessoal, há outras em que falta gente. De acordo com Nelson Marconi, na área administrativa, é comum haver uma quantidade grande de servidores, com baixa produtividade, porque não há tanta cobrança como na iniciativa privada. “De forma geral, daria para cortar fácil, fácil, pelo menos 10% do pessoal”, diz Nelson Marconi. “Na esfera administrativa, poderia ter um corte até maior, de uns 20%.” Por ora, porém, parece pouco provável que, no atual cenário político e econômico, o presidente Michel Temer esteja disposto a abrir mais essa frente de batalha.
Da minha mesa de trabalho
O mesmo não acontece com o envelhecimento. Cada qual envelhece de maneira própria. Uns são grisalhos aos trinta anos, outros só aos sessenta. Engordamos. Rugas se aninham nos olhos. Hormônios desaparecem. Juntas sofrem. Tudo isso em diferentes idades e de maneiras diversas. Somos o resultado das nossas escolhas pregressas, da genética e do acaso.
Estou num momento em que tenho amigas da mesma idade que eu, amigas vinte anos mais velhas e amigas tão jovens que poderiam ser minhas filhas.
Dizem que envelhecer está na cabeça. Não é bem verdade. O corpo envelhece. Há dores. Perde-se audição, visão, um tanto de mobilidade, mesmo para aqueles mais devotos à vida saudável, restrições abundam.. É uma batalha constante o mero sobreviver.
 |
John Holcroft |
Recentemente ajudei uma amiga a instalar alguns aplicativos no seu celular. Ela, já na oitava década de vida, saiu da comunicação por papel à comunicação por celular sem passar pelo email. Nunca dominou a arte de receber e passar emails. Ela não está sozinha. Há ainda muita resistência aos “novos métodos”. A divulgação constante de fraudes na internet não ajuda a quem já fragilizado pela idade, se sente um pária no mundo informatizado. Vulnerável.
A resistência às inovações aumenta a percepção do envelhecimento. Todos nós preferimos o que conhecemos. Mudar requer esforço. Tenho visto muita resistência à entrada nas redes sociais pelas amigas mais idosas. Pena. Perdem a oportunidade de se conectar com netos, sobrinhos, amigos distantes e de fazer novos conhecidos. Já vivem uma vida de grande reclusão, este seria um bom paliativo para o distanciamento. Vejo também resistência ao livro eletrônico. No entanto, ele é de grande ajuda para quem já não enxerga tão bem e para quem não pode levantar muito peso na mão artrítica. Não só o livro ficaria mais fácil de segurar, como o preço reduzido ajudaria no bolso cada vez mais vazio do aposentado.
Produtos eletrônicos poderiam servir melhor a todos, com botões de fácil manejo para dedos imprecisos e explicações claras, beabá, porque nem todos têm um adolescente na família que possa ou queira dar instruções a seus familiares.
Não está fácil essa adaptação ao mundo virtual, para os mais velhos ou para quem resiste a mudanças. Mas assim como temos que nos exercitar e comer equilibradamente, também temos que nos manter em dia com as inovações. Não adianta resistir. O mundo muda, sempre, a toda hora. Mesmo que seja incômodo, temos que ir junto. Seria uma maneira do envelhecimento se tornar um pouco menos restritivo.
Ladyce West
Rodriguiana
Escoando pelo ralo
O prefeito eleito de São Paulo anuncia a venda de imóveis do município para investir em saúde. O governo do Rio de Janeiro, que já vendeu os royalties futuros, quebrou. O governo federal financiará empresas privadas para implantar o saneamento que as públicas não fizeram. É só falta de dinheiro?
A grande cidade é recente, fruto da industrialização; até então, os problemas urbanos eram restritos. A iniciativa urbanística era dos empreendedores privados, muitas vezes a família dos reis. Foi na reforma de Paris, 1853-70, que o Estado assumiu a cidade como instância pública, responsabilizando-se pelas intervenções urbanísticas, infraestruturas e serviços urbanos. No mundo desenvolvido assim continua.
Nova York, Londres e Tóquio, para ficar nas maiores cidades capitalistas, que, por óbvio, não fazem restrição à iniciativa privada, têm poderosos sistemas públicos de planejamento urbano e de controle dos serviços. Não é o nosso caso.

No Brasil, passamos do laissez-faire da República Velha para a onipotência discursiva do Estado moderno, no papel. Na vida real, o Estado é atuante só em partes da cidade. Nas outras, sua omissão faz escassear ou inexistir o controle urbanístico, as infraestruturas e os serviços públicos, inclusive o de segurança.
Agora, está na pauta política o financiamento para a privatização de serviços de saneamento. É uma atitude que decorre da situação calamitosa em que se encontram as cidades brasileiras. Contudo, é preciso ponderar.
O saneamento é comumente considerado como água e esgoto. Mas não pode estar dissociado dos resíduos sólidos nem das águas pluviais, que, por sua vez, são relacionados com a urbanização, com a ocupação do território, com as políticas habitacionais e de mobilidade.
Ora, tudo isso é interdependente, pedindo ação coordenada e planejamento. Não é o que temos.
Mas é possível planejar nos tempos da incerteza?
É claro que o modelo do controle total, como queriam os modernos, não se sustenta. Nem é desejável. Justamente pela incerteza é que precisamos de estudo e acompanhamento daquilo que intervém na qualidade da vida urbana. Ante a complexidade da cidade contemporânea, são tais instrumentos que indicam os ajustes para a decisão política consequente. Sem eles, seguimos entregues à discricionariedade de governantes e de seus acordos pouco ou nada republicanos. E como são custosos!
A questão se acentua quando se sabe que, nesta geração, as cidades brasileiras construirão como nunca antes. Só o Rio metropolitano passará de quatro para seis milhões de moradias. (Isso sem crescimento populacional, que não haverá.) É um novo ciclo urbanístico, sem precedente.
Onde se construirão as novas moradias? Como o tratamento dos esgotos será efetivo, no horizonte de 25 anos, se estiver alheio a tal realidade?
Não é questão acadêmica: cidade compacta versus cidade expandida. O modelo atual leva ao espraiamento da cidade. Se nele persistirmos, (como a população não aumentará) os bairros consolidados perderão moradores, logo vitalidade, tornando ociosas as infraestruturas instaladas.
A ineficiência de empresas de saneamento, como no Rio, está associada ao modo como elas atuam, isoladas das demais políticas urbanas e apegadas à gestão corporativo-partidarizada. A eventual privatização superará esta segunda causa; não é pouco.
Mas a consistência de investimentos em programas setoriais de longo prazo depende da organização de sistemas de planejamento urbano e metropolitano para o indispensável redesenho das cidades ante o desafio desse novo ciclo urbanístico. A anunciada abertura de financiamento sugere um estímulo nesse sentido, ao qual possivelmente estará atento o Ministério das Cidades.
É só falta de dinheiro? Falta também Estado nas cidades brasileiras onde ele é insubstituível. E sobra onde é dispensável. Sem estudos consistentes, sem projeto para décadas, as escolhas serão aleatórias — os governantes continuarão tentando vender o que restar, os recursos escorrendo para o ralo.
Sérgio Magalhães
A grande cidade é recente, fruto da industrialização; até então, os problemas urbanos eram restritos. A iniciativa urbanística era dos empreendedores privados, muitas vezes a família dos reis. Foi na reforma de Paris, 1853-70, que o Estado assumiu a cidade como instância pública, responsabilizando-se pelas intervenções urbanísticas, infraestruturas e serviços urbanos. No mundo desenvolvido assim continua.
Nova York, Londres e Tóquio, para ficar nas maiores cidades capitalistas, que, por óbvio, não fazem restrição à iniciativa privada, têm poderosos sistemas públicos de planejamento urbano e de controle dos serviços. Não é o nosso caso.

Agora, está na pauta política o financiamento para a privatização de serviços de saneamento. É uma atitude que decorre da situação calamitosa em que se encontram as cidades brasileiras. Contudo, é preciso ponderar.
O saneamento é comumente considerado como água e esgoto. Mas não pode estar dissociado dos resíduos sólidos nem das águas pluviais, que, por sua vez, são relacionados com a urbanização, com a ocupação do território, com as políticas habitacionais e de mobilidade.
Ora, tudo isso é interdependente, pedindo ação coordenada e planejamento. Não é o que temos.
Mas é possível planejar nos tempos da incerteza?
É claro que o modelo do controle total, como queriam os modernos, não se sustenta. Nem é desejável. Justamente pela incerteza é que precisamos de estudo e acompanhamento daquilo que intervém na qualidade da vida urbana. Ante a complexidade da cidade contemporânea, são tais instrumentos que indicam os ajustes para a decisão política consequente. Sem eles, seguimos entregues à discricionariedade de governantes e de seus acordos pouco ou nada republicanos. E como são custosos!
A questão se acentua quando se sabe que, nesta geração, as cidades brasileiras construirão como nunca antes. Só o Rio metropolitano passará de quatro para seis milhões de moradias. (Isso sem crescimento populacional, que não haverá.) É um novo ciclo urbanístico, sem precedente.
Onde se construirão as novas moradias? Como o tratamento dos esgotos será efetivo, no horizonte de 25 anos, se estiver alheio a tal realidade?
Não é questão acadêmica: cidade compacta versus cidade expandida. O modelo atual leva ao espraiamento da cidade. Se nele persistirmos, (como a população não aumentará) os bairros consolidados perderão moradores, logo vitalidade, tornando ociosas as infraestruturas instaladas.
A ineficiência de empresas de saneamento, como no Rio, está associada ao modo como elas atuam, isoladas das demais políticas urbanas e apegadas à gestão corporativo-partidarizada. A eventual privatização superará esta segunda causa; não é pouco.
Mas a consistência de investimentos em programas setoriais de longo prazo depende da organização de sistemas de planejamento urbano e metropolitano para o indispensável redesenho das cidades ante o desafio desse novo ciclo urbanístico. A anunciada abertura de financiamento sugere um estímulo nesse sentido, ao qual possivelmente estará atento o Ministério das Cidades.
É só falta de dinheiro? Falta também Estado nas cidades brasileiras onde ele é insubstituível. E sobra onde é dispensável. Sem estudos consistentes, sem projeto para décadas, as escolhas serão aleatórias — os governantes continuarão tentando vender o que restar, os recursos escorrendo para o ralo.
Sérgio Magalhães
Doenças que atingem mais de 1 bilhão são 'esquecidas'
Enquanto a epidemia do virus zika se espalha para outras partes do mundo, centenas de milhões de pessoas em países em desenvolvimento sofrem de "doenças tropicais negligenciadas", ou DTNs.
Surtos como o de zika, emergência internacional presente hoje em mais de 60 países e territórios, vêm e vão ao longo do tempo e ganham as manchetes da imprensa. Porém, silenciosamente, mais de 1 bilhão de pessoas em 149 países sofrem com as doenças tropicais negligenciadas.
Trata-se de um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre populações pobres da África, Ásia e América Latina.
Reflexo da falta de interesse de autoridades competentes e baixo investimento em pesquisa para tratamento ou cura, essas doenças acabam replicando, em populações atingidas, ciclos de pobreza e desenvolvimento infantil deficitário, além de impactar negativamente taxas de fertilidade, natalidade e produtividade.
Essas enfermidades assumem diferentes formas, e incluem vermes que penetram na pele, parasitas que causam cegueira e insetos que se alimentam de sangue.
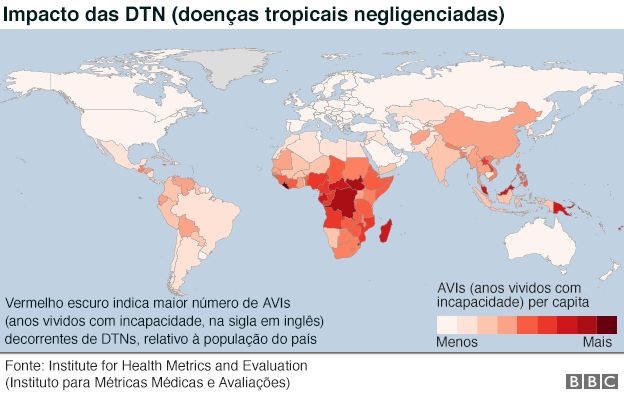
Surtos como o de zika, emergência internacional presente hoje em mais de 60 países e territórios, vêm e vão ao longo do tempo e ganham as manchetes da imprensa. Porém, silenciosamente, mais de 1 bilhão de pessoas em 149 países sofrem com as doenças tropicais negligenciadas.
Trata-se de um grupo de doenças tropicais endêmicas, especialmente entre populações pobres da África, Ásia e América Latina.
Reflexo da falta de interesse de autoridades competentes e baixo investimento em pesquisa para tratamento ou cura, essas doenças acabam replicando, em populações atingidas, ciclos de pobreza e desenvolvimento infantil deficitário, além de impactar negativamente taxas de fertilidade, natalidade e produtividade.
Essas enfermidades assumem diferentes formas, e incluem vermes que penetram na pele, parasitas que causam cegueira e insetos que se alimentam de sangue.
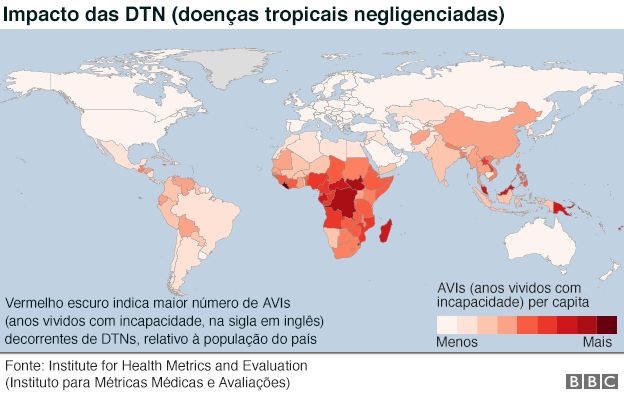
A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece 18 doenças como DTNs: dengue, raiva, tracoma, úlcera de Buruli, bouba, hanseníase, doença de Chagas, doença do sono, leishmaniose, teníase/neurocisticercose, dracunculíase, equinococose, trematodíases de origem alimentar, filariose linfática, oncocercose (cegueira dos rios), esquistossomose, helmintíases transmitidas pelo solo e micetoma.
No Brasil, a DTN que tem maior incidência, em números absolutos, é a dengue, segundo os Médicos Sem Fronteiras. Outra doença preocupante em território nacional é a hanseníase (lepra): o Ministério da Saúde registrou cerca de 28 mil novos casos de infecção em 2015.
Diferentemente da infecção por zika ou ebola - ou da gripe do frango e da Sars, voltando um pouco no tempo -, há pouco risco de as DTNs se espalharem pelo mundo desenvolvido.
Os atingidos se concentram em áreas rurais remotas ou aglomerados urbanos, e a voz dessas pessoas quase não se faz ouvir pelo mundo.
No Brasil, a DTN que tem maior incidência, em números absolutos, é a dengue, segundo os Médicos Sem Fronteiras. Outra doença preocupante em território nacional é a hanseníase (lepra): o Ministério da Saúde registrou cerca de 28 mil novos casos de infecção em 2015.
Diferentemente da infecção por zika ou ebola - ou da gripe do frango e da Sars, voltando um pouco no tempo -, há pouco risco de as DTNs se espalharem pelo mundo desenvolvido.
Os atingidos se concentram em áreas rurais remotas ou aglomerados urbanos, e a voz dessas pessoas quase não se faz ouvir pelo mundo.
Assinar:
Comentários (Atom)







