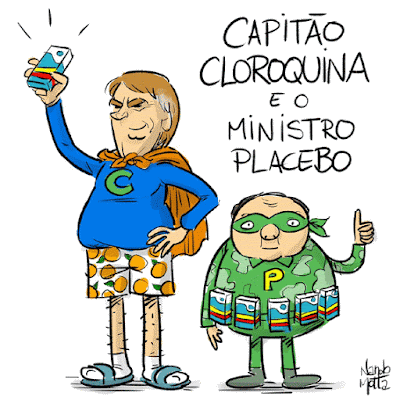Como manda a lei, o dono do restaurante foi preso e autuado em flagrante. Já Bolsonaro, mesmo reincidente, continua a incitar o uso de armas contra desafetos e nada acontece. Ao contrário: lidera uma turba que cada vez se sente mais à vontade para aniquilar o inimigo.
Bolsonaro tem um amor especial por armas e jamais escondeu isso. O que mudou de 2018 para cá foram os argumentos para defender os tiros.
Na campanha e nos primeiros tempos de governo, o presidente era o mocinho. Tinha o cuidado tático de vincular o porte e a posse à defesa pessoal e até ao tiro recreativo. O alegado “direito à arma” estava atrelado ao direito do cidadão de proteger a sua família e a ele próprio. Os debates se davam no limite entre a função exclusiva do Estado de prover a segurança do cidadão, definida na Constituição, e a legítima defesa.
Na fatídica reunião ministerial de abril, na qual se escancararam o ódio e o desprezo de Bolsonaro e sua equipe pelo país e suas instituições, o presidente, entre um palavrão e outro, deixou claros os motivos de insistir em armar os brasileiros. “O povo armado jamais será escravizado”.
A partir dali, o papo de segurança pessoal e autodefesa não mais frequentou a boca do presidente. Sem qualquer escrúpulo, Bolsonaro passou a sustentar o uso de armas contra o que ele, na sua visão torta, define como “ditatorial”. Na semana passada, acrescentou um desafio: “Eu não tenho medo do povo armado, muito pelo contrário, me sinto muito bem, estar ao lado do povo armado do nosso Brasil”, jogando a aura de covardia sobre adversários de revólveres, pistolas, fuzis e metralhadoras.
Como arrotar impropérios é prática cotidiana do presidente, as declarações da última quinta-feira passaram batidas, embora revelem, com todas as letras, suas macabras intenções.
Além de bajular as Forças Armadas, dos recrutas ao generalato, e as polícias militares, que quer ver sob seu mando, fora da alçada dos governadores, Bolsonaro investe em acelerar a liberação de todo tipo de armamento e munições para seus adoradores, garantindo proteção extra. E, por óbvio, legalizar os fuzis de companheiros milicianos.
Mesmo com alguns freios impostos pelo Congresso e pelo STF às tentativas do governo de armar o país, as novas armas de fogo registradas em 2020 chegaram a 180 mil, 91% a mais do que as 94 mil de 2019, número que já era recorde. Na outra ponta, os homicídios voltaram a subir após dois anos de queda, batendo na marca de um assassinato a cada 10 minutos.
O crescimento de mortes por tiros pode até não ser efeito direto de mais armas em circulação, mas não pairam dúvidas quanto aos estímulos oficiais à violência nos números apurados.
E pode piorar. Para além do excludente de ilicitude, que prevê livrar policiais que matam por “medo, surpresa ou violenta emoção”, proposta rejeitada pela Câmara que Bolsonaro promete reavivar, o presidente parece querer incluir mais uma excrescência: perdão aos assassinos por sentimentos contrariados.
Nessa hipótese, o rol de crimes perdoáveis passaria a incluir os que matam por se sentir “escravizados” ou prejudicados por um “governador ditador” como Doria, cujo “delito” foi exigir, por zelo sanitário, o fechamento de bares e restaurantes, motivando a recompensa para eliminá-lo. Como tudo tem outro lado, as regras valeriam também para liberar Adélio Bispo, que, para sorte do então candidato Bolsonaro, tinha uma faca e não um revólver.
Tem-se como certo que o sucesso de um governante é ditado pela economia. Bolsonaro sabe que dificilmente terá algum êxito nessa seara em seu biênio final. Sua crença é outra: desde já quer estar pronto para ir a campo. Vislumbra ter todos os fardados ao seu lado - as três Forças, policiais militares e uma milícia de fiéis armados até aos dentes. Se precisar agir em 2022, o fará enquanto os escrutinadores contam os votos impressos.
Mary Zaidan
Mary Zaidan