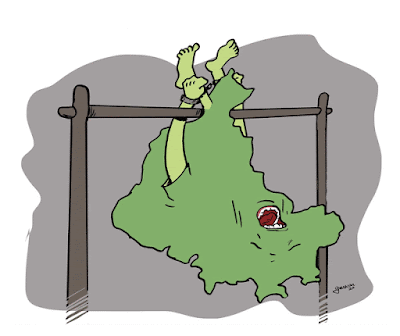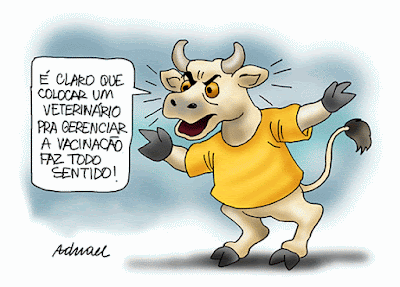Os atos de Bolsonaro podem parecer contraditórios e dar a impressão de uma biruta giratória que age ao sabor dos ventos. Mas não são inconsistentes. Há um objetivo claro por trás deles, com prioridades definidas e um estilo próprio de governo. De certa forma, o Brasil de Bolsonaro se assemelha a um condomínio em que o síndico é um capitão do Exército. Quer mandar em tudo, tem seus condôminos prediletos, em favor dos quais se desdobra.
A ordem das prioridades é conhecida. Primeiro, a família, como ficou claro na decisão do STJ que deverá livrar o filho Flávio, o Zero Um, no caso das rachadinhas. Em seguida, policiais, milicianos, militares, caminhoneiros e a claque que bate palmas e o chama de “mito” a cada barbaridade que solta (em especial na pauta de costumes). Suas decisões são tomadas pensando apenas nesses públicos, e para eles vale tudo o que estiver a seu alcance.
Vale acenar com uma vaga no STF ao ministro do STJ que julgará recursos da defesa de seu filho num caso repleto de provas. Vale demitir o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, para tentar manipular o preço do diesel em favor de sua base eleitoral de caminhoneiros. Pouco importa que, na tentativa de zerar os impostos federais sobre o combustível, deixe de indicar uma compensação pela perda de receita, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Vale emitir decretos por cima da competência do Legislativo para facilitar o acesso a armas, com o objetivo velado de reunir uma milícia particular, tornando letra morta o Estatuto do Desarmamento. Vale interferir em todas as reformas, a começar pela da Previdência, para incluir artigos que privilegiem as corporações de policiais e militares. Vale usar a política externa para agradar a grupos religiosos, ainda que isso tenha transformado o país num pária nos organismos internacionais.
Vale, por fim, embarcar no negacionismo científico, desdenhar máscaras, vacinas e o distanciamento social para vender ilusões aos incautos, sem a menor sombra de preocupação com os 250 mil mortos pela Covid-19.
Enquanto Bolsonaro fizer tudo isso dentro da lei, está em seu direito. E não existem, até o momento, as circunstâncias políticas associadas a um processo de impeachment. O que existe é, apenas e tão somente, a nítida sensação, comprovada dia após dia, de que, na lista de prioridades de Bolsonaro, o Brasil está abaixo de tudo.