
segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017
Palco iluminado
Do Pacífico não se ouvem os pandeiros. Pelas fotos na internet, parece que eles estão esquentando. Mas ninguém parece mais querer conhecer a nossa batucada. De qualquer modo, ainda bem que o Carnaval está chegando.
Comemorar é bom. E merecido, considerando o sofrimento dos outros 360 dias do ano. Além disso, nos trópicos a gente se permite a começar o ano na 4ª feira de cinzas. Privilegio, diga-se, que não é para qualquer nação.
Melhor que isso, quem sabe depois do Carnaval aconteça alguma novidade. A gente bem que precisa. Faz tempo que tudo é velho. As tramas. Os protagonistas. As histórias. As ideias. Até as notícias. Tudo passado da validade.
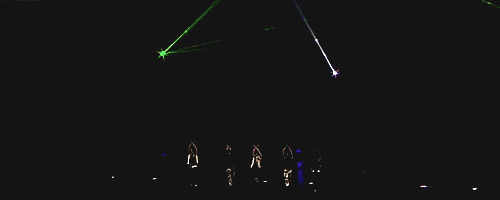 Não existe hoje exercício mais rematado de perda de tempo do que comentar os fatos e as notícias diárias, ou mesmo semanais. Tudo já vem velho, embolorado, repetitivo. Sempre mais do mesmo.
Não existe hoje exercício mais rematado de perda de tempo do que comentar os fatos e as notícias diárias, ou mesmo semanais. Tudo já vem velho, embolorado, repetitivo. Sempre mais do mesmo.
Não existem mais escândalos novos. Apenas versões mais graves dos anteriores. Sequer os desafios mudam. Continuam os mesmos. Atravessam gerações. E não são encarados. Vão sendo levados a golpes de barriga, em sucessão interminável de jeitinhos, quebra-galhos, ou simplesmente abandono.
Como Sísifos reencarnados, seguimos condenados a repetição e a futilidade do esforço desperdiçado. Repetimos sempre os mesmos erros, invalidando completamente o duro esforço despendido. Tem faltado sentido, unidade e clareza no rosto de um mundo ininteligível.
Não surpreende. Somos governados por versões imperfeitas de Narciso. Sempre tão preocupados com seus próprios interesses que vivem isolados sem sentir, ouvir ver ou enxergar a vida como ela é. E manifestam diariamente o desprezo por aqueles que deveriam representar.
Daqui a pouco já é Carnaval. Tempo de usar os guizos falsos da alegria e andar cantando nossas fantasias. E, quem sabe, enquanto pisamos nos astros distraídos, ainda que sem querer, deixemos de ser palhaços de nossas perdidas ilusões.
Comemorar é bom. E merecido, considerando o sofrimento dos outros 360 dias do ano. Além disso, nos trópicos a gente se permite a começar o ano na 4ª feira de cinzas. Privilegio, diga-se, que não é para qualquer nação.
Melhor que isso, quem sabe depois do Carnaval aconteça alguma novidade. A gente bem que precisa. Faz tempo que tudo é velho. As tramas. Os protagonistas. As histórias. As ideias. Até as notícias. Tudo passado da validade.
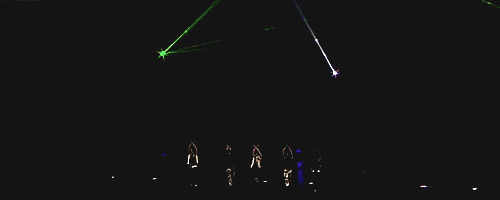
Não existem mais escândalos novos. Apenas versões mais graves dos anteriores. Sequer os desafios mudam. Continuam os mesmos. Atravessam gerações. E não são encarados. Vão sendo levados a golpes de barriga, em sucessão interminável de jeitinhos, quebra-galhos, ou simplesmente abandono.
Como Sísifos reencarnados, seguimos condenados a repetição e a futilidade do esforço desperdiçado. Repetimos sempre os mesmos erros, invalidando completamente o duro esforço despendido. Tem faltado sentido, unidade e clareza no rosto de um mundo ininteligível.
Não surpreende. Somos governados por versões imperfeitas de Narciso. Sempre tão preocupados com seus próprios interesses que vivem isolados sem sentir, ouvir ver ou enxergar a vida como ela é. E manifestam diariamente o desprezo por aqueles que deveriam representar.
Daqui a pouco já é Carnaval. Tempo de usar os guizos falsos da alegria e andar cantando nossas fantasias. E, quem sabe, enquanto pisamos nos astros distraídos, ainda que sem querer, deixemos de ser palhaços de nossas perdidas ilusões.
Mas é a lei
O que está acontecendo conosco? Como chegamos a este ponto? Como pretendemos ser uma nação digna desse nome se todo mundo parece fazer questão absoluta de deixar de cumprir a lei? Ou, pelo menos, é capaz de qualquer esperteza e malabarismo moral para garantir que ela não se aplique no seu caso. Até mesmo os legisladores, que fazem as leis, não demonstram o menor respeito por elas. E os que ocupam o Executivo e deveriam executá-las, depois de manobras, jeitinhos e pedaladas de todo tipo para se livrar dessa obrigação, ainda posam de vítimas e jogam a culpa nos outros. Sem esquecer que abusam de uma pretensa criatividade que não engana ninguém, ao buscarem anistias de todo tipo que anulem seus delitos no caso de serem descobertos.
Esse comportamento de vitimização associada à culpabilização alheia é parte integral da maneira como funciona o mecanismo perverso. Começa pela negação da realidade, tão conhecida e já estudada desde Freud. O sujeito se recusa a tomar conhecimento dos fatos reais, substituindo-os por falsidades e versões deturpadas, agora chamadas de fatos alternativos, pós-verdades, contranarrativas. Em seguida, na construção de um relato imaginário de martírio ou heroísmo, cultiva a disseminação de ressentimentos que espalhem e propiciem atitudes coletivas de cobrança e revanche, hostilidade e agressão difusa e indiscriminada dirigida contra todo e qualquer cidadão passível de não ser mais visto como próximo, compatriota ou merecedor de respeito, solidariedade ou compreensão — e então passa a conveniente alvo de agressão e justiçamento.

Caímos assim neste insuportável clima que vivemos, em que as pessoas parecem bandos de feras, alcateias de lobos ferozes à solta buscando quem atacar. Linchamentos digitais cotidianos extrapolam para eventuais linchamentos físicos. A estupidez ultrapassa todos os limites. Ativistas de uma nobre causa como o combate ao racismo se dão o direito de agredir quem amarra um lenço na cabeça, em nome da preservação do uso de turbantes como ridículo monopólio de um princípio inexistente. Mas o absurdo do episódio baseado numa falsidade não impede que a vítima sofra uma dor real.
Aliás, ninguém se sente responsável por nada. A ciclovia que desabou com a primeira onda mais forte e matou pessoas cai no mesmo poço de irresponsabilidade que a barragem que estourou, matou gente e animais, arrasou com todo um ecossistema e a economia de uma região. Os salários de funcionários que atrasam, os reajustes negados, as verbas que deixam de chegar para educação, saúde, saneamento, segurança pública e outros serviços essenciais, tudo isso é visto como se não tivesse relação alguma com o descumprimento das leis — tenha sido por meio de fraudes, compadrio, corrupção de todo tipo ou irresponsabilidade fiscal.
E quando algum braço legal tenta alcançar os culpados, é estarrecedor constatar como estes se mexem com tanta eficiência e esperteza para fugir à consequência de seus atos e atacar quem busca garantir a lei. Depois do motim dos PMs do Espírito Santo (que se escondem atrás das saias de mulheres muito organizadas e informadas e, jurando inocência, não assumem que estavam em greve), quando mais de 140 pessoas foram assassinadas e ainda não se conseguiu fechar a conta dos prejuízos, a principal reivindicação que fazem é anistia total, sem punição para ninguém. Tinham toda razão ao querer melhores condições de trabalho, ainda que haja versões bem diferentes quanto à defasagem de vencimentos e ao reajuste pleiteado. Perderam toda e qualquer razão por sua irresponsabilidade, ao descumprir a lei que juraram defender. Ficaram tragicamente ridículos com toda essa farsa e se igualam aos bandidos. Mesmo se a reivindicação inicial era justa, eles (ou suas mulheres) corroem seu direito ao contribuir para a morte de quem banca seus salários por meio dos impostos pagos.
Em Brasília e adjacências, os pilantras que querem enterrar a Lava-Jato aproveitam a pátria distraída com o verão e carnaval. Cumprem o planejado (e revelado em maio nas gravações de Sérgio Machado). Juntam-se todos, cada macaco no seu galho, em suas tentativas de obstrução da Justiça. Avançam seus lances nesse jogo de xadrez — para não irem para o xadrez real. Manobram por mais impunidade no descumprimento da constituição e do conjunto de leis que nos regem. Não uma reles portaria de qualquer juizeco, como diria Renan. Aliás, que fim levaram os documentos que a investigação tinha ordem de levar e que a polícia do Senado fez aquele escarcéu para impedir?
A lei é dura, mas é a lei, garante o sábio princípio que sustenta o convívio social. O que está acontecendo conosco, que assistimos boquiabertos a tudo isso mas nos anestesiamos a ponto de deixar escalar assim? Às vezes até tentamos nos enganar, como cúmplices que buscam dar razão a tantos coitadinhos, perseguidos, injustiçados por malvados perseguidores. Até quando? O que achamos que estamos construindo para o futuro? Em que isso tudo vai dar?
Ana Maria Machado
Esse comportamento de vitimização associada à culpabilização alheia é parte integral da maneira como funciona o mecanismo perverso. Começa pela negação da realidade, tão conhecida e já estudada desde Freud. O sujeito se recusa a tomar conhecimento dos fatos reais, substituindo-os por falsidades e versões deturpadas, agora chamadas de fatos alternativos, pós-verdades, contranarrativas. Em seguida, na construção de um relato imaginário de martírio ou heroísmo, cultiva a disseminação de ressentimentos que espalhem e propiciem atitudes coletivas de cobrança e revanche, hostilidade e agressão difusa e indiscriminada dirigida contra todo e qualquer cidadão passível de não ser mais visto como próximo, compatriota ou merecedor de respeito, solidariedade ou compreensão — e então passa a conveniente alvo de agressão e justiçamento.

Caímos assim neste insuportável clima que vivemos, em que as pessoas parecem bandos de feras, alcateias de lobos ferozes à solta buscando quem atacar. Linchamentos digitais cotidianos extrapolam para eventuais linchamentos físicos. A estupidez ultrapassa todos os limites. Ativistas de uma nobre causa como o combate ao racismo se dão o direito de agredir quem amarra um lenço na cabeça, em nome da preservação do uso de turbantes como ridículo monopólio de um princípio inexistente. Mas o absurdo do episódio baseado numa falsidade não impede que a vítima sofra uma dor real.
Aliás, ninguém se sente responsável por nada. A ciclovia que desabou com a primeira onda mais forte e matou pessoas cai no mesmo poço de irresponsabilidade que a barragem que estourou, matou gente e animais, arrasou com todo um ecossistema e a economia de uma região. Os salários de funcionários que atrasam, os reajustes negados, as verbas que deixam de chegar para educação, saúde, saneamento, segurança pública e outros serviços essenciais, tudo isso é visto como se não tivesse relação alguma com o descumprimento das leis — tenha sido por meio de fraudes, compadrio, corrupção de todo tipo ou irresponsabilidade fiscal.
E quando algum braço legal tenta alcançar os culpados, é estarrecedor constatar como estes se mexem com tanta eficiência e esperteza para fugir à consequência de seus atos e atacar quem busca garantir a lei. Depois do motim dos PMs do Espírito Santo (que se escondem atrás das saias de mulheres muito organizadas e informadas e, jurando inocência, não assumem que estavam em greve), quando mais de 140 pessoas foram assassinadas e ainda não se conseguiu fechar a conta dos prejuízos, a principal reivindicação que fazem é anistia total, sem punição para ninguém. Tinham toda razão ao querer melhores condições de trabalho, ainda que haja versões bem diferentes quanto à defasagem de vencimentos e ao reajuste pleiteado. Perderam toda e qualquer razão por sua irresponsabilidade, ao descumprir a lei que juraram defender. Ficaram tragicamente ridículos com toda essa farsa e se igualam aos bandidos. Mesmo se a reivindicação inicial era justa, eles (ou suas mulheres) corroem seu direito ao contribuir para a morte de quem banca seus salários por meio dos impostos pagos.
Em Brasília e adjacências, os pilantras que querem enterrar a Lava-Jato aproveitam a pátria distraída com o verão e carnaval. Cumprem o planejado (e revelado em maio nas gravações de Sérgio Machado). Juntam-se todos, cada macaco no seu galho, em suas tentativas de obstrução da Justiça. Avançam seus lances nesse jogo de xadrez — para não irem para o xadrez real. Manobram por mais impunidade no descumprimento da constituição e do conjunto de leis que nos regem. Não uma reles portaria de qualquer juizeco, como diria Renan. Aliás, que fim levaram os documentos que a investigação tinha ordem de levar e que a polícia do Senado fez aquele escarcéu para impedir?
A lei é dura, mas é a lei, garante o sábio princípio que sustenta o convívio social. O que está acontecendo conosco, que assistimos boquiabertos a tudo isso mas nos anestesiamos a ponto de deixar escalar assim? Às vezes até tentamos nos enganar, como cúmplices que buscam dar razão a tantos coitadinhos, perseguidos, injustiçados por malvados perseguidores. Até quando? O que achamos que estamos construindo para o futuro? Em que isso tudo vai dar?
Ana Maria Machado
A fábula do burro, do governo e do povo
Eram tantas vezes um povo, um governo e um burro.
E conta que o povo tinha um bom burro, sua força de trabalho. E, para zelar por ele, tinha o governo. Isto é, o governo recebia para cuidar do burro do povo. E, bem ou mal, era o que ele fazia, mesmo.
Um dia, precisaram ir daqui para lá. Então, o governo propôs um arranjo: subiu nas costas do burro do povo, deixando-o a pé e a levar as duas malas. E se foram, tranquilos.
Ao desviarem o caminho para beber água num riacho, a lavadeira que lavava a roupa estranhou o arranjo e perguntou:
– Que animal bonito! De quem é esse burro?
– É meu, disse o povo.
– Olha, não que eu queira me meter na vida de vocês, mas, se é seu, por que é ele (o governo) quem está montado neste burro?

Ao desviarem o caminho para sentar à sombra da árvore para um lanche, o pastor que pastoreava ovelhas estranhou o arranjo e perguntou:
– Que animal bonito! De quem é esse burro?
– É meu, arfou o povo, momentaneamente aliviado do peso daquela burrice toda.
– Olha, não que eu queira me meter na vida de vocês, mas por que tanta carga está pesando nas costas do povo?
O governo ficou irritado outra vez: não haveria de ser um simples pastor a ter autoridade para questionar o arranjo que funcionava tão bem. Porém, diante da dúvida do povo, mudaram as posições. Agora, o burro, o governo e o povo andaram lado a lado, a mala do governo sobre o lombo do burro, o povo levando sua bagagem.
Ao chegarem no destino, o dono da venda que vendia víveres estranhou a maneira de viajarem e perguntou:
– Que animal bonito! De quem é esse burro?
– É meu, né?, duvidou o povo, consultando o governo com os olhos.
– Olha, não que eu queira me meter na vida de vocês, mas por que não usam essa força toda para aliviar o fardo do povo?
Aí o governo perdeu as estribeiras de vez: parece que todo mundo resolvera ter autoridade para questionar o arranjo que funcionava tão harmoniosamente. Ainda bem que já haviam chegado ao fim da fábula.
Imoral da história: o único que, diante do óbvio, nunca tem dúvidas sobre os arranjos do governo é o burro.
Rubem Penz
Carne queimada
Quem tem mais de duas décadas cobrindo escândalos políticos de diferentes matizes político-ideológicos e magnitudes sabe reconhecer aquele momento em que surge um fato que torna impossível uma composição de interesses que permita abafar tudo e seguir adiante sem nenhuma alteração no status quo vigente.
Desde a redemocratização, isso ficou claro em eventos cruciais, como o impeachment de Fernando Collor – que ganhou impulso com as revelações do irmão Pedro e virou fato consumado com as do motorista Eriberto – e o mensalão.
Mas também foi assim em casos de menor alcance, como o da violação do painel de votações do Senado por Antonio Carlos Magalhães e a primeira queda de Antonio Palocci, em 2006, por frequentar a chamada “casa do lobby”.
ACM era, em 2001, o todo-poderoso do Congresso. Nessa condição, achou que sairia ileso se encomendasse a funcionários do Prodasen do Senado a lista de como votariam os senadores na cassação de Luiz Estevão. E sairia, não fosse o depoimento, na época, da então chefe da empreitada, a funcionária pública Regina Célia, que entregou o esquema e forçou o cacique a renunciar para não ser cassado.
Palocci também era o ministro forte de Lula quando um jardineiro, Francenildo, disse que ele era frequentador assíduo de uma casa onde rolava não só lobby como prostituição, em Brasília. Tentou esmagar o delator apontando que ele recebera para denunciá-lo. Para isso, usou o peso do cargo que ocupava e violou o sigilo bancário do caseiro na Caixa Econômica Federal. O tiro saiu pela culatra, e Palocci teve de pedir sua primeira demissão. Levaria ainda dez anos para ir parar atrás das grades, por outras traficâncias.
No mensalão, Marcio Thomaz Bastos achou que resolveria a parada com a tese de que tudo não passara de caixa 2. Não colou, e o divisor de águas foi o depoimento de Duda Mendonça na CPI dos Correios. A CPI virou indiciamento, que virou denúncia, que virou ação penal, que deu em condenações de pesos pesados da política, do sistema financeiro e adjacências.
Quando o STF começou a julgar o caso, depois de sete longos anos, o mesmo Thomaz Bastos garantiu a clientes, jornalistas e políticos que ninguém seria condenado. Mas de novo ali houve um “turning point” histórico: a divulgação de conversas entre ministros da corte mostrando que eles discutiam votos. Os olhos postos da opinião pública sobre o maior julgamento político-penal até então impediram que eles “amaciassem” para José Dirceu, como Ricardo Lewandowski confidenciou que era o plano.
Corte no tempo para a Lava Jato. A maior operação de desmonte de um esquema criminoso no Brasil já dura quase três anos, levou à prisão alguns dos principais políticos, dirigentes de estatais e partidos, empresários, executivos e publicitários do País. Motivou, juntamente com a debacle econômica, o impeachment de mais um presidente, Dilma Rousseff.
No petrolão, não há um só “evento incitante”, como se chama em roteiro aquele momento que muda o curso da história. Suas dezenas de delatores, a extensão e a implicação de praticamente todas as forças políticas do País é que tornam impossível que prospere qualquer operação-abafa.
Pode-se urdir teses jurídicas como a de que é preciso separar o “joio” (quem enriqueceu de forma ilícita) do “trigo” (o caixa 2 inocente), propor projetos de lei para blindar este ou aquele, conspirar em bunkers nas madrugadas de Brasília que o final está dado. Quem for marcado com a cruz escarlate da Lava Jato será carne queimada. Morto ou “só” mutilado, com pena elevada ou prestando serviços à comunidade, o destino político (e empresarial, do outro lado) estará traçado.
Desde a redemocratização, isso ficou claro em eventos cruciais, como o impeachment de Fernando Collor – que ganhou impulso com as revelações do irmão Pedro e virou fato consumado com as do motorista Eriberto – e o mensalão.
Mas também foi assim em casos de menor alcance, como o da violação do painel de votações do Senado por Antonio Carlos Magalhães e a primeira queda de Antonio Palocci, em 2006, por frequentar a chamada “casa do lobby”.
ACM era, em 2001, o todo-poderoso do Congresso. Nessa condição, achou que sairia ileso se encomendasse a funcionários do Prodasen do Senado a lista de como votariam os senadores na cassação de Luiz Estevão. E sairia, não fosse o depoimento, na época, da então chefe da empreitada, a funcionária pública Regina Célia, que entregou o esquema e forçou o cacique a renunciar para não ser cassado.
Palocci também era o ministro forte de Lula quando um jardineiro, Francenildo, disse que ele era frequentador assíduo de uma casa onde rolava não só lobby como prostituição, em Brasília. Tentou esmagar o delator apontando que ele recebera para denunciá-lo. Para isso, usou o peso do cargo que ocupava e violou o sigilo bancário do caseiro na Caixa Econômica Federal. O tiro saiu pela culatra, e Palocci teve de pedir sua primeira demissão. Levaria ainda dez anos para ir parar atrás das grades, por outras traficâncias.
No mensalão, Marcio Thomaz Bastos achou que resolveria a parada com a tese de que tudo não passara de caixa 2. Não colou, e o divisor de águas foi o depoimento de Duda Mendonça na CPI dos Correios. A CPI virou indiciamento, que virou denúncia, que virou ação penal, que deu em condenações de pesos pesados da política, do sistema financeiro e adjacências.
Quando o STF começou a julgar o caso, depois de sete longos anos, o mesmo Thomaz Bastos garantiu a clientes, jornalistas e políticos que ninguém seria condenado. Mas de novo ali houve um “turning point” histórico: a divulgação de conversas entre ministros da corte mostrando que eles discutiam votos. Os olhos postos da opinião pública sobre o maior julgamento político-penal até então impediram que eles “amaciassem” para José Dirceu, como Ricardo Lewandowski confidenciou que era o plano.
Corte no tempo para a Lava Jato. A maior operação de desmonte de um esquema criminoso no Brasil já dura quase três anos, levou à prisão alguns dos principais políticos, dirigentes de estatais e partidos, empresários, executivos e publicitários do País. Motivou, juntamente com a debacle econômica, o impeachment de mais um presidente, Dilma Rousseff.
No petrolão, não há um só “evento incitante”, como se chama em roteiro aquele momento que muda o curso da história. Suas dezenas de delatores, a extensão e a implicação de praticamente todas as forças políticas do País é que tornam impossível que prospere qualquer operação-abafa.
Pode-se urdir teses jurídicas como a de que é preciso separar o “joio” (quem enriqueceu de forma ilícita) do “trigo” (o caixa 2 inocente), propor projetos de lei para blindar este ou aquele, conspirar em bunkers nas madrugadas de Brasília que o final está dado. Quem for marcado com a cruz escarlate da Lava Jato será carne queimada. Morto ou “só” mutilado, com pena elevada ou prestando serviços à comunidade, o destino político (e empresarial, do outro lado) estará traçado.
Muita sorte ao azar
Michel Temer é habilidoso, bem treinado nas artes e nas manhas, conforme atestam seus anos a fio na presidência do embornal de felinos chamado PMDB e o maneirismo sinuoso exibido na construção do caminho de Dilma Rousseff para o ostracismo. Fala sem dizer, atua se se comprometer. Um político vestido em figurino ao jeito antigo.
Tudo certo, caso tal estilo não tivesse passado da moda. O presidente da República é um homem referido numa época anterior à influência das redes sociais, à independência dos jornalistas em relação às “fontes”, ao noticiário em tempo real, à consolidação do preceito constitucional da liberdade de imprensa, ao peso da opinião do público.

De onde, o presidente segue alheio ao compromisso assumido na substituição ao PT no poder, achando que possíveis consequências acabam por cair no esquecimento. O acordo não escrito, porém implícito, previa mudança radical de procedimentos. Não apenas na condução da economia, mas no critério de mérito e reputação na escolha de ministros, além da recusa a expedientes escusos tais como o abrigo de amigos no foro especial de Justiça.
Distante na forma, Temer se aproxima de Dilma no conteúdo quando não presta atenção à folha corrida de auxiliares, cria ministérios para abrigar afilhados e considera a Presidência da República maior que o país. Nessa trilha, caminha desconectado das prioridades postas no contrato firmado com a maioria favorável ao impeachment.
A expectativa não inclui nomeação de ministros cuja reputação os tornasse passíveis de demissão – como ocorreu em menos de seis meses – nem escolhas questionáveis do ponto de vista político ou atos que poderiam sugerir interferência indevida no andar da carruagem jurídico-policial que busca conduzir o Brasil aos trilhos.
Temer conhecia seus ministros detonados suficientemente bem para saber dos riscos das nomeações. Ainda assim os alojou no primeiro escalão do governo. Sabia da semelhança entre a nomeação de Moreira Franco e a tentativa de Dilma de dar foro privilegiado a Luiz Inácio da Silva. Ainda assim repetiu o gesto.
O presidente dispunha de inúmeras possibilidades juridicamente consistentes para ocupar a vaga do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim optou por aquela que mais suscitava questionamentos sólidos. Mais fortes que as críticas às relações petistas de Ricardo Lewandowski e Antonio Dias Toffoli, pelo fato de Alexandre de Moraes ser um político. Anteontem filiado ao PMDB de Michel Temer, até ontem registrado no PSDB de Aécio Neves.
No contexto de uma operação como a Lava-Jato é de se perguntar porque um governante daria tanta sorte para o azar.
Provavelmente por razões de DNA. Características que o fazem habilidoso, mas, de outro lado, o colocam na condição de político à moda antiga. Estilo superado e popularmente rejeitado.
Tudo certo, caso tal estilo não tivesse passado da moda. O presidente da República é um homem referido numa época anterior à influência das redes sociais, à independência dos jornalistas em relação às “fontes”, ao noticiário em tempo real, à consolidação do preceito constitucional da liberdade de imprensa, ao peso da opinião do público.
Distante na forma, Temer se aproxima de Dilma no conteúdo quando não presta atenção à folha corrida de auxiliares, cria ministérios para abrigar afilhados e considera a Presidência da República maior que o país. Nessa trilha, caminha desconectado das prioridades postas no contrato firmado com a maioria favorável ao impeachment.
A expectativa não inclui nomeação de ministros cuja reputação os tornasse passíveis de demissão – como ocorreu em menos de seis meses – nem escolhas questionáveis do ponto de vista político ou atos que poderiam sugerir interferência indevida no andar da carruagem jurídico-policial que busca conduzir o Brasil aos trilhos.
Temer conhecia seus ministros detonados suficientemente bem para saber dos riscos das nomeações. Ainda assim os alojou no primeiro escalão do governo. Sabia da semelhança entre a nomeação de Moreira Franco e a tentativa de Dilma de dar foro privilegiado a Luiz Inácio da Silva. Ainda assim repetiu o gesto.
O presidente dispunha de inúmeras possibilidades juridicamente consistentes para ocupar a vaga do ministro Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. Ainda assim optou por aquela que mais suscitava questionamentos sólidos. Mais fortes que as críticas às relações petistas de Ricardo Lewandowski e Antonio Dias Toffoli, pelo fato de Alexandre de Moraes ser um político. Anteontem filiado ao PMDB de Michel Temer, até ontem registrado no PSDB de Aécio Neves.
No contexto de uma operação como a Lava-Jato é de se perguntar porque um governante daria tanta sorte para o azar.
Provavelmente por razões de DNA. Características que o fazem habilidoso, mas, de outro lado, o colocam na condição de político à moda antiga. Estilo superado e popularmente rejeitado.
A guerra de narrativas não acabou
A guerra de narrativas não terminou com o impeachment de Dilma Rousseff. Nas ruas, nas salas de aula, nas redes sociais e também nas páginas dos grandes jornais e blogs ativistas, persiste a disputa pelo controle do imaginário de uma determinada fatia da classe média — demograficamente modesta, mas simbolicamente importante, por incluir intelectuais, professores, artistas, estudantes universitários e, de uma forma geral, os chamados “formadores de opinião”.
O campo lulopetista pode ter sido derrotado nas batalhas do Legislativo e do Judiciário, na batalha das urnas nas eleições municipais de 2016 e, de forma mais significativa, na batalha das ruas, onde o PT era hegemônico. Mas continua na ofensiva no front da linguagem. O objetivo aparente é determinar, de antemão, como será contada para as futuras gerações a história da crise que interrompeu o ciclo do partido no poder. Mas a própria crise revelou que toda tentativa de controlar o futuro é incerta.

Inverte-se, em todo caso, o lugar-comum de que a História é contada pelos vencedores; no Brasil, país das jabuticabas, frequentemente prevalece a versão dos perdedores. Não é por acaso que se tentou insistentemente associar o momento atual à ditadura militar: porque, mesmo no poder, a ditadura fracassou (ainda bem) em criar uma narrativa vitoriosa. O que triunfou no imaginário coletivo dos brasileiros foi o enredo dos que resistiram.
Em parte porque, hoje e sempre, sobretudo para os mais jovens — para quem o reconhecimento pelo grupo social e a sensação de pertencimento são mais importantes que qualquer coisa — o papel de resistente “em defesa da democracia” é sedutor (principalmente quando assumir esse papel não traz qualquer risco ou consequência; como escreveu Ferreira Gullar, “agora que (ser de esquerda) dá prêmio, todo mundo é”).
Mas as diferenças objetivas entre o Brasil de hoje e o Brasil da ditadura são tão abissais que o empenho em se estabelecer qualquer paralelo já demonstra sinais de exaustão. Leio que o próprio Lula tenta se aproximar de Michel Temer e convencer o PT a superar o “discurso do golpe”, ao mesmo tempo em que o partido se acomoda no Congresso com seus supostos algozes. Em suma, a narrativa do golpe está se esgotando.
Para os aguerridos militantes das redes sociais e para os jovens formados na “escola com partido”, porém, nada disso importa: com inocência sincera ou falsa, eles aprenderam a ignorar todos os fatos que não se encaixam na lógica binária com que lhes ensinaram a enxergar o mundo. A linha de giz riscada no chão entre “nós” e “eles” é a face mais visível desse aprendizado. Deliberado ou não, o mau uso das palavras é outra.
Ao longo do processo que começou com a Operação Lava-Jato, passou pelo colapso da estabilidade econômica, culminou no impeachment de Dilma e continua com o bombardeio a Temer, uma vítima pouco lembrada dessa guerra é o sentido das palavras. Na distopia imaginada por George Orwell no romance “1984”, o controle da linguagem é uma ferramenta de controle do pensamento. Na mesma linha, na novilíngua brasileira, “golpe” respeita a Constituição, e “fascistas” defendem a redução do tamanho do Estado; “tolerância”, “democracia” e “censura” são outra palavras que ganharam novos e criativos significados.
Isso não é casual: é o resultado de um programa prolongado e sistemático de formação de um novo senso comum — de uma nova hegemonia, para citar Gramsci. Interrompido antes de chegar a seu termo, esse programa durou tempo suficiente para causar sequelas cognitivas em muita gente. Este é talvez o pior legado do ciclo lulopetista. A crise política e a crise econômica vão passar. Levará muito mais tempo para parte da população entender que a política não é uma disputa entre o bem e o mal. Muito menos no Brasil.
Luciano Trigo
O campo lulopetista pode ter sido derrotado nas batalhas do Legislativo e do Judiciário, na batalha das urnas nas eleições municipais de 2016 e, de forma mais significativa, na batalha das ruas, onde o PT era hegemônico. Mas continua na ofensiva no front da linguagem. O objetivo aparente é determinar, de antemão, como será contada para as futuras gerações a história da crise que interrompeu o ciclo do partido no poder. Mas a própria crise revelou que toda tentativa de controlar o futuro é incerta.

Em parte porque, hoje e sempre, sobretudo para os mais jovens — para quem o reconhecimento pelo grupo social e a sensação de pertencimento são mais importantes que qualquer coisa — o papel de resistente “em defesa da democracia” é sedutor (principalmente quando assumir esse papel não traz qualquer risco ou consequência; como escreveu Ferreira Gullar, “agora que (ser de esquerda) dá prêmio, todo mundo é”).
Mas as diferenças objetivas entre o Brasil de hoje e o Brasil da ditadura são tão abissais que o empenho em se estabelecer qualquer paralelo já demonstra sinais de exaustão. Leio que o próprio Lula tenta se aproximar de Michel Temer e convencer o PT a superar o “discurso do golpe”, ao mesmo tempo em que o partido se acomoda no Congresso com seus supostos algozes. Em suma, a narrativa do golpe está se esgotando.
Para os aguerridos militantes das redes sociais e para os jovens formados na “escola com partido”, porém, nada disso importa: com inocência sincera ou falsa, eles aprenderam a ignorar todos os fatos que não se encaixam na lógica binária com que lhes ensinaram a enxergar o mundo. A linha de giz riscada no chão entre “nós” e “eles” é a face mais visível desse aprendizado. Deliberado ou não, o mau uso das palavras é outra.
Ao longo do processo que começou com a Operação Lava-Jato, passou pelo colapso da estabilidade econômica, culminou no impeachment de Dilma e continua com o bombardeio a Temer, uma vítima pouco lembrada dessa guerra é o sentido das palavras. Na distopia imaginada por George Orwell no romance “1984”, o controle da linguagem é uma ferramenta de controle do pensamento. Na mesma linha, na novilíngua brasileira, “golpe” respeita a Constituição, e “fascistas” defendem a redução do tamanho do Estado; “tolerância”, “democracia” e “censura” são outra palavras que ganharam novos e criativos significados.
Isso não é casual: é o resultado de um programa prolongado e sistemático de formação de um novo senso comum — de uma nova hegemonia, para citar Gramsci. Interrompido antes de chegar a seu termo, esse programa durou tempo suficiente para causar sequelas cognitivas em muita gente. Este é talvez o pior legado do ciclo lulopetista. A crise política e a crise econômica vão passar. Levará muito mais tempo para parte da população entender que a política não é uma disputa entre o bem e o mal. Muito menos no Brasil.
Luciano Trigo
Nunca o governo federal empregou tanto: 622 mil
No quesito número de funcionários, o governo Michel Temer é o maior governo da história. De acordo com o Boletim Estatístico de Pessoal e Informações Organizacionais mais recente divulgado pelo Palácio do Planalto, o governo federal empregava 622.662 pessoas em 2016, um recorde histórico. O número de funcionários do governo federal cresceu 0,5% entre 2014 e 2015 e 0,8% até 2016, para bater o recorde.
O maior inchaço da História foi entre 2013 e o ano de 2014. O Governo Dilma contratou 27 mil pessoas no ano em que ela foi reeleita.
O número de funcionários do governo federal só diminuiu de tamanho entre 1997 e 2001. Desde então todos os anos o Estado aumenta.
A folha de pessoal do governo Michel Temer para o ano de 2017 é de R$ 306,9 bilhões, sem contar as “vantagens eventuais”.
Lobos e vovozinhas
Deve haver muitas formas de paranoia. Conheço pelo menos duas. A que usa os fatos, deformando-os para parecerem uma grande ameaça. E a que tem um tal dinamismo interno que chega a dispensar os próprios fatos. Não considero que nenhuma dessas formas está presente quando se afirma que a Operação Lava-Jato está ameaçada. Não é preciso estar muito longe de Brasília para perceber isso. Por acaso, estou, relativamente perto, no Brasil central. Mas de qualquer ponto do país, a sucessão de projetos de anistia e blindagem é impressionante.
A mais nova tentativa é de Romero Jucá. Um projeto para blindar presidentes da Câmara e do Senado. Segundo ele, não podem responder por crimes anteriores à sua posse no cargo. Na verdade, estende para os dois a mesma prerrogativa do presidente da República.
Se analisamos o conteúdo de todos os projetos mencionados — anistia, proibição de o TSE punir partidos com contas irregulares — tudo vai na mesma direção: legislar para se safar.
Leio que a Lava-Jato em Curitiba ficou satisfeita com a escolha de Alexandre de Moraes para o STF. Inclusive acredita que ele vota pela prisão de acusados julgados em segunda instância: algo que realmente evita que as pessoas recorram em liberdade por anos a fio.
No entanto, um ministro do supremo não julga apenas a Lava-Jato. Ele continua no seu posto por anos. Lewandowski e Dias Toffoli julgaram o mensalão e seguem firmes tratando de muitos casos. Recentemente, Toffoli soltou o ex-ministro Paulo Bernardo numa decisão polêmica.
Temer parece ter sentido a reação em defesa da Lava-Jato. E anunciou esta semana as regras que deveria ter anunciado no primeiro dia de governo. A partir de agora ministros denunciados se afastam e, caso se tornem réus, deixam o governo.
Não acredito que essa permanente tentativa de blindagem dos políticos será atenuada. Nem vejo dinamismo no STF para julgar todos os casos com alguma rapidez. Isso não significa que muitos não possam ser condenados no futuro. Mas deixa para 2018 uma única ferramenta de transformação: o voto.
Apesar de a sociedade brasileira ter amadurecido, não creio que apenas o voto poderia fazer com que o Congresso passasse, de alguma forma, a considerar as aspirações do país de uma forma prioritária.Ele pode realizar reforma econômicas, evitar a quebradeira e ajudar o Brasil a reencontrar seu caminho. Mas não abre mão dos privilégios e do velho esquema de corrupção que o domina há tanto tempo.
Na juventude, costumava ironizar o lema de um partido brasileiro, chamado UDN: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vivíamos num tempo de Guerra Fria, mas ainda assim perguntava: se não não temos um segundo para relaxar, que tipo de liberdade é essa?
Hoje, não mais num contexto de luta ideológica como no passado, combatemos ladrões em todos os pontos do espectro político. Não é possível baixar a guarda. Diria até que uma ponta de paranoia é necessária, porque mesmo quando não parecem estar tramando algo, estão em plena atividade. As ligações telefônicas entre a cúpula do PMDB, reveladas por Sérgio Machado, eram uma clara tentativa de sabotar a Lava-Jato, algo que agora fazem abertamente.
Renan Calheiros encarna como ninguém essa tentativa. Ele é investigado em 12 processos, alguns antigos, e agora passa a ser investigado por obstrução à Lava-Jato, junto com a cúpula do PMDB. Quanto tempo levará para ser julgado nos casos investigados? Quanto tempo levará para ser julgado por obstruir as investigações?
Eles não param nunca. Quando não estão roubando, estão obstruindo a investigação, ou, em certas horas, fazendo as duas coisas simultaneamente. E o ritmo do STF é feito para que se movam em paz, seduzindo os que aspiram à reforma econômica, mobilizando os que descobriram direitos legais de acusados, depois que a elite começou a ser presa, enfim vão formar um grande caldeirão destinado a cozinhar a sopa da mesmice brasileira.
Não creio que seja paranoia observá-los constantemente e denunciá-los nas ruas. Diria até que não devemos nos preocupar tanto por estar batendo neles: eles sempre sabem porque estão apanhando.
Por mais ridícula e despreparada que pareça, a classe política brasileira é mestre universal na arte de sobreviver às denúncias. Eu mesmo me equivoquei. Sempre denunciei o Sérgio Cabral como se fosse um simples corrupto que comprava mansões e se divertia em viagens no exterior. Jamais imaginei que estava lidando com o maior ladrão da História do Brasil e que todas aquelas viagens eram também viagens de negócios para administrar sua fortuna.
A resistência no Brasil não pode ser acusada de paranoia. Diante dos adversários calejados ela às vezes se parece com a ingenuidade do Chapeuzinho Vermelho.
A mais nova tentativa é de Romero Jucá. Um projeto para blindar presidentes da Câmara e do Senado. Segundo ele, não podem responder por crimes anteriores à sua posse no cargo. Na verdade, estende para os dois a mesma prerrogativa do presidente da República.
Se analisamos o conteúdo de todos os projetos mencionados — anistia, proibição de o TSE punir partidos com contas irregulares — tudo vai na mesma direção: legislar para se safar.
Leio que a Lava-Jato em Curitiba ficou satisfeita com a escolha de Alexandre de Moraes para o STF. Inclusive acredita que ele vota pela prisão de acusados julgados em segunda instância: algo que realmente evita que as pessoas recorram em liberdade por anos a fio.
No entanto, um ministro do supremo não julga apenas a Lava-Jato. Ele continua no seu posto por anos. Lewandowski e Dias Toffoli julgaram o mensalão e seguem firmes tratando de muitos casos. Recentemente, Toffoli soltou o ex-ministro Paulo Bernardo numa decisão polêmica.
Temer parece ter sentido a reação em defesa da Lava-Jato. E anunciou esta semana as regras que deveria ter anunciado no primeiro dia de governo. A partir de agora ministros denunciados se afastam e, caso se tornem réus, deixam o governo.
Não acredito que essa permanente tentativa de blindagem dos políticos será atenuada. Nem vejo dinamismo no STF para julgar todos os casos com alguma rapidez. Isso não significa que muitos não possam ser condenados no futuro. Mas deixa para 2018 uma única ferramenta de transformação: o voto.
Apesar de a sociedade brasileira ter amadurecido, não creio que apenas o voto poderia fazer com que o Congresso passasse, de alguma forma, a considerar as aspirações do país de uma forma prioritária.Ele pode realizar reforma econômicas, evitar a quebradeira e ajudar o Brasil a reencontrar seu caminho. Mas não abre mão dos privilégios e do velho esquema de corrupção que o domina há tanto tempo.
Na juventude, costumava ironizar o lema de um partido brasileiro, chamado UDN: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Vivíamos num tempo de Guerra Fria, mas ainda assim perguntava: se não não temos um segundo para relaxar, que tipo de liberdade é essa?
Hoje, não mais num contexto de luta ideológica como no passado, combatemos ladrões em todos os pontos do espectro político. Não é possível baixar a guarda. Diria até que uma ponta de paranoia é necessária, porque mesmo quando não parecem estar tramando algo, estão em plena atividade. As ligações telefônicas entre a cúpula do PMDB, reveladas por Sérgio Machado, eram uma clara tentativa de sabotar a Lava-Jato, algo que agora fazem abertamente.
Renan Calheiros encarna como ninguém essa tentativa. Ele é investigado em 12 processos, alguns antigos, e agora passa a ser investigado por obstrução à Lava-Jato, junto com a cúpula do PMDB. Quanto tempo levará para ser julgado nos casos investigados? Quanto tempo levará para ser julgado por obstruir as investigações?
Eles não param nunca. Quando não estão roubando, estão obstruindo a investigação, ou, em certas horas, fazendo as duas coisas simultaneamente. E o ritmo do STF é feito para que se movam em paz, seduzindo os que aspiram à reforma econômica, mobilizando os que descobriram direitos legais de acusados, depois que a elite começou a ser presa, enfim vão formar um grande caldeirão destinado a cozinhar a sopa da mesmice brasileira.
Não creio que seja paranoia observá-los constantemente e denunciá-los nas ruas. Diria até que não devemos nos preocupar tanto por estar batendo neles: eles sempre sabem porque estão apanhando.
Por mais ridícula e despreparada que pareça, a classe política brasileira é mestre universal na arte de sobreviver às denúncias. Eu mesmo me equivoquei. Sempre denunciei o Sérgio Cabral como se fosse um simples corrupto que comprava mansões e se divertia em viagens no exterior. Jamais imaginei que estava lidando com o maior ladrão da História do Brasil e que todas aquelas viagens eram também viagens de negócios para administrar sua fortuna.
A resistência no Brasil não pode ser acusada de paranoia. Diante dos adversários calejados ela às vezes se parece com a ingenuidade do Chapeuzinho Vermelho.
Patrimonialismo agora
Empregamos a expressão “patrimonialismo” para designar a apropriação privada de recursos públicos. E tendemos a ver o fenômeno como resquício do passado sobrevivendo deslocado no presente.
Não é. O patrimonialismo nada tem de estático. Responde a processos históricos diversos e assim vai se transformando no tempo. Bobagem dizer coisas do tipo “isso vem desde as capitanias hereditárias”. Não faz sentido algum postular esse tipo de “continuidade”.
Uma coisa é Thomé de Souza dar a Ilha de Itaparica de presente a um parente seu que nunca pôs os pés aqui. Outra é a Odebrecht, que começou como pequena empresa de engenharia de um filho de imigrantes, voltada para saldar dívidas que a família contraiu durante a perseguição aos alemães aqui, no enredo da II Guerra.

No campo do patrimonialismo político é o mesmo lance. O berço esplêndido não conta. Uma coisa é o rei nomear o governador-geral, outra é um ex-metalúrgico se eleger presidente e passar a fazer parte da nova elite patrimonialista do país.
Sérgio Cabral foi menino pobre do Engenho Novo, zona norte do Rio. Quando conheci Jaques Wagner, ele dividia um quarto-e-sala com um hoje ex-amigo dele, chamado Alberto Dourado.
O que quero dizer é o seguinte: se o patrimonialismo persiste (contrariando tudo o que se pode entender por democracia) não é como sobrevivência arcaica de nosso passado, mas como interesse vivo e real do presente.
Para seguir a conhecida classificação sociológica, divisamos hoje em nosso ambiente, com muita nitidez, as formas dos patrimonialismos político, empresarial e funcional. Não raro, entrelaçadas.
O que veio à luz, com a Lava Jato e outras investigações, foi uma articulação poderosa, em escala e intimidade historicamente inéditas, entre poder político e poder econômico.
Entre outras coisas, vimos que parte do empresariado, mancomunada com governos do PT-PMDB, simplesmente comprou fatia considerável do Congresso Nacional, que assim perdeu seu sentido público, sua razão mesma de ser.
Jogam juntos empreiteiras, estatais, partidos políticos, etc. E até um banco como o BNDES, cujo nome, agora, não é mais que uma ironia: banco do “desenvolvimento social”. Deveria ser rebatizado como BNP, Banco Nacional do Patrimonialismo. E fim de papo.
Ou seja: o patrimonialismo hoje nada tem a ver com o tal do berço esplêndido, nem existe como herança histórica simplesmente. O que temos é um patrimonialismo atual, mantido por grupos poderosos que dominam a paisagem brasileira contemporânea.
Não é. O patrimonialismo nada tem de estático. Responde a processos históricos diversos e assim vai se transformando no tempo. Bobagem dizer coisas do tipo “isso vem desde as capitanias hereditárias”. Não faz sentido algum postular esse tipo de “continuidade”.
Uma coisa é Thomé de Souza dar a Ilha de Itaparica de presente a um parente seu que nunca pôs os pés aqui. Outra é a Odebrecht, que começou como pequena empresa de engenharia de um filho de imigrantes, voltada para saldar dívidas que a família contraiu durante a perseguição aos alemães aqui, no enredo da II Guerra.

Sérgio Cabral foi menino pobre do Engenho Novo, zona norte do Rio. Quando conheci Jaques Wagner, ele dividia um quarto-e-sala com um hoje ex-amigo dele, chamado Alberto Dourado.
O que quero dizer é o seguinte: se o patrimonialismo persiste (contrariando tudo o que se pode entender por democracia) não é como sobrevivência arcaica de nosso passado, mas como interesse vivo e real do presente.
Para seguir a conhecida classificação sociológica, divisamos hoje em nosso ambiente, com muita nitidez, as formas dos patrimonialismos político, empresarial e funcional. Não raro, entrelaçadas.
O que veio à luz, com a Lava Jato e outras investigações, foi uma articulação poderosa, em escala e intimidade historicamente inéditas, entre poder político e poder econômico.
Entre outras coisas, vimos que parte do empresariado, mancomunada com governos do PT-PMDB, simplesmente comprou fatia considerável do Congresso Nacional, que assim perdeu seu sentido público, sua razão mesma de ser.
Jogam juntos empreiteiras, estatais, partidos políticos, etc. E até um banco como o BNDES, cujo nome, agora, não é mais que uma ironia: banco do “desenvolvimento social”. Deveria ser rebatizado como BNP, Banco Nacional do Patrimonialismo. E fim de papo.
Ou seja: o patrimonialismo hoje nada tem a ver com o tal do berço esplêndido, nem existe como herança histórica simplesmente. O que temos é um patrimonialismo atual, mantido por grupos poderosos que dominam a paisagem brasileira contemporânea.
Mestres do ludibrio
Animados pela pesquisa CNT/MDA, que coloca Lula na dianteira isolada na preferência popular para a eleição presidencial de 2018, o PT e o próprio Lula decidiram sair da encolha. Vão ampliar a participação do ex nas ruas, nas mídias sociais e, consequentemente, na imprensa. E não param de aumentar o tamanho da borracha que usam para apagar os fatos tenebrosos que escreveram na história, na tentativa de imprimi-los com as tintas que a eles convêm.
Com participações de 20s em cada uma das quatro inserções de 30s que o PT enviou sexta-feira para os diretórios estaduais, Lula fabula como derrotou a inflação e gerou mais de 22 milhões de empregos. Reclama que o atual governo está cortando dinheiro da educação, que falta democracia no país. E que crise se combate com investimento público.
Fala como se o Brasil tivesse algum respiro para investir. Como se o caos econômico, crescimento negativo e desemprego galopante não fossem resultados de seu último mandato e dos de sua pupila. Como se a economia fosse regida por voluntarismo, como se o país não tivesse perdido um único centavo para a corrupção.
Em outro vídeo, de 2min41s, divulgado na página de Lula no Facebook e replicado no site oficial do PT, o ex expõe com absoluta maestria sua habilidade de interpretar os acontecimentos, de inverter os polos, criar verdades. Usa as mesmas roupas dos filmetes, mas outra face.
A título de conclamar partidários para o 6º Congresso da sigla, com primeira etapa prevista para o dia 9 de abril, Lula diz que o PT vem sendo destruído desde 2005 – quando estourou o mensalão – pela ação de seus adversários que “continuou até o impeachment da presidenta Dilma”. Afirma que 2017 é o ano de recuperar a imagem do PT e de “defender o legado do partido que mais fez política social neste país”.
Ora em tom emotivo, ora com fala vigorosa, a convocação de Lula imita a de um general que tem de animar a tropa esfarrapada que será baleada no front. Figurativo que o ex substituiu pela subida de uma escada – há os que desistem no primeiro degrau, no quarto degrau, e os “bons”, que sobem 10 degraus e estão prontos para outros 10.
Só não falou no tamanho da queda.
Mesmo que lidere pesquisas, Lula sabe que queimou patrimônio demais. Tem pouco tempo para se livrar do que já pesa sobre os seus ombros – companheiros condenados no mensalão, outros na cadeia pela Lava-Jato e cinco processos diretos contra ele. Do que ainda pode vir com a revelação completa da delação da Odebrecht e de outros cadáveres que ele e o PT já supunham enterrados.
Sabe ainda que será difícil negar a responsabilidade pela crise econômica que deixou mais de 12 milhões no desemprego e outros 3 milhões na miséria. Que uma campanha eleitoral faz ressuscitar fantasmas de seu time de elite – Dirceu, Palocci e cia. –, empresários amigos – Léo Pinheiro, Marcelo Odebrecht, etc. --, políticos do coração, como Sérgio Cabral. Todos atrás das grades.
A sorte de Lula – e político tem de ter estrela, sorte – é que o governo Michel Temer tem pernas bambas. Erra mais do que acerta e só se mantem em pé ancorado na muleta que sustenta a economia.
Aos erros de Temer se somam os de integrantes de seu partido, o PMDB, e de aliados, que, em nome de autoproteção, denigrem a política, colocando tudo e todos na mesma cesta podre.
Mercado de ocasião para Lula, que não perde uma única chance.
No vídeo dedicado à militância, o líder do “nós”, os virtuosos, contra o “eles”, os canalhas, chega a admitir igualdade para nivelar todo mundo por baixo e se dizer superior: “pode ter até igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós”.
Mas são elementos de fundo que dão personalidade à peça publicitária. Recuperam-se o vermelho e a estrela, tão escondidos na campanha do ano passado. E no encerramento saca-se um novo símbolo: os quatro dedos da mão de Lula sobre a bandeira do partido.
É apelativo? E daí? Bota-se um pouco de verdade irrefutável – Lula realmente perdeu o dedo mínimo – para mexer com as emoções e fazer parecer que tudo o que foi dito anteriormente no vídeo carrega dose idêntica de verdade.
São craques na arte do ludibrio. E isso, sem dúvida, tem peso nas urnas.
Mary Zaidan
Fala como se o Brasil tivesse algum respiro para investir. Como se o caos econômico, crescimento negativo e desemprego galopante não fossem resultados de seu último mandato e dos de sua pupila. Como se a economia fosse regida por voluntarismo, como se o país não tivesse perdido um único centavo para a corrupção.
Em outro vídeo, de 2min41s, divulgado na página de Lula no Facebook e replicado no site oficial do PT, o ex expõe com absoluta maestria sua habilidade de interpretar os acontecimentos, de inverter os polos, criar verdades. Usa as mesmas roupas dos filmetes, mas outra face.
A título de conclamar partidários para o 6º Congresso da sigla, com primeira etapa prevista para o dia 9 de abril, Lula diz que o PT vem sendo destruído desde 2005 – quando estourou o mensalão – pela ação de seus adversários que “continuou até o impeachment da presidenta Dilma”. Afirma que 2017 é o ano de recuperar a imagem do PT e de “defender o legado do partido que mais fez política social neste país”.
Ora em tom emotivo, ora com fala vigorosa, a convocação de Lula imita a de um general que tem de animar a tropa esfarrapada que será baleada no front. Figurativo que o ex substituiu pela subida de uma escada – há os que desistem no primeiro degrau, no quarto degrau, e os “bons”, que sobem 10 degraus e estão prontos para outros 10.
Só não falou no tamanho da queda.
Mesmo que lidere pesquisas, Lula sabe que queimou patrimônio demais. Tem pouco tempo para se livrar do que já pesa sobre os seus ombros – companheiros condenados no mensalão, outros na cadeia pela Lava-Jato e cinco processos diretos contra ele. Do que ainda pode vir com a revelação completa da delação da Odebrecht e de outros cadáveres que ele e o PT já supunham enterrados.
Sabe ainda que será difícil negar a responsabilidade pela crise econômica que deixou mais de 12 milhões no desemprego e outros 3 milhões na miséria. Que uma campanha eleitoral faz ressuscitar fantasmas de seu time de elite – Dirceu, Palocci e cia. –, empresários amigos – Léo Pinheiro, Marcelo Odebrecht, etc. --, políticos do coração, como Sérgio Cabral. Todos atrás das grades.
A sorte de Lula – e político tem de ter estrela, sorte – é que o governo Michel Temer tem pernas bambas. Erra mais do que acerta e só se mantem em pé ancorado na muleta que sustenta a economia.
Aos erros de Temer se somam os de integrantes de seu partido, o PMDB, e de aliados, que, em nome de autoproteção, denigrem a política, colocando tudo e todos na mesma cesta podre.
Mercado de ocasião para Lula, que não perde uma única chance.
No vídeo dedicado à militância, o líder do “nós”, os virtuosos, contra o “eles”, os canalhas, chega a admitir igualdade para nivelar todo mundo por baixo e se dizer superior: “pode ter até igual, mas nesse país não tem ninguém melhor do que nós”.
Mas são elementos de fundo que dão personalidade à peça publicitária. Recuperam-se o vermelho e a estrela, tão escondidos na campanha do ano passado. E no encerramento saca-se um novo símbolo: os quatro dedos da mão de Lula sobre a bandeira do partido.
É apelativo? E daí? Bota-se um pouco de verdade irrefutável – Lula realmente perdeu o dedo mínimo – para mexer com as emoções e fazer parecer que tudo o que foi dito anteriormente no vídeo carrega dose idêntica de verdade.
São craques na arte do ludibrio. E isso, sem dúvida, tem peso nas urnas.
Mary Zaidan
Piscina olímpica: das seis medalhas de Phelps a criadouro de mosquitos
Rio de Janeiro, a cidade que em agosto de 2016 atraiu a atenção de todo o planeta, sofre uma forte ressaca pós-olímpica. Cinco meses após a imprensa mundial deixar o Rio, o estádio do Maracanã deixou de ser o palco de espetáculos de fogos de artifício, se apagaram as últimas luzes das arenas, e nada resta do brilho olímpico de uma cidade hoje em decadência e maltratada pela crise. O legado esportivo, o principal argumento para justificar os enormes investimentos que exigiram os Jogos, está questionado.
No Parque Olímpico, o palco principal da competição, só foi realizado um campeonato de vôlei de praia desde os Jogos, para o qual foi colocada areia no Centro de Tênis. Não existe um calendário de eventos esportivos e, por enquanto, a maior festa a ser realizada em seus bulevares será o festival de música Rock in Rio, em setembro. Fotos das piscinas onde Michael Phelpsaumentou sua lenda deram a volta ao mundo há alguns dias: estavam com a água cor ocre, uma festa para os mosquitos.

“Passei por lá outro dia e deu vontade de chorar. A Arena Olímpica está cercada por escombros”, diz Renata Fernandes, que há seis meses era uma fã eufórica com um totem de papelão da ginasta norte-americana Simone Biles debaixo do braço. Fernandes, que chegou a pedir férias para aproveitar ao máximo os Jogos, não entende por que o parque está sendo “desaproveitado”: “Poderiam usá-lo pelo menos para os blocos de carnaval. É um lugar enorme, todos poderíamos ir lá e aliviaria o trânsito da cidade.” Os bulevares do parque, na verdade, estão abertos ao público há três semanas, mas poucos se animaram. A Prefeitura não dispõe de dados sobre quantas pessoas visitaram e não há nenhum banheiro, nem fonte ou quiosque que convide a passar muito tempo sob um sol de 40 graus que aumenta o cheiro do esgoto lançado na lagoa do entorno do recinto.
Nos mais de um milhão de metros quadrados de superfície, vários órgãos dividem responsabilidades, do Governo Federal às construtoras. O prefeito que trouxe os Jogos para o Rio e que acaba de deixar o cargo, Eduardo Paes, tentou várias vezes ceder sua gestão para a iniciativa privada, mas ninguém ficou interessado em pagar por um gigante que consome cerca de 30 bilhões de reais por ano. O Ministério dos Esportes teve que assumir em dezembro e ainda não deu muitos detalhes de como vai transformar o Rio em um destino de competições internacionais.
A Prefeitura ainda é responsável por desmontar o Parque Aquático, que inicialmente levaria duas piscinas olímpicas para diferentes partes da cidade, mas que no final de contas vão ficar para treinos de alta competição do Exército. Também caberia ao município a transformação da Arena 3, que vai passar de palco de torneios de judô e taekwondo a um ginásio olímpico para cerca de mil alunos sem data para ser inaugurado. A Arena do Futuro, que sediou o handebol, ainda espera a licitação para ser desmontada e transformada em quatro escolas municipais. “Não há nenhum abandono”, defendem na Secretaria municipal de Esportes.
A iniciativa privada, asfixiada pela recessão, é dona de uma boa parte do terreno, mas não há nenhum sinal da projetada transformação do centro de imprensa em hotel e escritórios, bem como dos espaços vagos em empreendimentos de luxo. Perto dali, os 3.600 apartamentos da vila olímpica, onde os atletas se alojaram, esperam comprador: foram vendidos apenas 260. A construtora responsável, com pressa para recuperar seu dinheiro, estuda agora, junto à Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, um acordo para vender os apartamentos o mais rápido possível e com juros baixos, a instituições públicas, como a Marinha.
A imprensa local e internacional critica o abandono enquanto o ex-prefeito, que prometeu várias vezes que o Rio não teria elefantes brancos, pede calma: “Contratos e acordos estão fechados, mas não dá para desmontar estruturas que levaram anos para serem montadas em poucos meses”. Londres, sede dos Jogos em 2012, também levou um tempo para reativar o Parque Olímpico, exatamente 19 meses, um paralelo que não conforta os críticos. “Londres tinha um plano, o Brasil não tem. O principal legado para Londres foi a revitalização de áreas degradadas. Muito diferente do que aconteceu no Rio, que investiu principalmente na Barra de Tijuca [bairro do Parque Olímpico], uma das áreas mais valorizadas da cidade”, lamenta Pedro Trengrouse, professor de gestão esportiva da Fundação Getúlio Vargas.
A menos de 20 km do Parque Olímpico permanece fechado o Parque Radical Deodoro, a segunda maior instalação dos Jogos e um oásis verde com água para um bairro pobre do subúrbio, a quase uma hora de carro da praia de Ipanema. O local, que sediou as provas de canoagem e BMX, chegou a abrir suas portas para os cariocas antes dos Jogos, quando o ex-prefeito percebeu que os vizinhos estavam pulando a cerca para desfrutar de uma piscina que não fosse inflável, mas está fechado desde dezembro. O contrato de gestão expirou e o novo prefeito, Marcelo Crivella, que adotou o slogan “é proibido gastar”, ainda está "estudando a maneira" – a assesoria da secretaria de Esportes não deu mais detalhes – de abrir as portas este mês. O guarda responsável pela custódia do parque adverte: “Nesta cidade não acontece nada antes do Carnaval”.
No Parque Olímpico, o palco principal da competição, só foi realizado um campeonato de vôlei de praia desde os Jogos, para o qual foi colocada areia no Centro de Tênis. Não existe um calendário de eventos esportivos e, por enquanto, a maior festa a ser realizada em seus bulevares será o festival de música Rock in Rio, em setembro. Fotos das piscinas onde Michael Phelpsaumentou sua lenda deram a volta ao mundo há alguns dias: estavam com a água cor ocre, uma festa para os mosquitos.

“Passei por lá outro dia e deu vontade de chorar. A Arena Olímpica está cercada por escombros”, diz Renata Fernandes, que há seis meses era uma fã eufórica com um totem de papelão da ginasta norte-americana Simone Biles debaixo do braço. Fernandes, que chegou a pedir férias para aproveitar ao máximo os Jogos, não entende por que o parque está sendo “desaproveitado”: “Poderiam usá-lo pelo menos para os blocos de carnaval. É um lugar enorme, todos poderíamos ir lá e aliviaria o trânsito da cidade.” Os bulevares do parque, na verdade, estão abertos ao público há três semanas, mas poucos se animaram. A Prefeitura não dispõe de dados sobre quantas pessoas visitaram e não há nenhum banheiro, nem fonte ou quiosque que convide a passar muito tempo sob um sol de 40 graus que aumenta o cheiro do esgoto lançado na lagoa do entorno do recinto.
Nos mais de um milhão de metros quadrados de superfície, vários órgãos dividem responsabilidades, do Governo Federal às construtoras. O prefeito que trouxe os Jogos para o Rio e que acaba de deixar o cargo, Eduardo Paes, tentou várias vezes ceder sua gestão para a iniciativa privada, mas ninguém ficou interessado em pagar por um gigante que consome cerca de 30 bilhões de reais por ano. O Ministério dos Esportes teve que assumir em dezembro e ainda não deu muitos detalhes de como vai transformar o Rio em um destino de competições internacionais.
A Prefeitura ainda é responsável por desmontar o Parque Aquático, que inicialmente levaria duas piscinas olímpicas para diferentes partes da cidade, mas que no final de contas vão ficar para treinos de alta competição do Exército. Também caberia ao município a transformação da Arena 3, que vai passar de palco de torneios de judô e taekwondo a um ginásio olímpico para cerca de mil alunos sem data para ser inaugurado. A Arena do Futuro, que sediou o handebol, ainda espera a licitação para ser desmontada e transformada em quatro escolas municipais. “Não há nenhum abandono”, defendem na Secretaria municipal de Esportes.
A iniciativa privada, asfixiada pela recessão, é dona de uma boa parte do terreno, mas não há nenhum sinal da projetada transformação do centro de imprensa em hotel e escritórios, bem como dos espaços vagos em empreendimentos de luxo. Perto dali, os 3.600 apartamentos da vila olímpica, onde os atletas se alojaram, esperam comprador: foram vendidos apenas 260. A construtora responsável, com pressa para recuperar seu dinheiro, estuda agora, junto à Prefeitura e a Caixa Econômica Federal, um acordo para vender os apartamentos o mais rápido possível e com juros baixos, a instituições públicas, como a Marinha.
A imprensa local e internacional critica o abandono enquanto o ex-prefeito, que prometeu várias vezes que o Rio não teria elefantes brancos, pede calma: “Contratos e acordos estão fechados, mas não dá para desmontar estruturas que levaram anos para serem montadas em poucos meses”. Londres, sede dos Jogos em 2012, também levou um tempo para reativar o Parque Olímpico, exatamente 19 meses, um paralelo que não conforta os críticos. “Londres tinha um plano, o Brasil não tem. O principal legado para Londres foi a revitalização de áreas degradadas. Muito diferente do que aconteceu no Rio, que investiu principalmente na Barra de Tijuca [bairro do Parque Olímpico], uma das áreas mais valorizadas da cidade”, lamenta Pedro Trengrouse, professor de gestão esportiva da Fundação Getúlio Vargas.
A menos de 20 km do Parque Olímpico permanece fechado o Parque Radical Deodoro, a segunda maior instalação dos Jogos e um oásis verde com água para um bairro pobre do subúrbio, a quase uma hora de carro da praia de Ipanema. O local, que sediou as provas de canoagem e BMX, chegou a abrir suas portas para os cariocas antes dos Jogos, quando o ex-prefeito percebeu que os vizinhos estavam pulando a cerca para desfrutar de uma piscina que não fosse inflável, mas está fechado desde dezembro. O contrato de gestão expirou e o novo prefeito, Marcelo Crivella, que adotou o slogan “é proibido gastar”, ainda está "estudando a maneira" – a assesoria da secretaria de Esportes não deu mais detalhes – de abrir as portas este mês. O guarda responsável pela custódia do parque adverte: “Nesta cidade não acontece nada antes do Carnaval”.
Assinar:
Comentários (Atom)







