domingo, 9 de setembro de 2018
A diáspora dos milionários
Quem são eles? Empresas e instituições de análise de mercado, nacionais e estrangeiras, estabeleceram o perfil: pessoas detentoras de patrimônio líquido alto, com ativos iguais ou superiores a US$ 1 milhão. Esses indivíduos, que estão no topo da pirâmide social, surpreendem atualmente o mundo ao colocarem o País na sétima posição no ranking de êxodo de milionários. Os emigrantes possuem bom grau de cultura e curso superior. Se alguém se espanta, no entanto, com a diáspora de dois mil milionários, respire fundo para a próxima informação: setenta milhões de brasileiros gostariam de ir embora. Dois a cada três jovens querem muito ter logo as condições de colocar as pernas no mundo.

Para onde os emigrantes estão indo? Cansaram do fardo, querem fado… o destino principal é Portugal. Na sequência estão EUA e Espanha. Estudos do Banco Central demonstram que esses dois países repondem por 51% do investimento recorde de brasileiros no exterior, somando US$ 3,2 bilhões. É bom para Portugal? A resposta mora naquilo que o governo de lá está a oferecer: a concessão de visto de residência gold a quem investe em seu território quinhentos mil euros em imóveis. Brasileiros já investiram US$ 1,07 bilhão.
Chega-se, agora, à questão vital: por que estão abandonando o Brasil? Socorro-me do refinado Apparício Fernando de Brinkerhoff Torelly, que deu a si, de forma hilária e irônica, o nobiliárquico título de Barão de Itararé. Escreveu ele: “De onde menos se espera, é daí que não sai nada mesmo”. Salto no tempo, trago a fala de lá para cá, e escancaro ao leitor a crua realidade da nossa sucessão presidencial. Repitamos o Barão: “De onde menos se espera, é daí que não sai nada mesmo”. Os milionários estão indo embora (com muito dinheiro no bolso o planeta é uma ervilha) porque olham para o quadro sucessório e não enxergam nada que os anime – “não sai nada mesmo”. Ouvem as plataformas políticas e nelas há um oco de propostas inexequíveis para a superação da crise econômica. Só mais uma vez: “Não sai nada mesmo”.
Se a esperança é a última que morre, no Brasil ela foi trucidada em tenra idade. Primeiro, os brasileiros se desiludiram devido aos escândalos de corrupção. A decorrência foi a desilusão com a política, agravada pela crise econômica. Nova e derradeira decorrência é a desilusão com os candidatos que estão aí, e tudo isso já gerou três ciclos emigratórios sucessivos. Nunca na história da Nação tantos milionários, que sempre colocaram suas fichas no instável pôquer que é a nossa república, haviam saído do jogo e recolhido seus cacifes como o fazem agora. Nos últimos três anos, juntando as três frustrações expostas logo acima, doze mil brasileiros desistiram da Mãe Gentil — tudo bem, Gentil, mas sem futuro político. Não se assistiu à igual debandada voluntária nem na posse de João Goulart em 1961, na qual se intuía a anomia (Emile Durkheim, “As regras do método sociológico”) que viria com o projeto de uma república sindicalista; já a diáspora após o golpe militar-civil de 1964, que mergulhou o País na “longa jornada noite adentro” da ditadura (expressão tomada e aqui adaptada de Eugene O’Neill), essa foi compulsória.
O jornal francês “Les Échos” (com tradição que vem desde 1880) publicou: “mesmo havendo espaço para Geraldo Alckmin crescer com a campanha na tevê, o mercado começou a incorporar cenário incerto, com mais chance de vitória da esquerda”. Temendo alta porcentagem de abstenção, o deputado alemão Martin Schulz, democrata, lembrou o filósofo Edmund Burke: “para que os maus vençam, basta que os bons se calem”. Existe, sim, a ameaça de as urnas nos trazerem dois extremismos para o segundo turno: o da direita e o da esquerda, o primeiro com Jair Bolsonaro, o segundo com Fernando Haddad que transporta na alma o risco do lulopetismo. Há Marina Silva e Ciro Gomes, menos extremistas, mas também populistas. E há Geraldo Alckmin, o único ao qual se pode atribuir o equilíbrio democrático, capaz de evitar que algum aventureiro lance mão da coroa, mas que não decola nas pesquisas.
Vamos, primeiro, ao radicalismo do PT. O programa do partido inclui referendos para “aprofundar a democracia”, ou seja: tirar a legitimidade do Congresso. O programa estabelece o controle da mídia, ou seja: a censura. O programa prega a “convocação de assembleia constituinte”, ou seja: minar instituições, como se viu na esfarrapada Venezuela. Olhemos, agora, o radicalismo de Jair Bolsonaro: a visão superficial das mazelas nacionais, o desprezo pelas chamadas minorias sociais e sua obstinação por tiro, tiro, tiro e tiro o torna uma ameaça ao Estado de Direito. Diante desse quadro, por que milionários aqui se quedariam? Uma coisa é pagar para ver blefe político de par de sete. Coisa bem diferente é viver sob regimes extremistas. Assim, cabe, aqui, a adaptação da parábola: é mais fácil um milionário entrar no reino de Portugal do que um candidato passar pelo buraco da crise do Brasil. Ou, então, recordar Gilberto Gil: “quem sabe de mim sou eu, aquele abraço!”.
Endeusar políticos é sintoma de transtorno mental
Mas é preciso ter uma mente especial, igualmente falsa e conspiratória, para que as “fake news” possam nascer e prosperar. E, nesse quesito, há países e países.
O instituto de pesquisas Ipsos Mori resolveu estudar o assunto, informa o jornal “Daily Telegraph”. Entrevistou mais de 19 mil pessoas em 27 países. E concluiu, entre outras coisas, que os “fake readers” não se distribuem democraticamente pelo mundo.
Quando falamos de “fake readers”, falamos de pessoas com uma certa “tendência” ou “susceptibilidade” para acreditar em tudo que leem. Sem duvidar, sem questionar.
Itália ou Reino Unido, dois países que conheço bem, são pouco crédulos. Entre os italianos, só 29% confessam ter sido enganados por “fake news”. Entre os britânicos, só 33%.
Arrisco um: a desconfiança permanente que italianos e ingleses sempre manifestaram em relação ao poder. Por razões históricas ou filosóficas, ambos os povos sempre tiveram aquela centelha anarquista que permite olhar para a realidade com uma dose saudável de cepticismo.
Não é por acaso que Itália, depois da aberração fascista, tenha tido mais de 60 governos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Há traumas que nunca se esquecem.
E não é por acaso que Inglaterra, nas palavras do historiador Élie Halévy, tenha passado por todas as revoluções —industrial, social, cultural— sem nunca ter feito a Revolução (com maiúscula).
Mas no estudo do Ipsos Mori há um país que se destaca pelo seu impressionante grau de credulidade: o Brasil, que lidera a lista. Os brasileiros, ou 62% deles, são os mais crédulos de todos (a média é 48%). Em segundo lugar, com 58%, vem a Arábia Saudita. Como explicar isso?
Eruditos apressados dirão que a culpa é da colonização (e do atraso educacional); da herança católica (e da reverência cega perante a palavra escrita); ou, então, de ninguém: se o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de internet, é inevitável que o número de otários seja proporcional ao número de usuários.
Boa sorte nesse debate. Uma coisa é certa: se há algo que distingue o período eleitoral que o país vive é a existência de tribos —à esquerda e à direita, sem distinção— que cometem o supremo pecado em política: acreditar em políticos e batalhar obstinadamente por eles.
Quando falamos de “fake readers”, falamos de pessoas com uma certa “tendência” ou “susceptibilidade” para acreditar em tudo que leem. Sem duvidar, sem questionar.
Itália ou Reino Unido, dois países que conheço bem, são pouco crédulos. Entre os italianos, só 29% confessam ter sido enganados por “fake news”. Entre os britânicos, só 33%.
Arrisco um: a desconfiança permanente que italianos e ingleses sempre manifestaram em relação ao poder. Por razões históricas ou filosóficas, ambos os povos sempre tiveram aquela centelha anarquista que permite olhar para a realidade com uma dose saudável de cepticismo.
Não é por acaso que Itália, depois da aberração fascista, tenha tido mais de 60 governos desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Há traumas que nunca se esquecem.
E não é por acaso que Inglaterra, nas palavras do historiador Élie Halévy, tenha passado por todas as revoluções —industrial, social, cultural— sem nunca ter feito a Revolução (com maiúscula).
Mas no estudo do Ipsos Mori há um país que se destaca pelo seu impressionante grau de credulidade: o Brasil, que lidera a lista. Os brasileiros, ou 62% deles, são os mais crédulos de todos (a média é 48%). Em segundo lugar, com 58%, vem a Arábia Saudita. Como explicar isso?
Eruditos apressados dirão que a culpa é da colonização (e do atraso educacional); da herança católica (e da reverência cega perante a palavra escrita); ou, então, de ninguém: se o Brasil é um dos maiores consumidores mundiais de internet, é inevitável que o número de otários seja proporcional ao número de usuários.
Boa sorte nesse debate. Uma coisa é certa: se há algo que distingue o período eleitoral que o país vive é a existência de tribos —à esquerda e à direita, sem distinção— que cometem o supremo pecado em política: acreditar em políticos e batalhar obstinadamente por eles.
Aquecimento global resumido em menos de um minuto
Antti Lipponen é um pesquisador do Instituto Meteorológico da Finlândia empenhado em que o maior número possível de pessoas entenda a importância da mudança climática. Com base nas informações e nos conhecimentos que obtém em seu trabalho, ele cria gráficos em movimento pensados para as redes sociais que explicam o aquecimento global em menos de um minuto.
Em 25 de agosto, publicou um deles em sua conta no Twitter com dados da Nasa. Nele, inclui as anomalias térmicas de mais de 190 países entre 1880 e 2017. “Dá medo”, disse o próprio Lipponen ao mostrar o gráfico pela primeira vez. A imagem foi compartilhada mais de 18.000 vezes em duas semanas de publicação. No início de setembro, ele publicou uma versão mais ampla do gráfico, com mais países incluídos.
“Quero demonstrar que as consequências da mudança climática não vão chegar em um futuro próximo, nós já as estamos vivendo, e fazer isso em um âmbito mais amplo do que o estritamente científico”, comenta ao Verne por telefone.
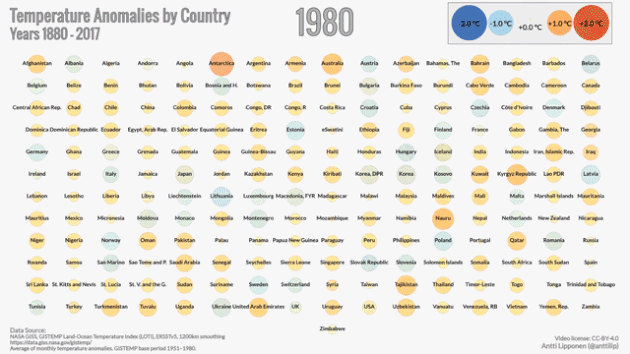
Lipponen considera anomalia térmica a diferença entre a temperatura de cada ano e a média do período entre os anos de 1951 e 1980. À medida que os países vão se aquecendo, as bolhas coloridas que os representam vão crescendo.
Além das muitas horas de pesquisa que investe em seu trabalho, o finlandês dedicou outras quatro horas para a criação do gráfico que resume os dados. O último plano mostra a diferença de graus de cada país em 2017 em relação à média.
Embora países como Mongólia e Rússia mostrem aumentos de temperatura mais pronunciados, superiores a dois graus, há outros lugares do planeta nos quais devemos prestar mais atenção.
“Se a Antártida degelar ao ter um clima mais quente, essa enorme quantidade de água se transformará em inundações em outros países”, aponta Lipponen. “Não há motivo para que alguns políticos neguem a mudança climática. Não acredito que façam isso por ignorância, e sim por um interesse cínico”, comenta.
O pesquisador já criou no ano passado um gráfico com informações similares, que foi compartilhado por mais de 11.000 usuários.
Em 25 de agosto, publicou um deles em sua conta no Twitter com dados da Nasa. Nele, inclui as anomalias térmicas de mais de 190 países entre 1880 e 2017. “Dá medo”, disse o próprio Lipponen ao mostrar o gráfico pela primeira vez. A imagem foi compartilhada mais de 18.000 vezes em duas semanas de publicação. No início de setembro, ele publicou uma versão mais ampla do gráfico, com mais países incluídos.
“Quero demonstrar que as consequências da mudança climática não vão chegar em um futuro próximo, nós já as estamos vivendo, e fazer isso em um âmbito mais amplo do que o estritamente científico”, comenta ao Verne por telefone.
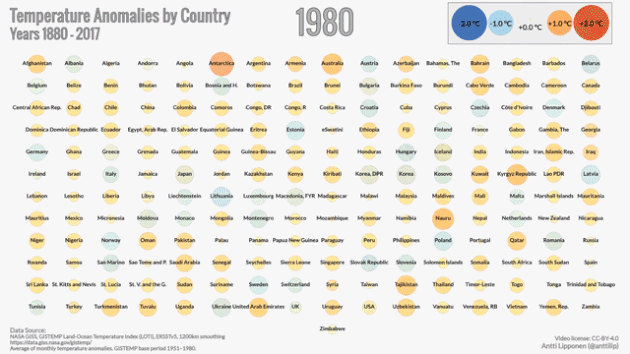
Lipponen considera anomalia térmica a diferença entre a temperatura de cada ano e a média do período entre os anos de 1951 e 1980. À medida que os países vão se aquecendo, as bolhas coloridas que os representam vão crescendo.
Além das muitas horas de pesquisa que investe em seu trabalho, o finlandês dedicou outras quatro horas para a criação do gráfico que resume os dados. O último plano mostra a diferença de graus de cada país em 2017 em relação à média.
Embora países como Mongólia e Rússia mostrem aumentos de temperatura mais pronunciados, superiores a dois graus, há outros lugares do planeta nos quais devemos prestar mais atenção.
“Se a Antártida degelar ao ter um clima mais quente, essa enorme quantidade de água se transformará em inundações em outros países”, aponta Lipponen. “Não há motivo para que alguns políticos neguem a mudança climática. Não acredito que façam isso por ignorância, e sim por um interesse cínico”, comenta.
O pesquisador já criou no ano passado um gráfico com informações similares, que foi compartilhado por mais de 11.000 usuários.
A fala, o fogo e a faca
O incêndio no Museu Nacional e o atentado à faca sofrido pelo candidato à Presidência da República pelo PSL, Jair Bolsonaro, parecem fatos isolados e distantes, mas estão intimamente ligados e narram em tons ferozes um processo perigosíssimo de rompimento da ordem social e da ideia de que nós, o povo, possamos edificar um Estado.
Parece não haver mais aspectos comuns entre nós, brasileiros, além da língua. Contudo, estamos em uma Babel invertida. Falamos todos o mesmo código, o português, com as variações fonéticas e as entonações típicas regionais, os sotaques, uma facilidade diante de dialetos que marcam outros povos, mas simplesmente não compreendemos uns aos outros mais. Assim não queremos.
A mesma sílaba contém princípios antagônicos no Brasil de hoje. Não se trata mais de diferir entre “vermelho" ou “azul”, fenômenos sentidos pela retina como resultado de frequências de espectro luminoso distinto, provados cientificamente pela física. A mesma vibração das cordas vocais, causada pelo ar que sai dos pulmões, impulsionado pelo diafragma, resultando em uma palavra cuja história social, ou seja, nós como povo, organizamos em um sentido objetivo. Antes, o que era um tubérculo com denominações como mandioca, aipim ou macaxeira; todos sabíamos onde o vocábulo terminaria: na mesa, na barriga, na tradição, na cozinha, na economia, enfim, na empatia pela nossa diversidade. Atualmente, a simples menção da planta nos levará à guerra entre se foi guerra impeachment ou golpe. Debate, discórdia e cizânia são o fim da conversa. Já não há mais palavra desprovida de ideologia no dicionário brasileiro.
Se todas as palavras permitem certo grau interpretação, assustadoramente o impasse é agora uma luxúria maravilhosa, e seja pela esquerda ou pela direita, manifesta o mais infernal dos egoísmos, que é cada um cuidar de si. Querem o gozo exclusivo de um país inteiramente seu.
O Brasil virou um escravo sexual dos militantes.
Se a fala ampara-se na identidade, a memória, os arquivos, os acervos, a arqueologia, o patrimônio cultural, os centros históricos, o espaço público ardem em abandono e que não é somente físico, mas também de novas visões e políticas públicas que possam ir além do binômio estado-orçamento.
O Iphan não é o patrimônio, é apenas um órgão federal de tutela. Sua resposta para o incêndio foi uma normativa burocrática. O BNDES rasga recursos públicos em obras de restauração que não promovem nenhuma externalidade positiva ou vitalidade urbana. Tampouco mede-se o impacto do investimento. E não se pergunta àqueles que tem a posse do bem cultural, como a UFRJ, se tem capacidade de dar sustentabilidade, interpretação e acesso ao bem. Ninguém pergunta se precisam de ajuda. É um jogo de empurra institucional, coordenado pelo medo do Ministério Público. Mas não faltam recursos para filmes que ninguém vê, teatros que ninguém vai, música que ninguém ouve. Assim como a empáfia acadêmica ergue bandeiras e trincheiras. Não há pontes.
Se o fogo acabou com o museu, as eleições deveriam ajudar a apaziguar o ambiente político, contudo vêm carbonizando o futuro, com palavras de ódio, fakes virais e a beatificação de um líder preso por corrupção.
Fala, fogo e faca são quintessências da formação de uma civilização, antecedidas por um outro fator, a terra. Não houve história sem fixação num território, não houve fogueira sem troca de conhecimento, não houve cultura sem contar histórias, não houve democracia sem a ágora. Não houve soberania e paz sem guerras e armas. Fatores primitivos mas que conduziram à razão, à ciência, ao Cosmo e ao próton.
Tem faltado urbanidade aos brasileiros. Estamos segregados em tribos, geograficamente divididos, ricos e pobres não compartilham espaço público. Ambição é não gerada assim como a solidariedade não é experimentada. Violência mata a todos. A escassez da confiança é absoluta.
Planejamento urbano é a reforma mais importante do país. Os candidatos só falam sobre obras, mas não sabem como promover lugares para nos conhecermos e nos amarmos. Territórios de generosidade.
Sejamos pela palavra sentida, pela memória a nos esquentar, pelo amor ao adversário.
Parece não haver mais aspectos comuns entre nós, brasileiros, além da língua. Contudo, estamos em uma Babel invertida. Falamos todos o mesmo código, o português, com as variações fonéticas e as entonações típicas regionais, os sotaques, uma facilidade diante de dialetos que marcam outros povos, mas simplesmente não compreendemos uns aos outros mais. Assim não queremos.
A mesma sílaba contém princípios antagônicos no Brasil de hoje. Não se trata mais de diferir entre “vermelho" ou “azul”, fenômenos sentidos pela retina como resultado de frequências de espectro luminoso distinto, provados cientificamente pela física. A mesma vibração das cordas vocais, causada pelo ar que sai dos pulmões, impulsionado pelo diafragma, resultando em uma palavra cuja história social, ou seja, nós como povo, organizamos em um sentido objetivo. Antes, o que era um tubérculo com denominações como mandioca, aipim ou macaxeira; todos sabíamos onde o vocábulo terminaria: na mesa, na barriga, na tradição, na cozinha, na economia, enfim, na empatia pela nossa diversidade. Atualmente, a simples menção da planta nos levará à guerra entre se foi guerra impeachment ou golpe. Debate, discórdia e cizânia são o fim da conversa. Já não há mais palavra desprovida de ideologia no dicionário brasileiro.
Se todas as palavras permitem certo grau interpretação, assustadoramente o impasse é agora uma luxúria maravilhosa, e seja pela esquerda ou pela direita, manifesta o mais infernal dos egoísmos, que é cada um cuidar de si. Querem o gozo exclusivo de um país inteiramente seu.
O Brasil virou um escravo sexual dos militantes.
Se a fala ampara-se na identidade, a memória, os arquivos, os acervos, a arqueologia, o patrimônio cultural, os centros históricos, o espaço público ardem em abandono e que não é somente físico, mas também de novas visões e políticas públicas que possam ir além do binômio estado-orçamento.
O Iphan não é o patrimônio, é apenas um órgão federal de tutela. Sua resposta para o incêndio foi uma normativa burocrática. O BNDES rasga recursos públicos em obras de restauração que não promovem nenhuma externalidade positiva ou vitalidade urbana. Tampouco mede-se o impacto do investimento. E não se pergunta àqueles que tem a posse do bem cultural, como a UFRJ, se tem capacidade de dar sustentabilidade, interpretação e acesso ao bem. Ninguém pergunta se precisam de ajuda. É um jogo de empurra institucional, coordenado pelo medo do Ministério Público. Mas não faltam recursos para filmes que ninguém vê, teatros que ninguém vai, música que ninguém ouve. Assim como a empáfia acadêmica ergue bandeiras e trincheiras. Não há pontes.
Se o fogo acabou com o museu, as eleições deveriam ajudar a apaziguar o ambiente político, contudo vêm carbonizando o futuro, com palavras de ódio, fakes virais e a beatificação de um líder preso por corrupção.
Fala, fogo e faca são quintessências da formação de uma civilização, antecedidas por um outro fator, a terra. Não houve história sem fixação num território, não houve fogueira sem troca de conhecimento, não houve cultura sem contar histórias, não houve democracia sem a ágora. Não houve soberania e paz sem guerras e armas. Fatores primitivos mas que conduziram à razão, à ciência, ao Cosmo e ao próton.
Tem faltado urbanidade aos brasileiros. Estamos segregados em tribos, geograficamente divididos, ricos e pobres não compartilham espaço público. Ambição é não gerada assim como a solidariedade não é experimentada. Violência mata a todos. A escassez da confiança é absoluta.
Planejamento urbano é a reforma mais importante do país. Os candidatos só falam sobre obras, mas não sabem como promover lugares para nos conhecermos e nos amarmos. Territórios de generosidade.
Sejamos pela palavra sentida, pela memória a nos esquentar, pelo amor ao adversário.
'Viúvas' ricas
Nossos "ricos" preferem um apartamento em Miami ou uma quinta em Portugal a ajudar o País. Quanto às autoridades públicas, com raras exceções, o que esperar de uma corja de ladrões incompetentes que certamente nunca pisaram num museu?Mary del Priore, autora de 51 livros sobre História do Brasil e premiada com três Jabutis
A solidão do meteorito
Penso na longa viagem que o meteorito fez até chegar ali — cinco toneladas de ferro e níquel navegando entre as estrelas, afundando-se no sertão baiano, sendo resgatado e exposto (uma saga essa operação de resgate, daria um romance) —, enquanto lembro os versos da poeta norte-americana Muriel Rukeyser: “O Tempo entra./ Diz:/ o universo é feito de histórias,/ não de átomos.”
O que desapareceu para sempre enquanto o Museu Nacional ardia não foram átomos, não foram artefatos, não foram múmias antiquíssimas, preciosas coleções de lepidópteros, vozes e canções em línguas que nem existem mais: foram histórias. As histórias de que somos feitos.

Lembramos — por isso existimos. Sempre que algo da nossa memória individual ou coletiva se perde, perde-se uma parte de nós. Estamos sempre à beira da extinção. Somos uma espécie ameaçada e somos também a nossa pior ameaça.
Com a destruição do Museu Nacional é como se o Brasil tivesse sofrido um grave acidente vascular cerebral, não socorrido a tempo. Nesse processo, o Brasil perdeu parte da memória. O problema de perder parte da memória é que não sabemos ao certo o que perdemos. Um homem perde um braço num acidente; sabe que perdeu o braço. Mas como saberá, ao despertar no hospital, após um AVC, que perdeu a primeira gargalhada do seu filho? O aroma a goiabas do quintal da sua infância? A noite mais bela da sua vida?
O Brasil perdeu parte da memória; portanto, nem sequer sabe ao certo o que perdeu.
Os políticos, os poderes públicos, tendem a desprezar a cultura — ouço dizer. Acontece que os políticos, ao menos em contexto democrático, desprezam a cultura porque quem os escolhe despreza a cultura.
E por que tanta gente despreza a cultura?
Não me parece justo acusar políticos que, sinceramente, autenticamente, no fundo da sua alma minúscula e deserta, não compreendem que seja mais importante para o Estado gastar dinheiro a proteger museus e outras instituições culturais do que a lavar os carros dos deputados, ministros e senadores.
A falha é nossa, daqueles que agora choram o desaparecimento do Museu Nacional. Todos intuímos a extensão da perda. Todos sabemos que cultura é fundamental. Contudo, não temos sido capazes de defender as causas que nos parecem urgentes e óbvias. Falha grave, falha nossa. Temos errado por arrogância, por preguiça e por desleixo.
Não é possível recuperar o Museu Nacional, a não ser em parte. Mas podemos lutar pela preservação de outros territórios de memória igualmente ameaçados. Podemos e devemos lutar, cada um à sua maneira, para que a cultura e a memória não continuem a ser entendidas, por tantos, como um luxo dispensável.
Por mim, mesmo reconstruído o Palácio de São Cristóvão, deixaria a Pedra de Bendegó lá, na mesma sala em ruínas onde está agora, erguida entre as pesadas cinzas da memória que se foi, como um dedo acusador contra todos nós.José Eduardo Agualusa
Partidocracia, a ditadura dos partidos

A fragilidade dos partidos reflete-se no desinteresse pelas disputas em torno da Presidência da República, dos governos dos Estados, do Senado, da Câmaras dos Deputados, das Assembleias Legislativas. A desilusão é geral. Debates e entrevistas perdem em audiência para jogos de futebol, filmes antigos, novelas, velhos programas de auditório. Os tradicionais “santinhos” ocultam a legenda do candidato. Na corrida para o Palácio do Planalto a maior porcentagem de intenções de voto é creditada a Lula, condenado e encarcerado em Curitiba.
A crise adquire dimensões universais. Não é visível em ditaduras de partido único, como a China ou Cuba, mas se aprofunda nas democracias ocidentais. O partido deixou de ser, na definição de Benjamin Constant, “uma reunião de homens que professam a mesma ideologia política”. O que temos são facções volúveis, cuja composição oscila ao sabor das conveniências. A infidelidade é a regra; a fidelidade, exceção. A democracia, como governo do povo, foi superada pela partidocracia, identificada por Gianfrancesco Pasquino como “o predomínio dos partidos em todos os setores: político, social e econômico” (Dicionário de Política, Bobbio, Matteucci, Pasquino, Ed. Edunb, DF, 1993, II, 906).
Caracteriza-se, diz o cientista político, por um “constante esforço dos partidos em penetrar em novos e cada vez mais amplos espaços. Culmina no seu total controle da sociedade. É então que a partidocracia é deveras o domínio dos partidos”. De acordo com Bobbio, “em vez de subordinarem os interesses partidários e pessoais aos interesses gerais, grandes e pequenos partidos disputam para ver quem consegue desfrutar com maior astúcia todas as oportunidades para ampliar a própria esfera de poder. Em vez de assumirem as responsabilidades de seus comportamentos mais clamorosos e criticáveis, empregam toda a habilidade dialética para demonstrar que a responsabilidade é do adversário, a tal ponto que o país vai se arruinando e ninguém é responsável” (As Ideologias e o Poder em Crise, Ed. Edunb, DF, 1999, 193).
As ferramentas da partidocracia consistem no financiamento público dos partidos e das campanhas e na “atribuição de cargos em vastos setores da sociedade e da economia segundo critérios predominantemente políticos (fenômeno que no caso italiano é apropriadamente definido como loteamento). Ambos os instrumentos fortalecem os partidos, envolvendo amplas e, às vezes, importantes camadas de cidadãos” (Dicionário, Pasquino, vol. II, pág. 907).
A descrição da política, tal como é praticada na Itália, guarda rigorosa semelhança com o cenário brasileiro. A Câmara dos Deputados e o Senado pulverizam-se nas facções. Entre as mais atuantes temos as facções do agronegócio, dos sindicalistas, das igrejas evangélicas, dos corruptos, dos omissos, dos revanchistas, da bala, do baixo clero. São agrupamentos volúveis, que se aproximam ou se afastam de acordo com a determinação do líder do segmento representado.
A discussão sobre a quantidade de partidos é antiga. Surgiu com o aparecimento das primeiras agremiações na segunda metade do século 19. Themístocles Cavalcanti distingue três sistemas: do partido único, presente nos regimes totalitários; do bipartidarismo, adotado nos países anglo-saxônicos por força dos costumes, da tradição e da educação desses povos; e o multipartidário, “preferido nos países latinos, onde o espírito domina a própria realidade política e a capacidade para estabelecer as nuances dos diferentes sistemas levou a essa complicação partidária, que encontramos notadamente na França e no Brasil” (Cinco Estudos, Fundação Getúlio Vargas, 1955). Estivesse vivo, o saudoso constitucionalista colocaria, como quarta posição, o sistema de facções surgido na Itália e aperfeiçoado no Brasil desde o final do século passado.
A campanha eleitoral em andamento revela a fragilidade das legendas. As intenções que havia de voto em Lula não correspondem à decadência do Partido dos Trabalhadores (PT), em adiantado estado de decomposição. Lula, como outros desgastados dirigentes, impediu o florescimento de novas lideranças. Como sucede com o PT, os demais partidos envelheceram nos homens, na conduta e nas ideias, mas insistem em boicotar a renovação.
Ouvindo as ruas fica nítido que o povo perdeu o respeito por partidos e dirigentes. O descrédito é de tal ordem que já lhe não interessam as propostas, as entrevistas e os debates. Votará em quem acreditar ser algo novo, em alguém que imagine lhe trará segurança, emprego, e derrote a corrupção. As regiões atrasadas prestigiarão o atraso. País de analfabetos, governo de analfabetos, escreveu Rui Barbosa. O Brasil modernizado observa a fragmentação de candidaturas com ralas porcentagens de apoio e altas taxas de rejeição.
De Bolsonaro a João Amoedo, passando por Marina Silva, Ciro Gomes, Geraldo Alckmin, Álvaro Dias, Henrique Meirelles, Boulos, Eymael, é amplo o arco de alternativas. Ninguém consegue, porém, robusto apoio do eleitorado. São candidatos cujos partidos cumprem o papel de figurantes.
É inútil esperar do cidadão cuja família sofre abaixo da linha da pobreza que analise nomes e propostas para decidir de maneira racional. No dia 7 de outubro, confuso e desiludido, com o desemprego dentro de casa e a insegurança do lado de fora, votará sem entusiasmo cívico, para cumprir obrigação.
Assinar:
Comentários (Atom)





