domingo, 10 de julho de 2016
Assassinato do futuro
Na mesma semana do plebiscito que tirou o Reino Unido da União Europeia, conhecido como Brexit, uma pesquisa feita pelo professor Júlio Jacobo Waiselfisz, coordenador do Programa de Estudos sobre Violência da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (Flacso), mostrou que no Brasil são assassinadas 29 crianças por dia, mais de dez mil por ano. Estes dois fatos representam o desprezo pelo futuro.
O Brexit é uma preferência pelo passado; a morte de crianças é nossa Braxit, um assassinato de portadores do nosso futuro. Há décadas, o Brasil faz sua Braxit, sem plebiscito, discretamente, por decisões ou missões silenciosas de seus políticos. Raras decisões de um povo geraram tantos debates quanto o chamado Brexit.
Talvez sejam necessárias décadas para termos pleno conhecimento das consequências desta decisão: ética, o fechamento daquele país aos imigrantes que buscam abrigo contra a pobreza e as guerras em seus países; econômica, perda de investimento e vantagens comerciais; política, isolamento de uma população de 65 milhões de habitantes diante de uma comunidade de 510 milhões; cultural, pela perda da oxigenação promovida pela convivência entre povos; histórica, isolamento em um tempo de inevitável marcha a integração e globalização.
Mas já é possível dizer que foi uma opção da maioria dos britânicos pelo passado. O perfil etário dos eleitores demonstra: 63% com mais de 60 anos votaram pela saída; 73% com menos de 30 anos votaram pela permanência. O futuro queria permanecer; o passado, sair. A surpresa do voto dos britânicos não surpreende o Brasil.

Há décadas, opta- mos por sair do futuro, preferindo ficar presos ao passado. Nossos investimentos, nossas estruturas não têm preferência pelo futuro, são usados sobretudo para pagar erros e dívidas do passado. Gastamos R$ 500 bilhões por ano com a Previdência e R$ 300 bilhões com a Educação.
A maioria dos aposentados ainda recebe menos do que o necessário para atender todas as suas necessidades, mesmo assim, considerando o valor per capita, o passado recebe quase duas vezes mais do que recebe o futuro. Em 2013, o setor público brasileiro fez um sacrifício fiscal de R$ 2 bilhões somente para promover a venda de automóveis; e de R$ 1,6 bilhões com incentivos fiscais para inovação tecnológica nas empresas.
Em 2015, pagamos R$ 502 bilhões de juros por dívidas financeiras contraídas no passado e investimos apenas R$ 68,5 bilhões na construção de infraestrutura econômica no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Gastamos mais com o passado do que com o futuro.
No dia seguinte ao Brexit, os eleitores do Reino Unido iniciaram o movimento por um Brain, uma reunificação com a União Europeia, mas o Brasil continua sem ao menos perceber nossa clara op- ção por fugir do futuro, nem se propondo a incorporar-se ao futuro: nosso Brain.
Para tanto, são necessárias diversas reformas, mas sobretudo cuidar da educa- ção das crianças. Nosso Brain quer dizer cuidar do cérebro de cada criança.
O Brexit é uma preferência pelo passado; a morte de crianças é nossa Braxit, um assassinato de portadores do nosso futuro. Há décadas, o Brasil faz sua Braxit, sem plebiscito, discretamente, por decisões ou missões silenciosas de seus políticos. Raras decisões de um povo geraram tantos debates quanto o chamado Brexit.
Talvez sejam necessárias décadas para termos pleno conhecimento das consequências desta decisão: ética, o fechamento daquele país aos imigrantes que buscam abrigo contra a pobreza e as guerras em seus países; econômica, perda de investimento e vantagens comerciais; política, isolamento de uma população de 65 milhões de habitantes diante de uma comunidade de 510 milhões; cultural, pela perda da oxigenação promovida pela convivência entre povos; histórica, isolamento em um tempo de inevitável marcha a integração e globalização.
Mas já é possível dizer que foi uma opção da maioria dos britânicos pelo passado. O perfil etário dos eleitores demonstra: 63% com mais de 60 anos votaram pela saída; 73% com menos de 30 anos votaram pela permanência. O futuro queria permanecer; o passado, sair. A surpresa do voto dos britânicos não surpreende o Brasil.

Há décadas, opta- mos por sair do futuro, preferindo ficar presos ao passado. Nossos investimentos, nossas estruturas não têm preferência pelo futuro, são usados sobretudo para pagar erros e dívidas do passado. Gastamos R$ 500 bilhões por ano com a Previdência e R$ 300 bilhões com a Educação.
A maioria dos aposentados ainda recebe menos do que o necessário para atender todas as suas necessidades, mesmo assim, considerando o valor per capita, o passado recebe quase duas vezes mais do que recebe o futuro. Em 2013, o setor público brasileiro fez um sacrifício fiscal de R$ 2 bilhões somente para promover a venda de automóveis; e de R$ 1,6 bilhões com incentivos fiscais para inovação tecnológica nas empresas.
Em 2015, pagamos R$ 502 bilhões de juros por dívidas financeiras contraídas no passado e investimos apenas R$ 68,5 bilhões na construção de infraestrutura econômica no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Gastamos mais com o passado do que com o futuro.
No dia seguinte ao Brexit, os eleitores do Reino Unido iniciaram o movimento por um Brain, uma reunificação com a União Europeia, mas o Brasil continua sem ao menos perceber nossa clara op- ção por fugir do futuro, nem se propondo a incorporar-se ao futuro: nosso Brain.
Para tanto, são necessárias diversas reformas, mas sobretudo cuidar da educa- ção das crianças. Nosso Brain quer dizer cuidar do cérebro de cada criança.
O vazio atual
Vivemos num tempo que se sente fabulosamente capaz de realizar, porém não sabe o que realizar. Domina todas as coisas, mas não é dono desi mesmo. Sente-se perdido na sua própria abundância. Com mais meios, mais saber, mais técnica do que nunca, afinal de contas o mundo atual vai como o mais infeliz que tenha havido: puramente à derivaOrtega y Gasset, "A Rebelião das Massas"
Não basta cassar Cunha
Não basta tirar o bode da sala ou da Câmara. Os excelentíssimos deputados e senadores tentarão transformar a renúncia e a provável cassação de Eduardo Cunha numa espécie de redenção parlamentar. O presidente interino Michel Temer também aposta na saída de Cunha para alcançar uma trégua com o eleitor que pressiona por moralidade.
O cessar-fogo será temporário. Se alguém pensa que uma cassação calará o anseio por uma reforma política, está equivocado. O Brasil não consegue mais tolerar um Congresso recheado de políticos venais e incompetentes. Ladrões com foro especial, com mordomias e privilégios, que só renunciam e choram quando é atingida a própria família. Em 2007, Renan Calheiros renunciou para escapar de cassação e hoje preside o Senado, apesar de citado em inúmeros inquéritos no Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro.
Com tantos temas cruciais a ser votados, como a renegociação da dívida dos estados falidos, a Previdência e os projetos de combate à corrupção (esses jogados para escanteio por Temer e seu soldado André Moura), os parlamentares entrarão em recesso branco. Férias de inverno espremidas entre a gazeta junina e a Olimpíada. Será interessante apurar o que farão neste julho de sol tépido. Irão à Suíça?
Enquanto isso, nenhum de nós pode parar – porque há crise, desemprego e dívidas. Para o ano que vem, o governo prevê um rombo mais “discreto”, de R$ 139 bilhões, depois da derrocada econômica deixada como herança por Dilma Rousseff, outra “vítima” de perseguição como seu ex-aliado Cunha. A meta fiscal talvez só seja cumprida se pagarmos ainda mais impostos. Socorro. Nada disso afeta os deputados e senadores, que gozam 55 dias de recesso por ano e trabalham de terça a quinta-feira.

O Brasil comemora, aliviado, a renúncia de Eduardo Cunha, o bandido da hora. E aí? O peemedebista renunciou apenas à presidência da Câmara – da qual já fora afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Cunha mantém o mandato de deputado, enquanto não for cassado.
Quais benefícios Cunha preserva, após a renúncia teatral? Salário de R$ 33.763. Atendimento médico para ele e toda a família. Apartamento funcional em Brasília ou auxílio-moradia de R$ 4.253. Verba de R$ 92 mil para contratar até 25 funcionários para o gabinete. Cota parlamentar de até R$ 35.759,97 mensais para alimentação, hospedagem, combustível e passagens aéreas para o estado de origem, o Rio de Janeiro. Isso é um escândalo.
Cunha só perde o direito de morar na residência oficial da presidência da Câmara, no Lago Sul de Brasília. Vive ali com a mulher que enternece seu coração e o faz chorar, a ex-apresentadora de TV Cláudia Cruz. O casal terá até 30 dias para sair da mansão. Cunha perde a segurança pessoal e o transporte em jatinho da FAB.
Ah, mas Cunha será cassado e perderá os benefícios e os direitos políticos por oito anos. A questão é: e os outros 512 deputados? Em primeiro lugar, são demasiados. A julgar por seu desempenho na votação do impeachment de Dilma, a maioria é de envergonhar a nação. Reduzir o número de partidos e de congressistas seria muito bom para a moral e para as finanças de Brasília. Mas também não basta.
São eles o espelho dos brasileiros? Então, que sejam mesmo o reflexo de seus eleitores deserdados. Que percam essa montanha de privilégios incompatíveis com um país em desenvolvimento e agora em recessão. Que percam o direito a aposentadorias integrais vitalícias, porque há uma crise na Previdência. Eles tiram dos aposentados pobres para proteger seus clãs e ainda abrem contas secretas milionárias com propinas. Usam verba pública e de empreiteiras para pedir nosso voto.
Se existe uma esperança de que o exercício da política tenha a ver com a defesa real do interesse público, as regras precisam mudar. Quem se candidata a deputado ou a senador não pode abocanhar uma vida de conto de fadas – e, ainda por cima, se transformar em reles vilão.
Os congressistas que porventura cassarem Cunha se sentirão imbuídos de uma aura de moralização, como se fossem os cavaleiros da Távola Redonda e não do Apocalipse. Na verdade, cassam um para que eles próprios se livrem da pressão do eleitor. Concentrar os males do país num bode expiatório não leva a lugar nenhum. A luta só começou. Que a Lava Jato continue a incomodar esquerda e direita e a gerar filhotes com nomes exóticos pelo país afora.
Que Renan Calheiros não consiga coibir as delações, com seus projetos contra “abuso de autoridade”. Que as Marilenas Chauís do PT continuem a desmoralizar não os juízes, mas a si mesmas, por insanidade. Não tem Game Over. Falta muito para o apito final. Que a sociedade continue mobilizada contra os farsantes.
O cessar-fogo será temporário. Se alguém pensa que uma cassação calará o anseio por uma reforma política, está equivocado. O Brasil não consegue mais tolerar um Congresso recheado de políticos venais e incompetentes. Ladrões com foro especial, com mordomias e privilégios, que só renunciam e choram quando é atingida a própria família. Em 2007, Renan Calheiros renunciou para escapar de cassação e hoje preside o Senado, apesar de citado em inúmeros inquéritos no Supremo Tribunal Federal por lavagem de dinheiro.
Com tantos temas cruciais a ser votados, como a renegociação da dívida dos estados falidos, a Previdência e os projetos de combate à corrupção (esses jogados para escanteio por Temer e seu soldado André Moura), os parlamentares entrarão em recesso branco. Férias de inverno espremidas entre a gazeta junina e a Olimpíada. Será interessante apurar o que farão neste julho de sol tépido. Irão à Suíça?
Enquanto isso, nenhum de nós pode parar – porque há crise, desemprego e dívidas. Para o ano que vem, o governo prevê um rombo mais “discreto”, de R$ 139 bilhões, depois da derrocada econômica deixada como herança por Dilma Rousseff, outra “vítima” de perseguição como seu ex-aliado Cunha. A meta fiscal talvez só seja cumprida se pagarmos ainda mais impostos. Socorro. Nada disso afeta os deputados e senadores, que gozam 55 dias de recesso por ano e trabalham de terça a quinta-feira.

Quais benefícios Cunha preserva, após a renúncia teatral? Salário de R$ 33.763. Atendimento médico para ele e toda a família. Apartamento funcional em Brasília ou auxílio-moradia de R$ 4.253. Verba de R$ 92 mil para contratar até 25 funcionários para o gabinete. Cota parlamentar de até R$ 35.759,97 mensais para alimentação, hospedagem, combustível e passagens aéreas para o estado de origem, o Rio de Janeiro. Isso é um escândalo.
Cunha só perde o direito de morar na residência oficial da presidência da Câmara, no Lago Sul de Brasília. Vive ali com a mulher que enternece seu coração e o faz chorar, a ex-apresentadora de TV Cláudia Cruz. O casal terá até 30 dias para sair da mansão. Cunha perde a segurança pessoal e o transporte em jatinho da FAB.
Ah, mas Cunha será cassado e perderá os benefícios e os direitos políticos por oito anos. A questão é: e os outros 512 deputados? Em primeiro lugar, são demasiados. A julgar por seu desempenho na votação do impeachment de Dilma, a maioria é de envergonhar a nação. Reduzir o número de partidos e de congressistas seria muito bom para a moral e para as finanças de Brasília. Mas também não basta.
São eles o espelho dos brasileiros? Então, que sejam mesmo o reflexo de seus eleitores deserdados. Que percam essa montanha de privilégios incompatíveis com um país em desenvolvimento e agora em recessão. Que percam o direito a aposentadorias integrais vitalícias, porque há uma crise na Previdência. Eles tiram dos aposentados pobres para proteger seus clãs e ainda abrem contas secretas milionárias com propinas. Usam verba pública e de empreiteiras para pedir nosso voto.
Se existe uma esperança de que o exercício da política tenha a ver com a defesa real do interesse público, as regras precisam mudar. Quem se candidata a deputado ou a senador não pode abocanhar uma vida de conto de fadas – e, ainda por cima, se transformar em reles vilão.
Os congressistas que porventura cassarem Cunha se sentirão imbuídos de uma aura de moralização, como se fossem os cavaleiros da Távola Redonda e não do Apocalipse. Na verdade, cassam um para que eles próprios se livrem da pressão do eleitor. Concentrar os males do país num bode expiatório não leva a lugar nenhum. A luta só começou. Que a Lava Jato continue a incomodar esquerda e direita e a gerar filhotes com nomes exóticos pelo país afora.
Que Renan Calheiros não consiga coibir as delações, com seus projetos contra “abuso de autoridade”. Que as Marilenas Chauís do PT continuem a desmoralizar não os juízes, mas a si mesmas, por insanidade. Não tem Game Over. Falta muito para o apito final. Que a sociedade continue mobilizada contra os farsantes.
Uniram-se os inimigos da Lava Jato. E nós?
Cheguei a crer que fosse inviável parar a Lava Jato. Hoje, essa certeza arrefeceu. Ainda que não seja possível retirar do juiz Sérgio Moro e dos promotores da força-tarefa as garantias constitucionais que lhes asseguram a autonomia para agir, existem maneiras de lhes suprimir os meios de ação e, até mesmo, de os neutralizar. A despeito da respeitável determinação da turma de Curitiba e do irrestrito apoio do povo, essas artimanhas estão sendo exibidas diante dos nossos olhos.
A Lava Jato suscitou contra si o mais poderoso grupo de inimigos que já se formou no Brasil. Para combatê-la, uniram-se parceiros tradicionais e inimigos tradicionais, instalados em elevadíssimos andares no edifício do poder. Estão fisicamente dispersos, mas se articulam e operam, como bem se sabe, em todos os poderes e instituições da república. A força tarefa tem contra si numerosa bancada no Congresso Nacional, muitos dos melhores advogados do país, bem como negociadores e articuladores políticos de competência comprovada. Esse conjunto de antagonistas dispõe, ao alcance da mão, de todos os meios financeiros e materiais que possam ser requeridos pela tarefa de a estancar. E note-se: estou me referindo somente aos figurões que hoje medem diariamente a distância que os separa da porta da cadeia, seja porque lá já estão, seja porque é para lá que receiam ser levados. A estes se acresce, ainda, um conjunto de forças figurantes. É formado por quantos dependem do grupo principal e têm grande interesse em que malefício algum aconteça a seus maiores. A onda de choque de cada sentença e de cada prisão também causa dano sobre esse numeroso grupo que hoje enfrenta a interrupção de seus fluxos de caixa. Aliás, se fosse possível uni-los numa legenda, por exemplo, formariam talvez a mais influente agremiação do país.
É o exército da máfia. Legião de brasileiros que acorda, diariamente, com olhos e ouvidos postos nos movimentos da Polícia Federal, face mais imediatamente visível das operações já criadas ou ainda por ser instaladas e pensa, em harmonia com o andar de cima: isso tem que parar.
Há mais, leitor. Os inimigos da Lava Jato dispõem, em seu favor, de uma legislação protecionista, garantista, que faz do foro privilegiado e do sigilo sucedâneos legais da omertà, a lei do silêncio da máfia no sul da Itália.
Pois bem, se essas forças estão se articulando e, visivelmente, começam a agir nos processos, nos projetos e composições de poder, chegou a hora de os cidadãos retornarem às ruas, conforme está programado para acontecer no próximo dia 31. Os últimos meses tornaram evidente que o impeachment é irreversível. O governo Dilma acabou. Ótimo. Revelou-se com nitidez, porém, um inimigo que está além dos jogos de guerra entre governo e oposição. Refiro-me à criminalidade atuante nas instituições nacionais.
Por causa dela e contra ela, é necessário que no dia 31 de julho, aos milhões, voltemos novamente às ruas, em ordem e com entusiasmo cívico. É hora de exigirmos o fim do foro privilegiado, de cobrarmos a aprovação sem delongas das medidas do MPF contra a corrupção e de levarmos à Lava Jato mais do que nosso apoio. Faremos ver a seus inimigos que a nação os conhece e rejeita. Com determinação e esperança, unidos, daremos à Lava Jato nossa voz, nosso ânimo e a expressão de nosso amor ao Brasil.
Percival Puggina
A Lava Jato suscitou contra si o mais poderoso grupo de inimigos que já se formou no Brasil. Para combatê-la, uniram-se parceiros tradicionais e inimigos tradicionais, instalados em elevadíssimos andares no edifício do poder. Estão fisicamente dispersos, mas se articulam e operam, como bem se sabe, em todos os poderes e instituições da república. A força tarefa tem contra si numerosa bancada no Congresso Nacional, muitos dos melhores advogados do país, bem como negociadores e articuladores políticos de competência comprovada. Esse conjunto de antagonistas dispõe, ao alcance da mão, de todos os meios financeiros e materiais que possam ser requeridos pela tarefa de a estancar. E note-se: estou me referindo somente aos figurões que hoje medem diariamente a distância que os separa da porta da cadeia, seja porque lá já estão, seja porque é para lá que receiam ser levados. A estes se acresce, ainda, um conjunto de forças figurantes. É formado por quantos dependem do grupo principal e têm grande interesse em que malefício algum aconteça a seus maiores. A onda de choque de cada sentença e de cada prisão também causa dano sobre esse numeroso grupo que hoje enfrenta a interrupção de seus fluxos de caixa. Aliás, se fosse possível uni-los numa legenda, por exemplo, formariam talvez a mais influente agremiação do país.
É o exército da máfia. Legião de brasileiros que acorda, diariamente, com olhos e ouvidos postos nos movimentos da Polícia Federal, face mais imediatamente visível das operações já criadas ou ainda por ser instaladas e pensa, em harmonia com o andar de cima: isso tem que parar.
Há mais, leitor. Os inimigos da Lava Jato dispõem, em seu favor, de uma legislação protecionista, garantista, que faz do foro privilegiado e do sigilo sucedâneos legais da omertà, a lei do silêncio da máfia no sul da Itália.
Pois bem, se essas forças estão se articulando e, visivelmente, começam a agir nos processos, nos projetos e composições de poder, chegou a hora de os cidadãos retornarem às ruas, conforme está programado para acontecer no próximo dia 31. Os últimos meses tornaram evidente que o impeachment é irreversível. O governo Dilma acabou. Ótimo. Revelou-se com nitidez, porém, um inimigo que está além dos jogos de guerra entre governo e oposição. Refiro-me à criminalidade atuante nas instituições nacionais.
Por causa dela e contra ela, é necessário que no dia 31 de julho, aos milhões, voltemos novamente às ruas, em ordem e com entusiasmo cívico. É hora de exigirmos o fim do foro privilegiado, de cobrarmos a aprovação sem delongas das medidas do MPF contra a corrupção e de levarmos à Lava Jato mais do que nosso apoio. Faremos ver a seus inimigos que a nação os conhece e rejeita. Com determinação e esperança, unidos, daremos à Lava Jato nossa voz, nosso ânimo e a expressão de nosso amor ao Brasil.
Percival Puggina
O preço da sacralização do Judiciário

Aconteceram três episódios que prenunciam encrencas que serão testes para o Judiciário nacional. Em fevereiro, contra o voto de Celso de Mello e de três outros ministros, o Supremo Tribunal Federal decidiu que uma pessoa condenada na segunda instância deverá esperar o julgamento de um novo recurso na cadeia. Mello chamou a decisão de “inversão totalitária”. Na semana passada, numa inversão minoritária, o ministro mandou soltar um empresário que em 2009 matara o sócio. Condenado a 16 anos na primeira instância, ficou com 14 anos na segunda e foi preso. Mello soltou-o. Ele não julgou o caso, mas o direito de um assassino esperar em liberdade o julgamento de seu último recurso. O Supremo deverá decidir se a decisão de fevereiro foi constitucional. Todos os grandes clientes e escritórios de advocacia que defendem a turma da Lava-Jato torcem para que ocorra uma inversão plutocrática. Como 7x4 pode virar uma outra coisa, não se sabe, mas pode-se sonhar com uma reversão do doloroso 7x1 do Mineirão.
Noutro episódio, o ministro Dias Toffoli mandou soltar o comissário Paulo Bernardo, que havia sido preso uma semana antes. Sua decisão foi cumprida pelo juiz da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Tendo sido obrigado a libertar o comissário petista, o magistrado soltou outros seis acusados de morder as contas de créditos de servidores públicos. Se é para soltar, soltemos todos.
O terceiro caso, grotesco, aconteceu no Tribunal Federal da 2ª Região. O juiz Marcelo Bretas mandou prender o notório contraventor Carlinhos Cachoeira e o notável empreiteiro Fernando Cavendish, da Delta. Prontamente, o desembargador Ivan Athié, do Tribunal Federal da região, atendeu os advogados de Cachoeira e converteu as prisões preventivas em domiciliares.
Os repórteres Chico Otávio e Juliana Castro lembraram ao público que o desembargador já fora réu num processo que lhe custara o afastamento do tribunal por vários anos. Defendido por Técio Lins e Silva (hoje advogando para Cavendish), foi desonerado. Em 2014, Athié desbloqueara os bens do empreiteiro acusado de superfaturamentos em obras do governo do Estado do Rio. A amizade de Cavendish com o governador Sérgio Cabral era motivo de orgulho para ambos, e Athié registrou que ser amigo de poderosos não poderia criminalizar um cidadão. O desembargador que rapidamente adocicou as preventivas foi novamente ligeiro: declarou-se impedido e entrou em férias. Suas decisões foram revertidas, e a dupla foi para Bangu até que o ministro Nefi Cordeiro, do STJ, retomou a linha de Athié e mandou soltá-los. Breve, novos capítulos.
Lewandowski na garupa da girafa
Corre no Supremo Tribunal Federal uma articulação meio girafa. Em setembro, o ministro Ricardo Lewandowski deixa a presidência da Corte e será substituído pela ministra Cármen Lúcia. Com isso abre-se uma vaga na Segunda Turma, a que cuida da Lava-Jato.Pelo regimento, a cadeira deverá ser ocupada por Lewandowski. A ideia-girafa é patrocinar uma permuta antes de setembro. A ministra Cármen Lúcia trocaria de cadeira com um colega que está em outra turma. Driblado, Lewandowski seria mantido longe da Lava-Jato.
Uma pirueta desse tipo vai bem num diretório estudantil. Qual ministro continuaria no Tribunal depois de ser submetido a semelhante constrangimento?
Lewandowski quer que a Polícia Federal investigue quem criou o boneco inflável “Petrolowski” que desfilou na Avenida Paulista. Ele representaria “intolerável atentado à honra” do doutor e, “em consequência, à própria dignidade da Justiça brasileira”. A ver, mas se os seus eminentes colegas inflarem o drible da permuta serão aplaudidos pela turma que fez o boneco.
Pelo regimento, a cadeira deverá ser ocupada por Lewandowski. A ideia-girafa é patrocinar uma permuta antes de setembro. A ministra Cármen Lúcia trocaria de cadeira com um colega que está em outra turma. Driblado, Lewandowski seria mantido longe da Lava-Jato.
Uma pirueta desse tipo vai bem num diretório estudantil. Qual ministro continuaria no Tribunal depois de ser submetido a semelhante constrangimento?
Lewandowski quer que a Polícia Federal investigue quem criou o boneco inflável “Petrolowski” que desfilou na Avenida Paulista. Ele representaria “intolerável atentado à honra” do doutor e, “em consequência, à própria dignidade da Justiça brasileira”. A ver, mas se os seus eminentes colegas inflarem o drible da permuta serão aplaudidos pela turma que fez o boneco.
Elio Gaspari
Uma pirueta desse tipo vai bem num diretório estudantil. Qual ministro continuaria no Tribunal depois de ser submetido a semelhante constrangimento?
Lewandowski quer que a Polícia Federal investigue quem criou o boneco inflável “Petrolowski” que desfilou na Avenida Paulista. Ele representaria “intolerável atentado à honra” do doutor e, “em consequência, à própria dignidade da Justiça brasileira”. A ver, mas se os seus eminentes colegas inflarem o drible da permuta serão aplaudidos pela turma que fez o boneco.
Elio Gaspari
Um pouco de otimismo, por favor!
Em vez de procurarmos apenas culpa e castigo em tudo o que acontece no mundo, como exigem certas religiões, por que não ressaltarmos as grandes realizações do gênio humano? Superam os erros, com sobra. Temos vivido mais e melhor. A fome, apesar da recorrência em algumas regiões, diminuiu globalmente. Estamos conectados até os confins da Terra, compartilhamos amizade e informação em tempo real. Estivemos na Lua. Enviamos sondas a todos os planetas, descobrimos alguns semelhantes ao nosso na Via Láctea. Obtivemos fotografias das galáxias primordiais com detalhes inimagináveis. Shakespeare legou-nos uma literatura formidável. Einstein generalizou Newton e deu um salto no espaçotempo. Muitas doenças estão erradicadas. Até a guerra em grande escala diminuiu. A lista de feitos é enorme.
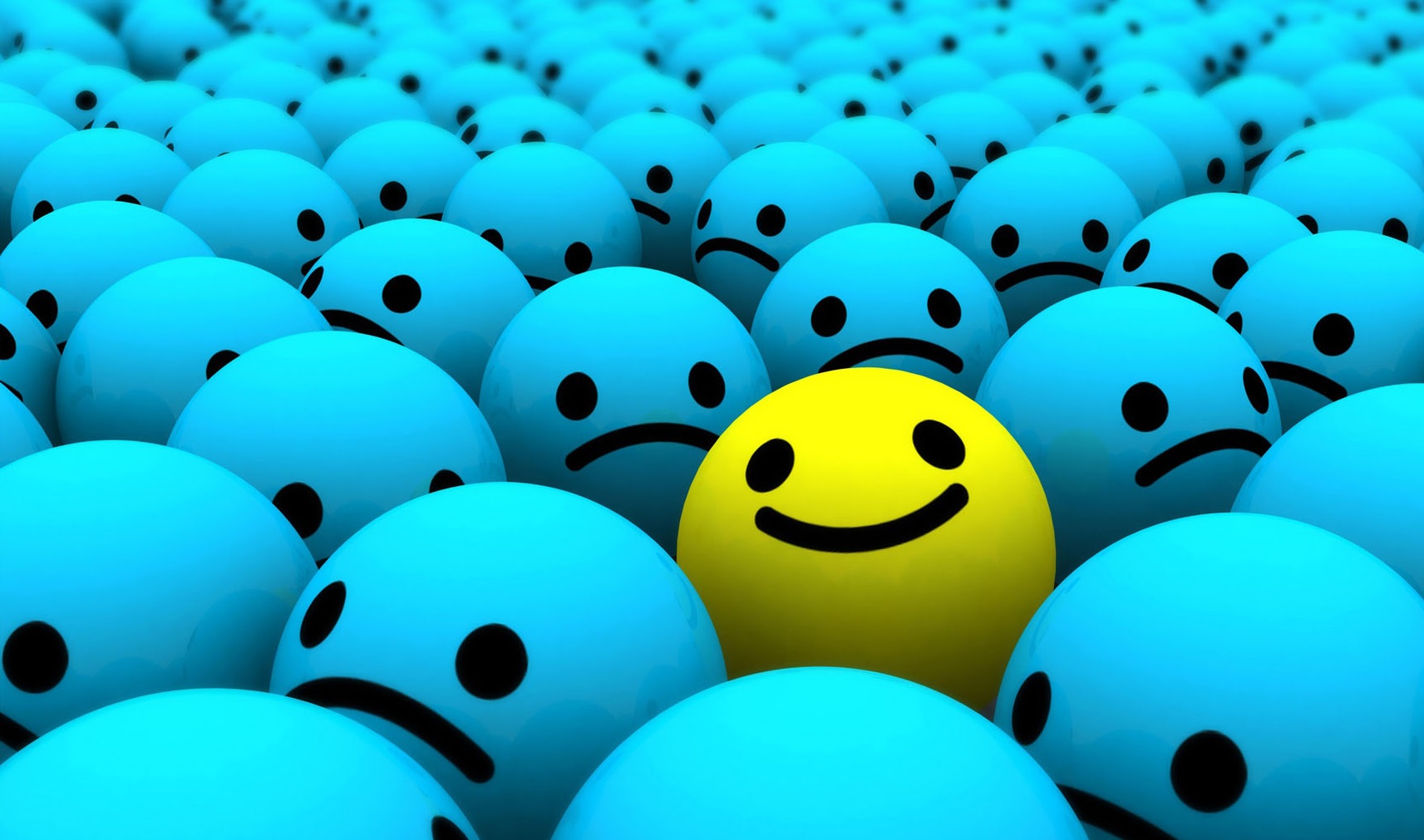
No momento em que ouço o Concerto Número Quatro de Brandenburgo, enquanto mergulho na genialidade de Bach, penso que uma espécie capaz de compor e admirar esta música possui a marca da bondade, não da maldade. Vou além. Bondade e maldade perdem o significado diante da vida. A vida é um espetáculo muito maior, ensaio e estreia ao mesmo tempo. De antemão, é quase impossível adivinhar o resultado de nossa atuação, mas, convenhamos, o saldo tem sido positivo.
Deixemos a culpa e o castigo de lado. Em vez de pensar neles, por que não curtir esta manhã de outono e a lua que, hoje à noite, estará a ponto de fazer-se dia? Se adicionarmos a companhia de Bach, o otimismo chegará de mansinho, qual um gato, e ronronará para nossos ouvidos. Todos merecemos um tempo sem o ruído das cassandras.
Luis Giffoni
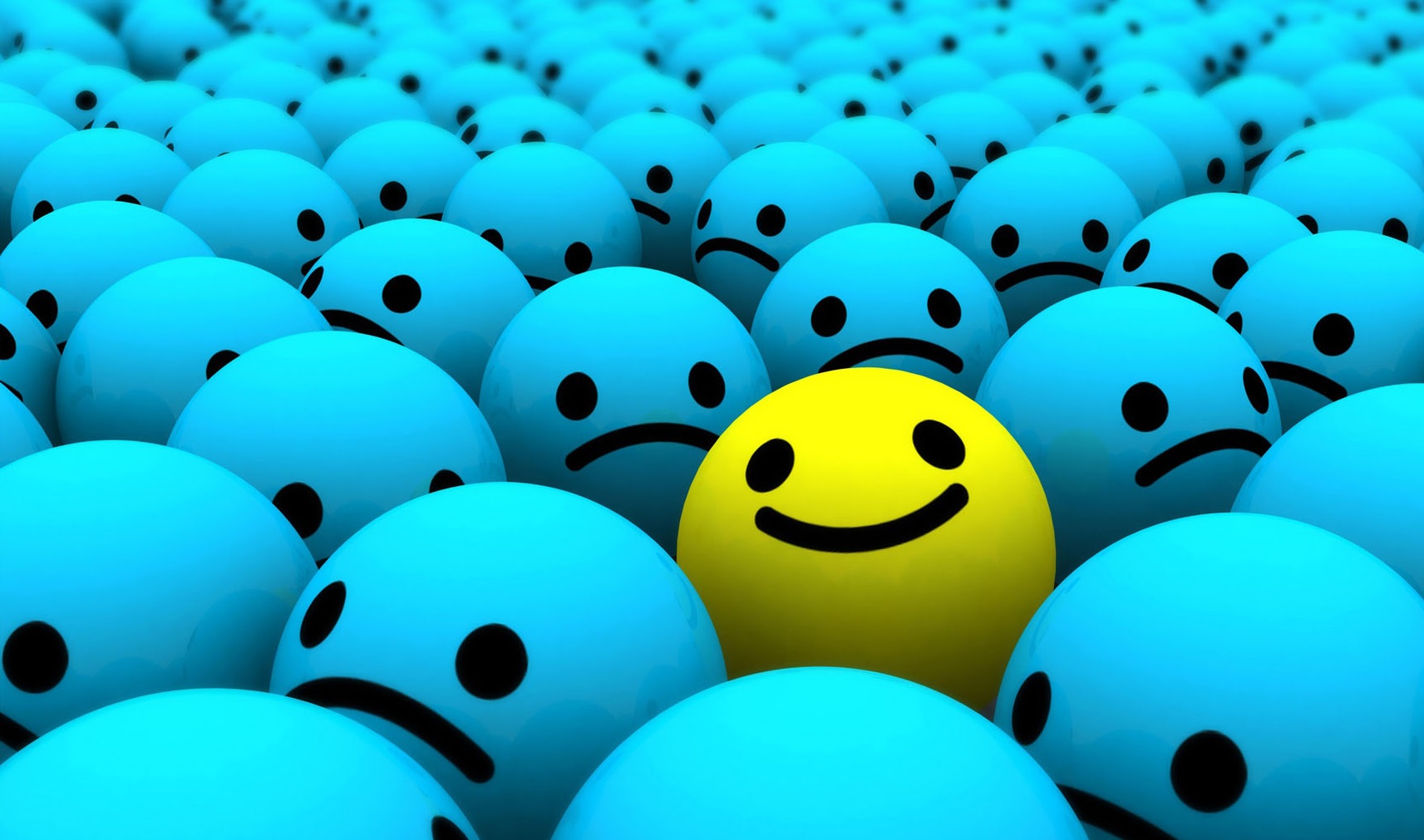
Deixemos a culpa e o castigo de lado. Em vez de pensar neles, por que não curtir esta manhã de outono e a lua que, hoje à noite, estará a ponto de fazer-se dia? Se adicionarmos a companhia de Bach, o otimismo chegará de mansinho, qual um gato, e ronronará para nossos ouvidos. Todos merecemos um tempo sem o ruído das cassandras.
Luis Giffoni
O Estado protege o Estado
O Estado é uma ficção jurídica que retirou dos monarcas, patriarcas, triunfantes chefes guerreiros e líderes religiosos a hegemonia do poder. A autoridade para legislar, executar suas normas e julgar aqueles que as violam transferiu-se com a criação do Estado para uma esfera impessoal: a lei.
Não há dúvida, portanto, que a criação do Estado foi uma conquista histórica da humanidade. Que deu razão ao grego Aristóteles, filósofo que a defendia.
Mas o Estado não é uma pessoa natural. Ele é uma pessoa jurídica, vale dizer, uma ficção concebida para que uma nação se libertasse do poder pessoal de seus governantes. Que se subordinariam, igualmente, à lei comum. E igualmente seriam julgados, como seus governados, pelos atos ou omissões que a infringissem.
Moisés, ao perceber que os hebreus que ele havia libertado da escravidão se rebelavam contra ele, subiu o monte Sinai e de lá trouxe duas tábuas com os dez mandamentos invocando Jeová como seu legislador. Pois é claro que se sentia descredenciado como líder daquela gente que se exasperava no deserto a caminho da Terra Prometida. (O maravilhoso é que aqueles dez preceitos não foram insculpidos para acudir àquela situação dramática de um líder angustiado, mas como paradigmas para o ser humano. O que confirma sua inspiração divina.)
Não é o caso do Estado. Este é um produto histórico, mas do intelecto. Da razão, da qual é sempre prudente nós duvidarmos. (Segundo o poeta Trilussa: "Os racionalistas ensinam que nós devemos duvidar de tudo. Então eu comecei por duvidar da razão".)
O que dizer do Estado, essa figura jurídica que nada tem de mistério, de divina? Mas que é um produto histórico do nosso intelecto?
Direi que sua autoridade, não sendo inefável, sempre estará submetida à crítica que dele fazemos quanto a suas leis, sua execução e o julgamento que delas faz afronta os princípios que Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, inscreveu em cada um de nós: a ética.
Precisamos colocar o Estado em seu devido lugar. Claro que ele não é religioso. Assim como não é gremista, não torce pelo Internacional, não gosta de chuva nem gosta de sol. Nunca foi à missa nem mandou oferenda a Iemanjá numa praia baiana ou carioca. O homem que o criou não foi capaz de soprar nenhum espírito em suas narinas. (Só os marxistas lhe atribuem uma vida própria. E o transformaram num Frankenstein.)
Quem existe, em carne, osso e alma é a nação. Que o Estado precisa refletir por aqueles que legislam, executam suas leis e julgam segundo seus preceitos que normatizam a vida em sociedade. E faça tudo isso segundo critérios isonômicos.
E o nome disso é democracia.
Mas o que vemos é que o Estado nunca refletiu a nação brasileira. Que vive uma crise cíclica, interminável, em intervalos tão curtos que nem esperam o fim de uma geração para se repetirem, cada vez mais intensamente.
Como é que o Estado sempre se preserva dessas intempéries da política?
Ele se preserva por seus agentes porque nós somos muitíssimo emotivos e muito pouco racionais. Como se diz que é próprio dos latinos.
Por exemplo: Eduardo Cunha renunciou ao mandado de presidente da Câmara dos Deputados. E o fez em grande estilo, com a leitura de um simulacro de carta-testamento em que denuncia seus perseguidores políticos, mantendo o privilégio de manter o foro privilegiado para entrar na História, segundo a promessa que lhe fizeram os atuais ocupantes do poder. O impeachment de Dilma seria um protagonismo dele. Não é bonito demais?
E justificou sua renúncia com o bem que ela faria ao Brasil, já que a Câmara dos Deputados estaria "acéfala". Bonito é pouco, isso é lindo demais!
Mas é, também, sintomático de que o governo interino está fazendo o que o governo suspenso tentou fazer, mas não foi capaz de providenciar. Por absoluta ingovernabilidade: preservar o poder. O que é muito diferente, e frequentemente contraditório com manter-se, indefinidamente, no poder. Como quis o PT.
O Estado se preserva. E é necessário que assim o faça. Mesmo que à custa de certo sacrifício de nossas expectativas. Ilegítimo, inaceitável é o Estado governado pr quem não se espelhe numa nação.
Como foi o Estado que até há pouco tempo o PT dele se apropriou para nos extinguir como nação.
Não há dúvida, portanto, que a criação do Estado foi uma conquista histórica da humanidade. Que deu razão ao grego Aristóteles, filósofo que a defendia.
Mas o Estado não é uma pessoa natural. Ele é uma pessoa jurídica, vale dizer, uma ficção concebida para que uma nação se libertasse do poder pessoal de seus governantes. Que se subordinariam, igualmente, à lei comum. E igualmente seriam julgados, como seus governados, pelos atos ou omissões que a infringissem.
Moisés, ao perceber que os hebreus que ele havia libertado da escravidão se rebelavam contra ele, subiu o monte Sinai e de lá trouxe duas tábuas com os dez mandamentos invocando Jeová como seu legislador. Pois é claro que se sentia descredenciado como líder daquela gente que se exasperava no deserto a caminho da Terra Prometida. (O maravilhoso é que aqueles dez preceitos não foram insculpidos para acudir àquela situação dramática de um líder angustiado, mas como paradigmas para o ser humano. O que confirma sua inspiração divina.)
Não é o caso do Estado. Este é um produto histórico, mas do intelecto. Da razão, da qual é sempre prudente nós duvidarmos. (Segundo o poeta Trilussa: "Os racionalistas ensinam que nós devemos duvidar de tudo. Então eu comecei por duvidar da razão".)
O que dizer do Estado, essa figura jurídica que nada tem de mistério, de divina? Mas que é um produto histórico do nosso intelecto?
Direi que sua autoridade, não sendo inefável, sempre estará submetida à crítica que dele fazemos quanto a suas leis, sua execução e o julgamento que delas faz afronta os princípios que Deus, que nos criou à sua imagem e semelhança, inscreveu em cada um de nós: a ética.
Precisamos colocar o Estado em seu devido lugar. Claro que ele não é religioso. Assim como não é gremista, não torce pelo Internacional, não gosta de chuva nem gosta de sol. Nunca foi à missa nem mandou oferenda a Iemanjá numa praia baiana ou carioca. O homem que o criou não foi capaz de soprar nenhum espírito em suas narinas. (Só os marxistas lhe atribuem uma vida própria. E o transformaram num Frankenstein.)
Quem existe, em carne, osso e alma é a nação. Que o Estado precisa refletir por aqueles que legislam, executam suas leis e julgam segundo seus preceitos que normatizam a vida em sociedade. E faça tudo isso segundo critérios isonômicos.
E o nome disso é democracia.
Mas o que vemos é que o Estado nunca refletiu a nação brasileira. Que vive uma crise cíclica, interminável, em intervalos tão curtos que nem esperam o fim de uma geração para se repetirem, cada vez mais intensamente.
Como é que o Estado sempre se preserva dessas intempéries da política?
Ele se preserva por seus agentes porque nós somos muitíssimo emotivos e muito pouco racionais. Como se diz que é próprio dos latinos.
Por exemplo: Eduardo Cunha renunciou ao mandado de presidente da Câmara dos Deputados. E o fez em grande estilo, com a leitura de um simulacro de carta-testamento em que denuncia seus perseguidores políticos, mantendo o privilégio de manter o foro privilegiado para entrar na História, segundo a promessa que lhe fizeram os atuais ocupantes do poder. O impeachment de Dilma seria um protagonismo dele. Não é bonito demais?
E justificou sua renúncia com o bem que ela faria ao Brasil, já que a Câmara dos Deputados estaria "acéfala". Bonito é pouco, isso é lindo demais!
Mas é, também, sintomático de que o governo interino está fazendo o que o governo suspenso tentou fazer, mas não foi capaz de providenciar. Por absoluta ingovernabilidade: preservar o poder. O que é muito diferente, e frequentemente contraditório com manter-se, indefinidamente, no poder. Como quis o PT.
O Estado se preserva. E é necessário que assim o faça. Mesmo que à custa de certo sacrifício de nossas expectativas. Ilegítimo, inaceitável é o Estado governado pr quem não se espelhe numa nação.
Como foi o Estado que até há pouco tempo o PT dele se apropriou para nos extinguir como nação.
Qual cultura desejamos?
Vivemos um momento de enorme instabilidade entre os agentes que operam, os que financiam e os que consomem a cultura brasileira. É fato que o modelo de renúncia fiscal à cultura, como a Lei Rouanet, sempre dividiu as opiniões, levando-nos a crer que carecemos de investimentos mais diretos por parte do Estado. Essa tese não é de hoje. Mas, afinal, por que isso ocorre?
Um estudo publicado em 1989, presente no livro Who’s to pay for the Arts: The International Search for Models of Support, do norte-americano Mark J. Schuster, PhD do MIT, apresenta uma análise elaborada pelos pesquisadores Hillman-Chartrand e McCaughey, do American Council for the Arts, sobre o papel escolhido por diferentes nações no que tange ao investimento à cultura. O trabalho sintetiza os modelos de financiamento dividindo-os em quatro formatos: Facilitador, Mecenas/Patrono, Arquiteto e Engenheiro.

O primeiro a ser apresentado é aquele que tem por objetivo dar suporte ao desenvolvimento da criatividade e das artes de forma plural, o Facilitador. Tal modelo implica que a produção cultural resultante do financiamento seja a mais diversificada. Em razão disso, o suporte público tende a ocorrer de maneira indireta, ou seja, por meio da imunidade tributária concedida às organizações produtoras de arte e também pelo benefício fiscal usufruído por potenciais doadores privados a elas. Os autores propõem os Estados Unidos como principal expoente deste modelo.
Se no modelo anterior o financiamento resulta em uma maior diversidade cultural, há um outro que deseja privilegiar a excelência de ações culturais mais relevantes. Tais países são considerados Mecenas/Patronos; neles, os recursos oriundos de orçamento público são aplicados por meio de uma agência semipública que goza de autonomia e independência, um formato conhecido como arm’s length. Neste modelo, os membros das comissões, nomeados pelo governo, são especialistas que têm por objetivo elencar a excelência artística entre diversas instituições e iniciativas. É utilizado pelo Reino Unido, onde essas agências, conhecidas como Arts Councils, e suas equivalentes regionais espalhadas pelo país atuam de forma articulada.
No formato do Estado Arquiteto, representado pela França, evidencia-se, ao contrário dos anteriores, a presença de uma entidade pública forte, normalmente um Ministério da Cultura, responsável por elencar as entidades e iniciativas que tenham por finalidade maior contribuir para o bem-estar social da nação. Neste modelo, o ente público, ligado ao governo central, financia de forma direta as iniciativas culturais e artísticas a fim de que estas atendam às necessidades do cidadão. Segundo os autores, tal modelo tende a direcionar o financiamento de artistas e instituições mais vinculados a determinadas tendências corporativas, tais como sindicatos e associações mais representativas do setor.
Em diversos países do Leste europeu, entre os quais aqueles oriundos da antiga União Soviética, prevalece o modelo Engenheiro, em que a intervenção do Estado se dá por meio da propriedade dos meios de produção cultural, administrando diretamente teatros, orquestras e museus. Os autores indicam este modelo como típico de Estados totalitários, nos quais o objetivo do financiamento às artes tende a absorver todo o viés ideológico de um determinado governo.
No Brasil, com exceção da imunidade tributária (dada constitucionalmente aos partidos políticos, templos religiosos, assistência social e algumas entidades educacionais), é possível enxergar a coexistência de todos estes modelos operando de forma simultânea. É como se de tempos em tempos tivéssemos escolhido formatos diferentes para operar a cultura. Vejamos.
Enquanto o financiamento à cultura em várias esferas de governo se dá por meio de programas de renúncia fiscal como a Lei Rouanet (o modelo Facilitador), é possível identificar também, de forma muito presente, o Estado administrando diretamente equipamentos culturais (o modelo Engenheiro). Chega-se ao cúmulo de observarmos corpos artísticos estatais (modelo russo) dependendo de recursos de renúncia fiscal (modelo americano).
Na outra ponta, entidades que deveriam gozar de autonomia são subordinadas ao Ministério da Cultura, um claro exemplo de modelo inglês coexistindo com o francês. O caso mais emblemático é a Funarte, que poderíamos classificar como um Arts Council público, ainda que muitos tenham dificuldade para elencar suas atribuições.
Ao mesmo tempo se observa uma presença forte do modelo Mecenas/Patrono, típico de países do Reino Unido. Os programas e unidades culturais gerenciados por meio do sistema S – entidades autônomas que operam e financiam a cultura com recursos provenientes das contribuições sociais – são o exemplo mais alinhado com tal proposta. As Organizações Sociais também são formatos de execução de políticas públicas que bebem na fonte deste modelo britânico.
A coexistência de modelos não é necessariamente ruim. Pode ser até uma solução. Muitos dos países aqui citados estão buscando alternativas para suas matrizes. Mas é preciso que haja equilíbrio e clareza sobre o papel de cada ente federado ou entidade neste processo.
Para se começar a organizar a confusão criada no país ao longo dos anos, é urgente a criação de um marco regulatório que levante estudos no campo da economia da cultura e da gestão, com a finalidade de discutir de forma isenta um modelo de financiamento à cultura no Brasil. Modelo que, independentemente de abarcar ou reformar os mecanismos e instituições existentes, garanta equidade, efetividade e eficiência, cumprindo com uma política pública séria, correta e comprometida com o desenvolvimento cultural pleno do país.
Marino Galvão Jr.
Um estudo publicado em 1989, presente no livro Who’s to pay for the Arts: The International Search for Models of Support, do norte-americano Mark J. Schuster, PhD do MIT, apresenta uma análise elaborada pelos pesquisadores Hillman-Chartrand e McCaughey, do American Council for the Arts, sobre o papel escolhido por diferentes nações no que tange ao investimento à cultura. O trabalho sintetiza os modelos de financiamento dividindo-os em quatro formatos: Facilitador, Mecenas/Patrono, Arquiteto e Engenheiro.

Se no modelo anterior o financiamento resulta em uma maior diversidade cultural, há um outro que deseja privilegiar a excelência de ações culturais mais relevantes. Tais países são considerados Mecenas/Patronos; neles, os recursos oriundos de orçamento público são aplicados por meio de uma agência semipública que goza de autonomia e independência, um formato conhecido como arm’s length. Neste modelo, os membros das comissões, nomeados pelo governo, são especialistas que têm por objetivo elencar a excelência artística entre diversas instituições e iniciativas. É utilizado pelo Reino Unido, onde essas agências, conhecidas como Arts Councils, e suas equivalentes regionais espalhadas pelo país atuam de forma articulada.
No formato do Estado Arquiteto, representado pela França, evidencia-se, ao contrário dos anteriores, a presença de uma entidade pública forte, normalmente um Ministério da Cultura, responsável por elencar as entidades e iniciativas que tenham por finalidade maior contribuir para o bem-estar social da nação. Neste modelo, o ente público, ligado ao governo central, financia de forma direta as iniciativas culturais e artísticas a fim de que estas atendam às necessidades do cidadão. Segundo os autores, tal modelo tende a direcionar o financiamento de artistas e instituições mais vinculados a determinadas tendências corporativas, tais como sindicatos e associações mais representativas do setor.
Em diversos países do Leste europeu, entre os quais aqueles oriundos da antiga União Soviética, prevalece o modelo Engenheiro, em que a intervenção do Estado se dá por meio da propriedade dos meios de produção cultural, administrando diretamente teatros, orquestras e museus. Os autores indicam este modelo como típico de Estados totalitários, nos quais o objetivo do financiamento às artes tende a absorver todo o viés ideológico de um determinado governo.
No Brasil, com exceção da imunidade tributária (dada constitucionalmente aos partidos políticos, templos religiosos, assistência social e algumas entidades educacionais), é possível enxergar a coexistência de todos estes modelos operando de forma simultânea. É como se de tempos em tempos tivéssemos escolhido formatos diferentes para operar a cultura. Vejamos.
Enquanto o financiamento à cultura em várias esferas de governo se dá por meio de programas de renúncia fiscal como a Lei Rouanet (o modelo Facilitador), é possível identificar também, de forma muito presente, o Estado administrando diretamente equipamentos culturais (o modelo Engenheiro). Chega-se ao cúmulo de observarmos corpos artísticos estatais (modelo russo) dependendo de recursos de renúncia fiscal (modelo americano).
Na outra ponta, entidades que deveriam gozar de autonomia são subordinadas ao Ministério da Cultura, um claro exemplo de modelo inglês coexistindo com o francês. O caso mais emblemático é a Funarte, que poderíamos classificar como um Arts Council público, ainda que muitos tenham dificuldade para elencar suas atribuições.
Ao mesmo tempo se observa uma presença forte do modelo Mecenas/Patrono, típico de países do Reino Unido. Os programas e unidades culturais gerenciados por meio do sistema S – entidades autônomas que operam e financiam a cultura com recursos provenientes das contribuições sociais – são o exemplo mais alinhado com tal proposta. As Organizações Sociais também são formatos de execução de políticas públicas que bebem na fonte deste modelo britânico.
A coexistência de modelos não é necessariamente ruim. Pode ser até uma solução. Muitos dos países aqui citados estão buscando alternativas para suas matrizes. Mas é preciso que haja equilíbrio e clareza sobre o papel de cada ente federado ou entidade neste processo.
Para se começar a organizar a confusão criada no país ao longo dos anos, é urgente a criação de um marco regulatório que levante estudos no campo da economia da cultura e da gestão, com a finalidade de discutir de forma isenta um modelo de financiamento à cultura no Brasil. Modelo que, independentemente de abarcar ou reformar os mecanismos e instituições existentes, garanta equidade, efetividade e eficiência, cumprindo com uma política pública séria, correta e comprometida com o desenvolvimento cultural pleno do país.
Marino Galvão Jr.
'Milagre' transformou a Califórnia na sexta maior economia do mundo
A Califórnia ocupa há muito tempo um lugar especial na imaginação dos americanos e de pessoas do mundo inteiro.
É, afinal, a terra de Hollywood, onde os sonhos se tornam realidade. E abriga o Vale do Silício, a capital mundial da inovação tecnológica.
Acrescenta-se a isso o fato de que a região americana também é, segundo dados revelados nesta semana pelo Banco Mundial, o epicentro de um "milagre econômico".
Se fosse um país, a Califórnia seria a sexta economia do mundo. O que é particularmente surpreendente para um Estado que há pouco tempo estava enfrentando a falência.
Hoje, a Califórnia está em outro patamar. Sua economia cresceu 4,1% em 2015, superando a do Brasil e a da França, e passou de oitava para sexta maior economia do mundo.
O PIB do Estado, o mais populoso dos EUA, alcançou os US$ 2,5 trilhões em 2015, aproximadamente a dimensão que tinha a economia britânica no fim do ano passado, antes da sacudida financeira do Brexit.
Alguns sugerem que a Califórnia possa estar no caminho de ficar com o quinto posto mundial se o Reino Unido entrar em recessão por causa da saída da União Europeia.
A região também se tornou uma máquina de geração de empregos. Criou mais vagas que o Texas e a Flórida juntos, Estados que são o segundo e o terceiro mais populosos dos Estados Unidos, respectivamente.
Além disso, é sede de quatro das dez maiores empresas do mundo, incluindo Apple e Google.

Mas além do orgulho cívico que toma os 38 milhões de habitantes da Califórnia, muitos estão buscando tirar lições políticas do crescimento do Estado - e que poderiam ser aplicadas no resto do país.
A área enfrentava uma crise fiscal quando, em 2010, o governador do democrata Jerry Brown encabeçou o processo de recuperação econômica.
As ações dele foram tão polêmicas quanto efetivas: em 2012, quando o deficit fiscal do Estado chegava a US$ 15 bilhões, o governador decidiu aumentar os impostos para os mais ricos.
Ele tomou essa medida ao mesmo tempo em que chegavam ao poder no país congressistas e governadores do chamado Tea Party, a ala mais conservadora do Partido Republicano. E que prometiam uma fórmula diametralmente oposta: a redução de impostos e a aplicação de incentivos tributários aos empresários.
Referendo
Brown apresentou sua ideia à população californiana em um referendo sobre a chamada "Proposição 30".
Os eleitores da região aprovaram, em novembro de 2012, um aumento de 13,3% do imposto estadual de renda aos cidadãos com ganhos anuais superiores aos US$ 250 mil, a taxa mais alta do país, além de uma alta no tributo sobre vendas.
Com isso, foi possível manter o investimento público em áreas como a educação e melhorar a condição fiscal do governo regional.
É, afinal, a terra de Hollywood, onde os sonhos se tornam realidade. E abriga o Vale do Silício, a capital mundial da inovação tecnológica.
Acrescenta-se a isso o fato de que a região americana também é, segundo dados revelados nesta semana pelo Banco Mundial, o epicentro de um "milagre econômico".
Se fosse um país, a Califórnia seria a sexta economia do mundo. O que é particularmente surpreendente para um Estado que há pouco tempo estava enfrentando a falência.
Hoje, a Califórnia está em outro patamar. Sua economia cresceu 4,1% em 2015, superando a do Brasil e a da França, e passou de oitava para sexta maior economia do mundo.
O PIB do Estado, o mais populoso dos EUA, alcançou os US$ 2,5 trilhões em 2015, aproximadamente a dimensão que tinha a economia britânica no fim do ano passado, antes da sacudida financeira do Brexit.
Alguns sugerem que a Califórnia possa estar no caminho de ficar com o quinto posto mundial se o Reino Unido entrar em recessão por causa da saída da União Europeia.
A região também se tornou uma máquina de geração de empregos. Criou mais vagas que o Texas e a Flórida juntos, Estados que são o segundo e o terceiro mais populosos dos Estados Unidos, respectivamente.
Além disso, é sede de quatro das dez maiores empresas do mundo, incluindo Apple e Google.

A área enfrentava uma crise fiscal quando, em 2010, o governador do democrata Jerry Brown encabeçou o processo de recuperação econômica.
As ações dele foram tão polêmicas quanto efetivas: em 2012, quando o deficit fiscal do Estado chegava a US$ 15 bilhões, o governador decidiu aumentar os impostos para os mais ricos.
Ele tomou essa medida ao mesmo tempo em que chegavam ao poder no país congressistas e governadores do chamado Tea Party, a ala mais conservadora do Partido Republicano. E que prometiam uma fórmula diametralmente oposta: a redução de impostos e a aplicação de incentivos tributários aos empresários.
Referendo
Brown apresentou sua ideia à população californiana em um referendo sobre a chamada "Proposição 30".
Os eleitores da região aprovaram, em novembro de 2012, um aumento de 13,3% do imposto estadual de renda aos cidadãos com ganhos anuais superiores aos US$ 250 mil, a taxa mais alta do país, além de uma alta no tributo sobre vendas.
Com isso, foi possível manter o investimento público em áreas como a educação e melhorar a condição fiscal do governo regional.
Assinar:
Comentários (Atom)


