segunda-feira, 28 de agosto de 2017
Populistas ouvem muito bem
Não me entenda errado. Adoro explicações simples. Tanto quando qualquer outra pessoa. Elas fazem a vida mais simples, as decisões mais fáceis, e servem para dar sentido a situações complexas. O único problema é que explicações simples para problemas complexos estão quase sempre erradas. E levam a nada.
Por definição, deveríamos tomar muito cuidado com a singeleza de argumentos apresentados para justificar questões importantes ou ações com impacto generalizado. Enxergar o mundo de maneira simplista não implica simplificar o mundo. É somente miopia. E em alguns casos, cegueira.
Surpreende, portanto, que, diante da emergência de tantas e óbvias questões importantes, a gente permanece agarrado a explicações cujo conteúdo tem a profundidade de um pires. E este apego parece não respeitar fronteiras. É global.
No mundo todo, governantes recebem maciça, e (acredito) na maioria dos casos, justificada, cobertura negativa. Ao mesmo tempo, são eleitos, tem votações significativas, ou se mantem no poder. Governantes são eleitos apesar de acusações de corrupção, posições racistas, extremistas, sexistas, e muitos outros “istas”.
Interessantemente, explicações parecem ser repetitivas. Aqui e ali, o comportamento da grande mídia e a qualidade dos eleitores são alvos preferidos. E o casuísmo dos argumentos, uma constante.
A grande mídia, seria responsável coberturas parciais, atacando inimigos de plantão ou defendendo valores democráticos, dependendo a quem se pergunta. Não importa. Explica-se a inefetividade dos ataques como uma consequência da qualidade dos eleitores. Eles seriam por natureza de extrema direita, conservadores, talvez racistas, insensíveis. Generalizada deformação de caráter.
Nesta visão, eleitores não seriam capazes de discernimento e, portanto, sem condições de escolher bons representantes. A não ser, claro, que escolham aqueles que preferimos. Ou seja, eleitores são sempre culpados pelos desastres.
É um ponto de vista. Um pouco simplista, mas, na democracia, é legitimo, mas cômodo demais pensar assim. Tem também a vantagem de eximir de qualquer responsabilidade aqueles que, em qualquer outra circunstancias, se autoproclamam formadores de opinião.
Mas existem outras opções. Uma delas é que governantes com discursos frequentemente hidrofóbicos, em alguma parte de suas palavras ou ações, estejam tocando e atendendo necessidades de grandes segmentos das populações que (certo ou errado) não estavam sendo ouvidos anteriormente.
Existir é escolher. E escolhas se dão entre opções existentes. Portanto, a baixa qualidade dos líderes eleitos reflete a incapacidade dos (autoproclamados) formadores de opinião, dos sistemas políticos, dos políticos, e dos intelectuais, de propor opções ou alternativas que minimamente atendam estes grandes segmentos das populações que servem de base de suporte para políticos que, em qualquer outra circunstância, seriam considerados, na melhor das hipóteses, exóticos.
Antes de ser uma vitória dos extremistas, a eleição de políticos alinhados com valores menos democráticos é comente uma consequência da incompetência generalizada dos líderes políticos em propor alternativas e soluções aceitáveis para a maioria. Falharam em ouvir os eleitores. E, portanto, em representa-los.
Nestes tempos estranhos, não é a qualidade das ideias e ideais a principal força eleitoral. É a capacidade de ouvir e minimamente ocupar os vácuos deixados pelo deserto de homens e ideias que assola o mundo. Não é falta de palavras. Falam até demais. É desinteresse ou surdez.
Por isto perdem para populismo. Populistas tem muitos defeitos. Mas ouvem muito bem.
Por definição, deveríamos tomar muito cuidado com a singeleza de argumentos apresentados para justificar questões importantes ou ações com impacto generalizado. Enxergar o mundo de maneira simplista não implica simplificar o mundo. É somente miopia. E em alguns casos, cegueira.
Surpreende, portanto, que, diante da emergência de tantas e óbvias questões importantes, a gente permanece agarrado a explicações cujo conteúdo tem a profundidade de um pires. E este apego parece não respeitar fronteiras. É global.
Interessantemente, explicações parecem ser repetitivas. Aqui e ali, o comportamento da grande mídia e a qualidade dos eleitores são alvos preferidos. E o casuísmo dos argumentos, uma constante.
A grande mídia, seria responsável coberturas parciais, atacando inimigos de plantão ou defendendo valores democráticos, dependendo a quem se pergunta. Não importa. Explica-se a inefetividade dos ataques como uma consequência da qualidade dos eleitores. Eles seriam por natureza de extrema direita, conservadores, talvez racistas, insensíveis. Generalizada deformação de caráter.
Nesta visão, eleitores não seriam capazes de discernimento e, portanto, sem condições de escolher bons representantes. A não ser, claro, que escolham aqueles que preferimos. Ou seja, eleitores são sempre culpados pelos desastres.
É um ponto de vista. Um pouco simplista, mas, na democracia, é legitimo, mas cômodo demais pensar assim. Tem também a vantagem de eximir de qualquer responsabilidade aqueles que, em qualquer outra circunstancias, se autoproclamam formadores de opinião.
Mas existem outras opções. Uma delas é que governantes com discursos frequentemente hidrofóbicos, em alguma parte de suas palavras ou ações, estejam tocando e atendendo necessidades de grandes segmentos das populações que (certo ou errado) não estavam sendo ouvidos anteriormente.
Existir é escolher. E escolhas se dão entre opções existentes. Portanto, a baixa qualidade dos líderes eleitos reflete a incapacidade dos (autoproclamados) formadores de opinião, dos sistemas políticos, dos políticos, e dos intelectuais, de propor opções ou alternativas que minimamente atendam estes grandes segmentos das populações que servem de base de suporte para políticos que, em qualquer outra circunstância, seriam considerados, na melhor das hipóteses, exóticos.
Antes de ser uma vitória dos extremistas, a eleição de políticos alinhados com valores menos democráticos é comente uma consequência da incompetência generalizada dos líderes políticos em propor alternativas e soluções aceitáveis para a maioria. Falharam em ouvir os eleitores. E, portanto, em representa-los.
Nestes tempos estranhos, não é a qualidade das ideias e ideais a principal força eleitoral. É a capacidade de ouvir e minimamente ocupar os vácuos deixados pelo deserto de homens e ideias que assola o mundo. Não é falta de palavras. Falam até demais. É desinteresse ou surdez.
Por isto perdem para populismo. Populistas tem muitos defeitos. Mas ouvem muito bem.
Notas sobre a decadência
A crise brasileira é tão brava que, às vezes, nos esquecemos de que existe uma outra mais ampla nos envolvendo: a decadência dos valores ocidentais. Alguns escritores franceses teorizam sobre a decadência da civilização judaico-cristã e chegam a prever a futura dominação muçulmana. Michel Onfray acha que os muçulmanos tendem a predominar, entre outras coisas, porque estão dispostos a morrer por sua crença.
Não tenho a mesma certeza da força da fé, sobretudo no universo político. Sem conhecimentos tecnológico e científico, tática e estratégia adequadas, a disposição de morrer por uma causa pode representar um autoextermínio em grande escala.
O que me atrai nisso tudo é estabelecer um nexo entre a crise ocidental e a brasileira; a mesma realidade, só que em dimensões diferentes.
No final do século, a European Science Foundation realizou uma ampla pesquisa e publicou cinco livros sobre ela. Um deles tem o título “O impacto dos valores”. A tese dos sociólogos e pesquisadores envolvidos no trabalho era que estava havendo uma mudança de valores. Esta mudança não era compreendida pelos governos que insistiam apenas em falar de melhorias materiais e mais riquezas, quando despontavam aspirações novas: desejos não materiais e emancipatórios. Isso acontece no Brasil em alguma escala, quando se defende qualidade de vida ou se constata o crescimento da espiritualidade.
Mas a crise ocidental, pelo menos no meu estudo ainda precário, acabou sendo atropelada, no Brasil, pelo colapso material e pela vulgaridade com que os valores são negados. A crise de valores no Ocidente refere–se à ausência de um sentido numa vida confortável e relativamente bem administrada.
No Brasil vivem-se a escassez e a roubalheira, o que nos dá a impressão de estarmos em outro compartimento; e só alcançaremos as angústias ocidentais quando sairmos do singular sufoco.

No Brasil, deputados se articulam para criar um esquema de sobrevivência eleitoral que inclui um fundo milionário. Juízes como Gilmar Mendes desandam a soltar corruptos, apesar de seus visíveis laços de amizade com eles. Basta ver um pouco de televisão para observar como o caos se espalhou: assaltam até velhos em cadeira de rodas.
Discordo quando se fala em ausência total de valores no Ocidente e insinua-se a possibilidade de uma supremacia muçulmana. Quando acontecem atentados terroristas, governos e sociedade são unânimes em defender um valor essencial: a liberdade. Para ser mais preciso, as vítimas do terrorismo morreram porque vivem num mundo em que a democracia e a liberdade prevalecem.
Essa ideia de morrer por uma causa, que Onfray destaca nos muçulmanos, é romântica e já a adotei na juventude. Mas é inferior à ideia de viver humildemente por uma causa. Valores não materiais e emancipatórios combinam com a democracia e podem significar um avanço na sua inacabada trajetória. É uma aposta no futuro.
Por enquanto, no Brasil, vivemos ainda o que pode ser chamado de fase selvagem da decadência. A lei não vale para todos. Políticos nos assaltam de cara limpa. A elite nacional se recusa, por preconceito, a examinar o grave problema da violência urbana.
Os valores cambiantes na Europa já se anunciavam nos anos 60 e alguns acabaram se materializando na diversidade de lutas e no politicamente correto. Tudo isso tem um impacto bem grande no Novo Mundo. Nos Estados Unidos, a vitória de Trump representou uma espécie de antídoto ao politicamente correto. No Brasil, Bolsonaro encarna esta corrente conservadora, assustada com as ameaças voluntaristas à estabilidade da família.
Na verdade, a família hoje já está bem distante do modelo que os conservadores têm na cabeça. Mas ela existe e não pode ser ignorada, como querem alguns, impondo cartilhas de cima para baixo, avançando, sem diálogos num campo da educação que era exclusivo dela.
Creio que levarei muito tempo ainda para estabelecer todas as conexões entre a crise singular do Brasil e a crise envolvente dos valores ocidentais. O grande problema das duas, tanto aqui como lá, é que tornam atraentes as soluções autoritárias. Soluções externas, como o avanço muçulmano, ou de dentro, sofisticados sistemas de dominação tecnológica.
Um jovem executivo do Facebook já abandonou o trabalho e foi para um bunker se defender de um apocalipse que ele supõe ser o destino do avanço do mundo digital.
O fato de termos problemas anteriores a toda essa agitação crepuscular nos dá um fôlego para vivermos como no Velho Oeste, desejando que os xerifes expulsem os bandidos em todas as esferas em que atuam.
Mas será preciso fazer um esforço adicional para compreender o Brasil dentro do Ocidente. Sair da decadência galopante para a decadência elegante é uma rima, mas, como dizia o poeta Drummond, não é uma solução.
Não tenho a mesma certeza da força da fé, sobretudo no universo político. Sem conhecimentos tecnológico e científico, tática e estratégia adequadas, a disposição de morrer por uma causa pode representar um autoextermínio em grande escala.
O que me atrai nisso tudo é estabelecer um nexo entre a crise ocidental e a brasileira; a mesma realidade, só que em dimensões diferentes.
No final do século, a European Science Foundation realizou uma ampla pesquisa e publicou cinco livros sobre ela. Um deles tem o título “O impacto dos valores”. A tese dos sociólogos e pesquisadores envolvidos no trabalho era que estava havendo uma mudança de valores. Esta mudança não era compreendida pelos governos que insistiam apenas em falar de melhorias materiais e mais riquezas, quando despontavam aspirações novas: desejos não materiais e emancipatórios. Isso acontece no Brasil em alguma escala, quando se defende qualidade de vida ou se constata o crescimento da espiritualidade.
Mas a crise ocidental, pelo menos no meu estudo ainda precário, acabou sendo atropelada, no Brasil, pelo colapso material e pela vulgaridade com que os valores são negados. A crise de valores no Ocidente refere–se à ausência de um sentido numa vida confortável e relativamente bem administrada.
No Brasil vivem-se a escassez e a roubalheira, o que nos dá a impressão de estarmos em outro compartimento; e só alcançaremos as angústias ocidentais quando sairmos do singular sufoco.

Discordo quando se fala em ausência total de valores no Ocidente e insinua-se a possibilidade de uma supremacia muçulmana. Quando acontecem atentados terroristas, governos e sociedade são unânimes em defender um valor essencial: a liberdade. Para ser mais preciso, as vítimas do terrorismo morreram porque vivem num mundo em que a democracia e a liberdade prevalecem.
Essa ideia de morrer por uma causa, que Onfray destaca nos muçulmanos, é romântica e já a adotei na juventude. Mas é inferior à ideia de viver humildemente por uma causa. Valores não materiais e emancipatórios combinam com a democracia e podem significar um avanço na sua inacabada trajetória. É uma aposta no futuro.
Por enquanto, no Brasil, vivemos ainda o que pode ser chamado de fase selvagem da decadência. A lei não vale para todos. Políticos nos assaltam de cara limpa. A elite nacional se recusa, por preconceito, a examinar o grave problema da violência urbana.
Os valores cambiantes na Europa já se anunciavam nos anos 60 e alguns acabaram se materializando na diversidade de lutas e no politicamente correto. Tudo isso tem um impacto bem grande no Novo Mundo. Nos Estados Unidos, a vitória de Trump representou uma espécie de antídoto ao politicamente correto. No Brasil, Bolsonaro encarna esta corrente conservadora, assustada com as ameaças voluntaristas à estabilidade da família.
Na verdade, a família hoje já está bem distante do modelo que os conservadores têm na cabeça. Mas ela existe e não pode ser ignorada, como querem alguns, impondo cartilhas de cima para baixo, avançando, sem diálogos num campo da educação que era exclusivo dela.
Creio que levarei muito tempo ainda para estabelecer todas as conexões entre a crise singular do Brasil e a crise envolvente dos valores ocidentais. O grande problema das duas, tanto aqui como lá, é que tornam atraentes as soluções autoritárias. Soluções externas, como o avanço muçulmano, ou de dentro, sofisticados sistemas de dominação tecnológica.
Um jovem executivo do Facebook já abandonou o trabalho e foi para um bunker se defender de um apocalipse que ele supõe ser o destino do avanço do mundo digital.
O fato de termos problemas anteriores a toda essa agitação crepuscular nos dá um fôlego para vivermos como no Velho Oeste, desejando que os xerifes expulsem os bandidos em todas as esferas em que atuam.
Mas será preciso fazer um esforço adicional para compreender o Brasil dentro do Ocidente. Sair da decadência galopante para a decadência elegante é uma rima, mas, como dizia o poeta Drummond, não é uma solução.
Saúde Fon-Fon
Equiparar seguro de saúde caro e com garantia de livre escolha a carro de luxo tornou-se moda nos EUA durante os anos 1970, quando o sistema privado americano atingiu seu apogeu. No governo Clinton, a expressão “plano Cadillac” retornou ao vocabulário, mas como problema a ser solucionado por uma reforma da saúde. A metáfora, com sentido negativo, foi utilizada durante o debate e aprovação do Obamacare, que previu cobrar impostos de empresas e clientes de renda alta para financiar a expansão de cobertura. Durante o processo de aprovação da legislação que regulamentou os planos de saúde, alguns empresários brasileiros, contrários à inclusão dos idosos nos contratos, diziam que os velhos eram carros batidos. Como a comparação pegou muito mal, foi substituída pela classe de passageiros no avião. Passaram a dizer que, independentemente do conforto da viagem, todos chegariam ao mesmo destino. A ideia de anciões avariados ficou intacta, mas o embarque seria admitido para aqueles que pagassem muito mais. Depois, os jargões contendo gradações para o pagamento direto de gastos com saúde que podem ser muito elevados e persistentes foram considerados de mau gosto e caíram em desuso.
Ficou razoavelmente estabelecido que os custos da moderna atenção à saúde deveriam ser transferidos para um terceiro pagador, governos, seguros sociais ou empresas privadas de planos de saúde. De repente, a equivalência da saúde com carro ressurgiu, como argumento de defesa da revisão das normas legais para permitir a comercialização de planos com coberturas reduzidas. Funcionaria assim: o cliente terá acesso ao que existe de recursos assistenciais em um lugar, ou seja, quase nada em cidades pequenas ou localidades de municípios grandes; ou pagará menos de mensalidade e mais quando usar serviços. Não seria obrigatório que o plano-carro tenha motor, quatro rodas e bancos. Peças separadas poderiam ser vendidas. Empresas de planos e Santas Casas ficariam menos expostos à crise econômica e a restrições dos orçamentos públicos. E quem perdeu o emprego e o plano continuaria a recorrer a determinados serviços privados.

O ajuste seria perfeito não fossem os fatos. Existem problemas de saúde muito prevalentes como doenças cardiovasculares, traumas, cânceres, condições neurológicas, sofrimento mental. Pessoas doentes, especialmente casos graves, necessitam atendimento imediato e completo. Exames, cirurgias, terapias, medicamentos não são acessórios tais como som, acesso à internet e tapetes para carros. Plano de saúde significa pagamento antecipado para situações futuras imprevisíveis. Contratos de pré-pagamento são compromissos de transferência de riscos. O pós-pagamento, isto é, a remuneração após cada atendimento — como ocorre em clínicas privadas populares que oferecem consultas e exames mais baratos — sempre existiu e recentemente cresceu, inclusive em bairros residenciais de classe média. Quando o pagamento é antecipado, e o atendimento básico — essencial, para necessidades de saúde frequentes —, negado, a conta não fecha.
Qual é a solução? Depende dos interesses dos envolvidos. Os impulsos que movem a pesquisa e o progresso cientifico, tais como conhecer a verdade e evitar erros, não são necessariamente similares aos de setores empresariais e de autoridades governamentais. Estudiosos distinguem um sistema de atenção à saúde de um subconjunto de oferta ocasional de serviços. Para quem está do lado do conhecimento acadêmico, a alternativa é a afirmação de um sistema público abrangente e qualificado e de um setor privado autônomo, desvinculado de benesses públicas. A proposta de plano “semiplano misto SUS” não está conectada com qualquer teoria ou experiência concreta sobre organização de sistemas de saúde e, sim, com a influência econômica e política de empresas setoriais e as eleições de 2018. Assim, ao invés de debate e confronto de argumentos, predomina a reiteração de certezas baseadas nas dicotomias simplificadas entre estatal e privado e exibição de força.
O SUS não é um calhambeque. Tem até aqui obtido bons resultados na redução de riscos e superação de agravos individuais e coletivos, mas requer investimentos financeiros e reformas administrativas. Do setor privado, na categoria biturbo ficam poucos. Contam-se nos dedos os hospitais filantrópico-privados ou privados — quase todos localizados nas regiões Sul e Sudeste — que se modernizaram. Unidades isoladas públicas ou privadas, ainda que excelentes, não fazem as vezes de um sistema de saúde. Portanto, a divergência refere-se à busca de alternativas efetivas de inclusão ou radicalização da segmentação assistencial, e não ao fechamento ou estatização de serviços privados. “Gotejamento para baixo” ou assumir indiferença moral perante o sofrimento da maioria e estimular a “sucção dos recursos disponíveis para cima”? Depende de valores de solidariedade. Questionar o “semiplano privado misto público” — alcunhado de popular ou acessível — e as circunstâncias de tramitação de uma proposição que desmantela o SUS é obrigatório para os não indiferentes.
Ligia Bahia
Ficou razoavelmente estabelecido que os custos da moderna atenção à saúde deveriam ser transferidos para um terceiro pagador, governos, seguros sociais ou empresas privadas de planos de saúde. De repente, a equivalência da saúde com carro ressurgiu, como argumento de defesa da revisão das normas legais para permitir a comercialização de planos com coberturas reduzidas. Funcionaria assim: o cliente terá acesso ao que existe de recursos assistenciais em um lugar, ou seja, quase nada em cidades pequenas ou localidades de municípios grandes; ou pagará menos de mensalidade e mais quando usar serviços. Não seria obrigatório que o plano-carro tenha motor, quatro rodas e bancos. Peças separadas poderiam ser vendidas. Empresas de planos e Santas Casas ficariam menos expostos à crise econômica e a restrições dos orçamentos públicos. E quem perdeu o emprego e o plano continuaria a recorrer a determinados serviços privados.

O ajuste seria perfeito não fossem os fatos. Existem problemas de saúde muito prevalentes como doenças cardiovasculares, traumas, cânceres, condições neurológicas, sofrimento mental. Pessoas doentes, especialmente casos graves, necessitam atendimento imediato e completo. Exames, cirurgias, terapias, medicamentos não são acessórios tais como som, acesso à internet e tapetes para carros. Plano de saúde significa pagamento antecipado para situações futuras imprevisíveis. Contratos de pré-pagamento são compromissos de transferência de riscos. O pós-pagamento, isto é, a remuneração após cada atendimento — como ocorre em clínicas privadas populares que oferecem consultas e exames mais baratos — sempre existiu e recentemente cresceu, inclusive em bairros residenciais de classe média. Quando o pagamento é antecipado, e o atendimento básico — essencial, para necessidades de saúde frequentes —, negado, a conta não fecha.
Qual é a solução? Depende dos interesses dos envolvidos. Os impulsos que movem a pesquisa e o progresso cientifico, tais como conhecer a verdade e evitar erros, não são necessariamente similares aos de setores empresariais e de autoridades governamentais. Estudiosos distinguem um sistema de atenção à saúde de um subconjunto de oferta ocasional de serviços. Para quem está do lado do conhecimento acadêmico, a alternativa é a afirmação de um sistema público abrangente e qualificado e de um setor privado autônomo, desvinculado de benesses públicas. A proposta de plano “semiplano misto SUS” não está conectada com qualquer teoria ou experiência concreta sobre organização de sistemas de saúde e, sim, com a influência econômica e política de empresas setoriais e as eleições de 2018. Assim, ao invés de debate e confronto de argumentos, predomina a reiteração de certezas baseadas nas dicotomias simplificadas entre estatal e privado e exibição de força.
O SUS não é um calhambeque. Tem até aqui obtido bons resultados na redução de riscos e superação de agravos individuais e coletivos, mas requer investimentos financeiros e reformas administrativas. Do setor privado, na categoria biturbo ficam poucos. Contam-se nos dedos os hospitais filantrópico-privados ou privados — quase todos localizados nas regiões Sul e Sudeste — que se modernizaram. Unidades isoladas públicas ou privadas, ainda que excelentes, não fazem as vezes de um sistema de saúde. Portanto, a divergência refere-se à busca de alternativas efetivas de inclusão ou radicalização da segmentação assistencial, e não ao fechamento ou estatização de serviços privados. “Gotejamento para baixo” ou assumir indiferença moral perante o sofrimento da maioria e estimular a “sucção dos recursos disponíveis para cima”? Depende de valores de solidariedade. Questionar o “semiplano privado misto público” — alcunhado de popular ou acessível — e as circunstâncias de tramitação de uma proposição que desmantela o SUS é obrigatório para os não indiferentes.
Ligia Bahia
O mercado da ética crescerá, e juízes e advogados ganharão
Muito se discute sobre ética nos últimos tempos. Da escola à política, do mundo corporativo à arte. Não pretendo aqui resolver esse debate, mas há uma questão nele que me parece essencial apontar: o futuro da ética é a judicialização da vida.
A ética "real", pouco a pouco, se torna um "mercado da ética", que enriquece advogados, juízes, procuradores, promotores e "assessores".
Com a modernização, o modo de contenção do comportamento via "pressão local do grupo", cedeu aos vínculos distantes e instrumentais. A vida produtiva moderna, associada à arrancada "progressista" em direção a um mundo redefinido por propostas sociais, políticas e, muitas vezes, psicológicas, arruinaram o valor da tradição moral como contenção de comportamentos.
A própria expressão, tão comum na boca dos jovens, "a moral imposta pela sociedade", sinaliza para a ruína dessa moral, uma vez que é sentida como "imposta". Ou a moral é internalizada ou ela é um nada. Uma "segunda natureza", como diria Aristóteles (384-322 a.C.).

A ideia aristotélica de uma ética prática das virtudes, elegante, mas inviável numa sociedade de vínculos impessoais, distantes e instrumentais, sofre com a indiferença concreta que temos pela opinião dos outros -afora parentes muito importantes pra nós ou pessoas que podem nos causar danos muito imediatos.
Essa é, exatamente, a "liberdade" sobre a qual tanto se fala que ganhamos com a modernidade: a ilusão de que podemos mandar o mundo pra aquele lugar...
A posição kantiana de imperativos categóricos morais do tipo "aja de modo tal que sua ação possa ser erguida em norma universal de comportamento", na prática, pavimenta a estrada para a judicialização. Basta ver os manuais de "compliance" que florescem pelo mundo corporativo -voltaremos a isso logo.
O utilitarismo e seu império do bem-estar, seguramente, funcionam como "ethos" de um mundo pautado pela busca da felicidade material em todos os níveis, inclusive no da matéria do corpo e sua saúde. O utilitarismo pauta políticas públicas e corporativas, mas não me parece ser ele a base da judicialização. Esta base vem dos imperativos de Immanuel Kant (1724-1804). Vejamos.
Kant percebeu a dissolução dos modos tradicionais de contenção do comportamento em curso em sua época, em finais do século 18.
Tentou encontrar um modo "racional" e, portanto, universal, para a ética. Mas, este modo "deontológico" (dever ser) se revelou não como uma maioridade racional introjetada da norma, como ele pensava, mas sim como o crescimento do aparelho jurídico de constrangimento do comportamento. Dito de forma direta: desde manuais de "compliance" contra passivos éticos no mundo corporativo até o aumento da indústria dos processos. Enfim, a judicialização do cotidiano.
Essa judicialização significa que a única forma eficaz de constranger os comportamentos é via a força da lei. Esta é, sempre, encarceramento ou pagamentos de somas financeiras como consequência de processos abertos. Juízes arrancam seu dinheiro num clique. A indústria de sentenças cresce. Como mandamos o mundo pra aquele lugar, resta o mercado da ética.
Este mercado crescerá cada vez mais. Advogados farão rios de dinheiro. A máquina judiciária estatal crescerá junto com isso. Concursos para juízes e para o Ministério Público (cuidando de nós, cidadãos "hipossuficientes") garantirá inúmeras vidas financeiramente.
À medida que a sociedade se torna cada vez mais impessoal (apesar da baboseira de "capitalismo consciente" que falam por aí), a única forma restante será o mercado ético associado à ampliação das vagas no poder Judiciário.
Um dos efeitos nefastos desse mercado é a paranoia que segue toda sociedade judicializada. O medo do risco de ser processado faz o trabalho sujo da prevenção contra o passivo ético que tende a crescer. As empresas serão obrigadas a redefinir suas culturas internas, as escolas a inviabilizar qualquer forma de "sofrimento" dos alunos, enfim, o medo, alimento ancestral da norma, reinará livre sobre os cidadãos "livres" da modernidade tardia.
A ética "real", pouco a pouco, se torna um "mercado da ética", que enriquece advogados, juízes, procuradores, promotores e "assessores".
Com a modernização, o modo de contenção do comportamento via "pressão local do grupo", cedeu aos vínculos distantes e instrumentais. A vida produtiva moderna, associada à arrancada "progressista" em direção a um mundo redefinido por propostas sociais, políticas e, muitas vezes, psicológicas, arruinaram o valor da tradição moral como contenção de comportamentos.
A própria expressão, tão comum na boca dos jovens, "a moral imposta pela sociedade", sinaliza para a ruína dessa moral, uma vez que é sentida como "imposta". Ou a moral é internalizada ou ela é um nada. Uma "segunda natureza", como diria Aristóteles (384-322 a.C.).

Essa é, exatamente, a "liberdade" sobre a qual tanto se fala que ganhamos com a modernidade: a ilusão de que podemos mandar o mundo pra aquele lugar...
A posição kantiana de imperativos categóricos morais do tipo "aja de modo tal que sua ação possa ser erguida em norma universal de comportamento", na prática, pavimenta a estrada para a judicialização. Basta ver os manuais de "compliance" que florescem pelo mundo corporativo -voltaremos a isso logo.
O utilitarismo e seu império do bem-estar, seguramente, funcionam como "ethos" de um mundo pautado pela busca da felicidade material em todos os níveis, inclusive no da matéria do corpo e sua saúde. O utilitarismo pauta políticas públicas e corporativas, mas não me parece ser ele a base da judicialização. Esta base vem dos imperativos de Immanuel Kant (1724-1804). Vejamos.
Kant percebeu a dissolução dos modos tradicionais de contenção do comportamento em curso em sua época, em finais do século 18.
Tentou encontrar um modo "racional" e, portanto, universal, para a ética. Mas, este modo "deontológico" (dever ser) se revelou não como uma maioridade racional introjetada da norma, como ele pensava, mas sim como o crescimento do aparelho jurídico de constrangimento do comportamento. Dito de forma direta: desde manuais de "compliance" contra passivos éticos no mundo corporativo até o aumento da indústria dos processos. Enfim, a judicialização do cotidiano.
Essa judicialização significa que a única forma eficaz de constranger os comportamentos é via a força da lei. Esta é, sempre, encarceramento ou pagamentos de somas financeiras como consequência de processos abertos. Juízes arrancam seu dinheiro num clique. A indústria de sentenças cresce. Como mandamos o mundo pra aquele lugar, resta o mercado da ética.
Este mercado crescerá cada vez mais. Advogados farão rios de dinheiro. A máquina judiciária estatal crescerá junto com isso. Concursos para juízes e para o Ministério Público (cuidando de nós, cidadãos "hipossuficientes") garantirá inúmeras vidas financeiramente.
À medida que a sociedade se torna cada vez mais impessoal (apesar da baboseira de "capitalismo consciente" que falam por aí), a única forma restante será o mercado ético associado à ampliação das vagas no poder Judiciário.
Um dos efeitos nefastos desse mercado é a paranoia que segue toda sociedade judicializada. O medo do risco de ser processado faz o trabalho sujo da prevenção contra o passivo ético que tende a crescer. As empresas serão obrigadas a redefinir suas culturas internas, as escolas a inviabilizar qualquer forma de "sofrimento" dos alunos, enfim, o medo, alimento ancestral da norma, reinará livre sobre os cidadãos "livres" da modernidade tardia.
Políticos 'se lixam' para a sociedade
O escândalo da Petrobrás, pequena amostragem do que ainda pode aparecer, é a ponta do iceberg de algo mais profundo: o sistema eleitoral brasileiro está bichado e só será reformado se a sociedade pressionar para valer.
Hoje, teoricamente, as eleições são livres, embora o resultado seja bastante previsível. Não se elegem os melhores, mas os que têm mais dinheiro para financiar campanhas sofisticadas e milionárias. Empresas investem nos candidatos sem nenhum idealismo. É negócio. Espera-se retorno do investimento.
A máquina de fazer dinheiro para perpetuar o poder tem engrenagens bem conhecidas no mundo político: emendas parlamentares, convênios fajutos e licitações com cartas marcadas.
É isso que precisa mudar. Mas o Congresso, por óbvio, não quer. Ao contrário.

Como disse Eliane Cantanhêde com sua habitual lucidez, “enquanto o Brasil precisa desesperadamente de reformas, ajustes, cortes, o Congresso se autopremia com um fundo eleitoral de R$ 3,6 bilhões, além dos mais de R$ 800 milhões do Fundo Partidário.”
Diante da imensa repercussão negativa, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu retirar a previsão de que o fundo eleitoral com recursos públicos receba o aporte bilionário
Políticos, à esquerda e à direita, não estão dispostos a soltar o osso.
O infortúnio do cárcere e a perspectiva do ostracismo uniu adversários históricos para combater o inimigo comum: a Lava Jato e o aparato da Justiça. Mas o Judiciário também oferece seus temperos para o preparo da pizza da impunidade.
O STF, ao que tudo indica, vai revogar a saneadora decisão de que o cumprimento da pena deve ter início após condenação em segunda instância. A conhecida morosidade da Justiça vai provocar uma cascata de crimes prescritos. Resumo da ópera: os ladrões do dinheiro público vão sair por cima. Os políticos se lixam para a sociedade.
A Operação Lava Jato estará cada vez mais no olho do furacão. Não obstante excessos pontuais da Força Tarefa, a Lava Jato é o resultado direto da solidez institucional da nossa jovem democracia. É o lado bom da história.
Enquanto isso, Lula percorre o Brasil vestindo a máscara de perseguido político. E trata de puxar todos para o pântano da política anticidadã. “Se Jesus Cristo viesse para cá e Judas tivesse a votação num partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas para fazer coalização." Eis uma pérola do pragmatismo lulista. O ex-presidente não fez nada para mudar esse quadro. Ao contrário, aprofundou e radicalizou.
O Brasil depende - e muito- da qualidade da sua imprensa e da coerência ética de todos nós. Podemos virar o jogo. Acreditemos no Brasil e na democracia.
Hoje, teoricamente, as eleições são livres, embora o resultado seja bastante previsível. Não se elegem os melhores, mas os que têm mais dinheiro para financiar campanhas sofisticadas e milionárias. Empresas investem nos candidatos sem nenhum idealismo. É negócio. Espera-se retorno do investimento.
A máquina de fazer dinheiro para perpetuar o poder tem engrenagens bem conhecidas no mundo político: emendas parlamentares, convênios fajutos e licitações com cartas marcadas.
É isso que precisa mudar. Mas o Congresso, por óbvio, não quer. Ao contrário.

Diante da imensa repercussão negativa, o plenário da Câmara dos Deputados decidiu retirar a previsão de que o fundo eleitoral com recursos públicos receba o aporte bilionário
Políticos, à esquerda e à direita, não estão dispostos a soltar o osso.
O infortúnio do cárcere e a perspectiva do ostracismo uniu adversários históricos para combater o inimigo comum: a Lava Jato e o aparato da Justiça. Mas o Judiciário também oferece seus temperos para o preparo da pizza da impunidade.
O STF, ao que tudo indica, vai revogar a saneadora decisão de que o cumprimento da pena deve ter início após condenação em segunda instância. A conhecida morosidade da Justiça vai provocar uma cascata de crimes prescritos. Resumo da ópera: os ladrões do dinheiro público vão sair por cima. Os políticos se lixam para a sociedade.
A Operação Lava Jato estará cada vez mais no olho do furacão. Não obstante excessos pontuais da Força Tarefa, a Lava Jato é o resultado direto da solidez institucional da nossa jovem democracia. É o lado bom da história.
Enquanto isso, Lula percorre o Brasil vestindo a máscara de perseguido político. E trata de puxar todos para o pântano da política anticidadã. “Se Jesus Cristo viesse para cá e Judas tivesse a votação num partido qualquer, Jesus teria de chamar Judas para fazer coalização." Eis uma pérola do pragmatismo lulista. O ex-presidente não fez nada para mudar esse quadro. Ao contrário, aprofundou e radicalizou.
O Brasil depende - e muito- da qualidade da sua imprensa e da coerência ética de todos nós. Podemos virar o jogo. Acreditemos no Brasil e na democracia.
Sem a justa ira dos inocentes
Renan Calheiros é golpista. Um “velho golpista”. De acordo com o PT, golpista é aquele que por voto, palavras e obras apoiou a queda da ex-presidente Dilma. Foi o caso de Renan.
O “novo golpista” torce para que Lula seja impedido pela Justiça de disputar a eleição presidencial do próximo ano. Não é o caso de Renan. Que deseja Lula candidato esbelto e forte para beneficiar-se dos seus votos.
Por favor, não esqueçam, suplicou Renan outro dia: ele sempre foi de esquerda. Ele é Renan. Lula, não. Jamais foi de esquerda. Valeu-se dela para fundar o PT. Serviu-se dela para chegar ao poder.
E uma vez lá, governou com as elites que antes amaldiçoava. Que hoje amaldiçoa na tentativa de não perder a simpatia dos mais pobres. Lula é o que foi sempre: um irresponsável manipulador de palavras e de sentimentos.
O encontro dos réus Lula e Renan marcou a passagem por Alagoas na semana passada da caravana do mais ilustre alvo da Lava Jato. Renan não discursou com medo de ser vaiado. Queria livrar-se, e ao visitante, do constrangimento.
Mesmo assim foi vaiado e fingiu que não era com ele. Lula encantou os que queriam ouvi-lo e tocá-lo como se fosse um demiurgo. Provou que está em boa forma.
Ameaçado de não se reeleger senador, Renan afastou-se do governo impopular de Michel Temer para colar-se de vez a Lula. Exagero: de vez, não, apenas o necessário.
Lula acolheu-o como se Renan não tivesse atraiçoado Dilma. “Renan pode ter todos os defeitos, mas ajudou meu governo”, disse Lula. Quanto ao fato de Renan responder a 14 processos, Lula afirmou que “todo mundo é inocente até que se prove o contrário”.
Como demonstrado, ajudar Lula a governar é condição essencial para ser absolvido por ele de qualquer pecado. A máxima de que “todo mundo é inocente até que se prove o contrário” não passa de uma frase vazia na boca de Lula.
O Supremo Tribunal Federal considerou o mensalão do PT um “atentado contra a democracia”. E condenou os mensaleiros à prisão. Lula prefere seguir negando que o mensalão existiu.
A quem cabe provar que um suposto inocente é culpado? Nas democracias, à Justiça. No mundo onde Lula faz e aplica suas próprias leis, cabe a ele.
Se Lula reconhecesse a autoridade da Justiça seria obrigado a render-se à realidade de que seu governo foi corrupto e legou a Dilma uma pesada herança de corrupção. Como, pois, ficaria se a Justiça, mais tarde, o condenasse? A última palavra é dele.
Nas penitenciárias, ensina o médico Dráuzio Varella, só existe gente inocente. Ninguém, ali, cometeu crime algum. Todos são vítimas de injustiças. Na política, como nas penitenciárias.
O Congresso, mas não só, é um imenso Carandiru, depósito de imaculados. Os porões dos palácios em Brasília são locais de orações e de reflexão. A Lava Jato é uma máquina de moer santas reputações. E Lula... Ora, Lula...
É o santo padroeiro dos que querem emparedar a Lava Jato, remeter o combate à corrupção para o inferno e manter tudo como está. Nunca antes na história do país alguém detratou a Justiça com a desenvoltura e a desfaçatez exibidas por Lula.
Sua viagem de 20 dias a 25 cidades de nove Estados do Nordeste tem servido para que ele ataque com virulência “os canalhas” da toga, como fez em João Pessoa no último fim de semana.
Lula fala para os convertidos. Ao fim e ao cabo, carece da justa ira dos inocentes e dos perseguidos.
O “novo golpista” torce para que Lula seja impedido pela Justiça de disputar a eleição presidencial do próximo ano. Não é o caso de Renan. Que deseja Lula candidato esbelto e forte para beneficiar-se dos seus votos.
Por favor, não esqueçam, suplicou Renan outro dia: ele sempre foi de esquerda. Ele é Renan. Lula, não. Jamais foi de esquerda. Valeu-se dela para fundar o PT. Serviu-se dela para chegar ao poder.
O encontro dos réus Lula e Renan marcou a passagem por Alagoas na semana passada da caravana do mais ilustre alvo da Lava Jato. Renan não discursou com medo de ser vaiado. Queria livrar-se, e ao visitante, do constrangimento.
Mesmo assim foi vaiado e fingiu que não era com ele. Lula encantou os que queriam ouvi-lo e tocá-lo como se fosse um demiurgo. Provou que está em boa forma.
Ameaçado de não se reeleger senador, Renan afastou-se do governo impopular de Michel Temer para colar-se de vez a Lula. Exagero: de vez, não, apenas o necessário.
Lula acolheu-o como se Renan não tivesse atraiçoado Dilma. “Renan pode ter todos os defeitos, mas ajudou meu governo”, disse Lula. Quanto ao fato de Renan responder a 14 processos, Lula afirmou que “todo mundo é inocente até que se prove o contrário”.
Como demonstrado, ajudar Lula a governar é condição essencial para ser absolvido por ele de qualquer pecado. A máxima de que “todo mundo é inocente até que se prove o contrário” não passa de uma frase vazia na boca de Lula.
O Supremo Tribunal Federal considerou o mensalão do PT um “atentado contra a democracia”. E condenou os mensaleiros à prisão. Lula prefere seguir negando que o mensalão existiu.
A quem cabe provar que um suposto inocente é culpado? Nas democracias, à Justiça. No mundo onde Lula faz e aplica suas próprias leis, cabe a ele.
Se Lula reconhecesse a autoridade da Justiça seria obrigado a render-se à realidade de que seu governo foi corrupto e legou a Dilma uma pesada herança de corrupção. Como, pois, ficaria se a Justiça, mais tarde, o condenasse? A última palavra é dele.
Nas penitenciárias, ensina o médico Dráuzio Varella, só existe gente inocente. Ninguém, ali, cometeu crime algum. Todos são vítimas de injustiças. Na política, como nas penitenciárias.
O Congresso, mas não só, é um imenso Carandiru, depósito de imaculados. Os porões dos palácios em Brasília são locais de orações e de reflexão. A Lava Jato é uma máquina de moer santas reputações. E Lula... Ora, Lula...
É o santo padroeiro dos que querem emparedar a Lava Jato, remeter o combate à corrupção para o inferno e manter tudo como está. Nunca antes na história do país alguém detratou a Justiça com a desenvoltura e a desfaçatez exibidas por Lula.
Sua viagem de 20 dias a 25 cidades de nove Estados do Nordeste tem servido para que ele ataque com virulência “os canalhas” da toga, como fez em João Pessoa no último fim de semana.
Lula fala para os convertidos. Ao fim e ao cabo, carece da justa ira dos inocentes e dos perseguidos.
Desastre à espreita
Méritos e possíveis vantagens da privatização à parte, Michel Temer está querendo vender algo que não lhe pertence. A procuração dada pelos proprietários à representante que ele substituiu não fala nada em entregar patrimônio público para cobrir um buraco – buraco que Temer não foi o primeiro a cavar mas ajudou a aprofundar. Até que o eleitor diga que é isso que quer, alienar florestas e estatais causará desconfiança e suspeição – especialmente quando 93% desaprovam o presidente.
Collor e Dilma caíram após prometeram uma coisa em campanha e fazerem o oposto. Temer não prometeu nada, mas herdou cargo, compromissos e promessas da titular. Ele pode achar que não. Pode crer que chegou lá por suas ideias e convicções. Mas a “Ponte para o futuro” não recebeu um sufrágio sequer. Alavancou outras contrapartidas, eventualmente, mas voto nenhum.
Nem mesmo forçando a barra e considerando-se a votação que afastou Dilma como “eleição” de Temer. Aconteceu de tudo naquele plenário da Câmara, mas ninguém bradou “pela venda da Eletrobras e pela entrega da Reserva Nacional de Cobre” enquanto embargava a voz, vestia a bandeira brasileira e posava para as câmeras. Talvez uns tenham pensado no cobre, mas não puderam vocalizar.

Afundando o poço da crise política está a crise de representatividade. O eleito pode esquecer suas obrigações, mas quem o elegeu lembra. Lembra especialmente do que não delegou ao seu representante. Se vê o eleito fazendo algo que não estava combinado, é natural que se sinta contrariado. Se isso acontece sempre, é de se esperar que ele desacredite as instituições. Não à toa, estão todas nas valas mais fundas de sua credibilidade.
Temer acreditou em algum acólito de segunda mão que lhe vendeu uma ideia fora do lugar. Acha que vai entrar para a história como “o presidente das reformas”, como quem fez o que precisava ser feito mas ninguém tinha coragem de fazer. Não vai. Collor não é lembrado por abrir a economia do país, mas pelo Fiat Elba, por PC Farias e por ter sido o primeiro impedido pós-ditadura.
Se a preocupação de Temer é com a posteridade, algum sabujo poderia lembrá-lo de que ele já é histórico. É o presidente mais impopular que se tem registro. Não é pouco, considerando-se a concorrência. Ele superou Dilma, Collor e até Sarney. Dificilmente alguém vai conseguir batê-lo tão cedo. Parabéns.
A avalanche da desmoralização institucional demorou mas está alcançando também o Judiciário. Com a contribuição diária da toga falante e graças à omissão de seus colegas de tribunal, os autos se tornaram incomparavelmente menos loquazes do que as entrevistas, notas, tuítes e posts dos magistrados. Juízes que se julgam acima dos outros não têm quem os contradiga. Quem se arrisca a contrariá-los está a uma sentença do arrependimento.
Como diria aquele investigado, com o Supremo, com tudo. Partidos políticos, Congresso e Presidência da República estão perdendo os últimos traços de respeitabilidade aos olhos do público. O desastre está à espreita. É no pascigo do descrédito institucional que se alimentam vivandeiras e promotores do ódio. É também uma oportunidade de negócio para marqueteiros virtuais que fazem dinheiro sublocando MAVs e manipulando a mídia social.
Nesse ambiente insalubre, reproduz-se com velocidade exponencial o discurso militarista. Um jovem e seu computador criam uma página no Facebook, gravam um vídeo por dia e em menos de dois meses têm meio milhão de seguidores. Suas gravações são vistas e compartilhadas milhões de vezes. Não é hipótese, mas um exemplo. Como ele, há outros. E outros. No que isso vai dar? Estamos prestes a descobrir.
Collor e Dilma caíram após prometeram uma coisa em campanha e fazerem o oposto. Temer não prometeu nada, mas herdou cargo, compromissos e promessas da titular. Ele pode achar que não. Pode crer que chegou lá por suas ideias e convicções. Mas a “Ponte para o futuro” não recebeu um sufrágio sequer. Alavancou outras contrapartidas, eventualmente, mas voto nenhum.
Nem mesmo forçando a barra e considerando-se a votação que afastou Dilma como “eleição” de Temer. Aconteceu de tudo naquele plenário da Câmara, mas ninguém bradou “pela venda da Eletrobras e pela entrega da Reserva Nacional de Cobre” enquanto embargava a voz, vestia a bandeira brasileira e posava para as câmeras. Talvez uns tenham pensado no cobre, mas não puderam vocalizar.

Afundando o poço da crise política está a crise de representatividade. O eleito pode esquecer suas obrigações, mas quem o elegeu lembra. Lembra especialmente do que não delegou ao seu representante. Se vê o eleito fazendo algo que não estava combinado, é natural que se sinta contrariado. Se isso acontece sempre, é de se esperar que ele desacredite as instituições. Não à toa, estão todas nas valas mais fundas de sua credibilidade.
Temer acreditou em algum acólito de segunda mão que lhe vendeu uma ideia fora do lugar. Acha que vai entrar para a história como “o presidente das reformas”, como quem fez o que precisava ser feito mas ninguém tinha coragem de fazer. Não vai. Collor não é lembrado por abrir a economia do país, mas pelo Fiat Elba, por PC Farias e por ter sido o primeiro impedido pós-ditadura.
Se a preocupação de Temer é com a posteridade, algum sabujo poderia lembrá-lo de que ele já é histórico. É o presidente mais impopular que se tem registro. Não é pouco, considerando-se a concorrência. Ele superou Dilma, Collor e até Sarney. Dificilmente alguém vai conseguir batê-lo tão cedo. Parabéns.
A avalanche da desmoralização institucional demorou mas está alcançando também o Judiciário. Com a contribuição diária da toga falante e graças à omissão de seus colegas de tribunal, os autos se tornaram incomparavelmente menos loquazes do que as entrevistas, notas, tuítes e posts dos magistrados. Juízes que se julgam acima dos outros não têm quem os contradiga. Quem se arrisca a contrariá-los está a uma sentença do arrependimento.
Como diria aquele investigado, com o Supremo, com tudo. Partidos políticos, Congresso e Presidência da República estão perdendo os últimos traços de respeitabilidade aos olhos do público. O desastre está à espreita. É no pascigo do descrédito institucional que se alimentam vivandeiras e promotores do ódio. É também uma oportunidade de negócio para marqueteiros virtuais que fazem dinheiro sublocando MAVs e manipulando a mídia social.
Nesse ambiente insalubre, reproduz-se com velocidade exponencial o discurso militarista. Um jovem e seu computador criam uma página no Facebook, gravam um vídeo por dia e em menos de dois meses têm meio milhão de seguidores. Suas gravações são vistas e compartilhadas milhões de vezes. Não é hipótese, mas um exemplo. Como ele, há outros. E outros. No que isso vai dar? Estamos prestes a descobrir.
O lado difícil da luta
Há sempre duas faces na mesma moeda
Cara: um herói.
Coroa: um tirano.
Algo mudou, bem sei;
A ambição mudou de traje,
A guerra, de veículo,
O poder, de método.
O mundo girou muito
Mas o homem mudou pouco.

Porém repetir uma história
É nossa profissão, e nossa forma de luta.
Assim, vamos contar de novo
De maneira bem clara
E eis nossa razão:
Ainda não acreditamos que no final
O bem sempre triunfa.
Mas já começamos a crer, emocionados,
Que, no fim, o mal nem sempre vence.
O mais difícil da luta
É descobrir o lado em que lutar.
Millôr Fernandes, prólogo para a tradução e adaptação de "Antígona", de Sófocles
Cara: um herói.
Coroa: um tirano.
Algo mudou, bem sei;
A ambição mudou de traje,
A guerra, de veículo,
O poder, de método.
O mundo girou muito
Mas o homem mudou pouco.

É nossa profissão, e nossa forma de luta.
Assim, vamos contar de novo
De maneira bem clara
E eis nossa razão:
Ainda não acreditamos que no final
O bem sempre triunfa.
Mas já começamos a crer, emocionados,
Que, no fim, o mal nem sempre vence.
O mais difícil da luta
É descobrir o lado em que lutar.
Millôr Fernandes, prólogo para a tradução e adaptação de "Antígona", de Sófocles
É o desemprego que explode as contas do INSS
O título é inspirado num romance de Carlos Heitor Cony e o conteúdo nele contido refere-se à influência negativa “mais uma” do desemprego que sufoca os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. O ministro Henrique Meirelles na entrevista a Marta Beck e Eliane Oliveira, O Globo de domingo, focalizou a antecipação das privatizações da Eletrobrás e dos aeroportos como meio de tentar equilibrar as contas públicas. Referiu-se também à reforma da Previdência Social como medida de urgência voltada para o mesmo objetivo financeiro. Chegou a dizer que, se o Congresso não aprovar a Emenda Constitucional da reforma o governo terá que colocar em prática novas medidas tributárias, as quais não desejou exemplificar.
O ministro da Fazenda não estudou profundamente a questão do déficit previdenciário. Se tivesse estudado, não veria que suas causas encontram-se em dois planos distintos, porém convergentes: a sonegação de empresas e a taxa de desemprego na escala – segundo o IBGE, de 13,5% sobre a mão de obra ativa do país. São assim 14 milhões de pessoas.

Em vários outros países, como a Espanha e França, o índice de desemprego é alto e seus governos se empenham para reduzi-lo. No Brasil o empenho do Executivo volta-se para o plano financeiro das contas públicas, deixando a esfera social para outra dimensão menos importante.
Eu afirmei que o título desta matéria é inspirado numa obra do escritor Carlos heitor Cony. Chama-se “Informação ao Crucificado”. No Brasil, crucificado é o povo envolto num maremoto que reduz os postos de trabalho. Daí o nível de descrédito que atinge o governo, da ordem de 93%, pesquisa do Instituto Ipsos, reportagem de Daniel Drumati e Gilberto Amêndola, em O Estado de São Paulo também de domingo.
A população não se sente representada nem pelos políticos de modo geral, nem pelo governo em particular. É como seus interesses legítimos fossem contestados e oprimidos pelo sistema de poder.
O sistema de poder, em vários níveis, vem sofrendo contestações em série. Uma delas, me informa o médico Pedro Campello, por parte do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro contra o ministro da Saúde Ricardo Barros. A edição mensal do informativo do CREMERJ destaca que a entidade ingressou com representação contra o ministro Ricardo Barros da Saúde por ter ele demonstrado desconhecimento do sistema público e do trabalho dos médicos e demais profissionais do setor saúde.
Essa reação, que sE encontra já no Ministério Público Federal, inclui a informação de que no mês de maio a entidade entregou ao ministro um dossiê focalizando todas as deficiências que marcam a rede federal que opera no Rio de Janeiro, a qual se encontra em verdadeiro estado de calamidade.
O ministro Ricardo Barros acusou os médicos de não trabalharem, depois resolveu retratar-se, mas de maio até este final de agosto a calamidade não apresenta qualquer sinal de redução. Ao contrário. O sistema de saúde merece estar no centro do tratamento intensivo para salvar-se.
Aliás, o Brasil, como um todo, está exigindo medidas urgentes para que sua população possa salvar-se do abandono e que se encontra. O desemprego é o fator principal do desequilíbrio das contas previdenciárias, em particular, e das contas públicas de modo geral. A arrecadação de impostos no primeiro semestre ficou abaixo do esperado pelo ministro Henrique Meirelles. A culpa, evidentemente, não pode ser transferida aos assalariados. Os assalariados são as vítimas e não os culpados da catástrofe.
O ministro da Fazenda não estudou profundamente a questão do déficit previdenciário. Se tivesse estudado, não veria que suas causas encontram-se em dois planos distintos, porém convergentes: a sonegação de empresas e a taxa de desemprego na escala – segundo o IBGE, de 13,5% sobre a mão de obra ativa do país. São assim 14 milhões de pessoas.
Partindo-se do princípio de que o salário médio brasileiro situa-se em torno de 2 mi reais por mês e considerando que as contribuições dos empregadores são de 20% sobre as folhas e a dos empregados na média de 9% dos salários, vamos verificar o seguinte: a arrecadação total para o INSS, não fosse o desemprego seria de mais 102 bilhões de reais por ano.
Os empregadores entrariam com aproximadamente 82 bilhões e os empregados com 20 bilhões. Esse é o problema essencial. É verdade que o desemprego é tecnicamente aceitável na escala rotativa de 5%. Não pode haver desemprego zero. Mas, convenhamos, a taxa de 13,5% é assustadora.
Os empregadores entrariam com aproximadamente 82 bilhões e os empregados com 20 bilhões. Esse é o problema essencial. É verdade que o desemprego é tecnicamente aceitável na escala rotativa de 5%. Não pode haver desemprego zero. Mas, convenhamos, a taxa de 13,5% é assustadora.

Eu afirmei que o título desta matéria é inspirado numa obra do escritor Carlos heitor Cony. Chama-se “Informação ao Crucificado”. No Brasil, crucificado é o povo envolto num maremoto que reduz os postos de trabalho. Daí o nível de descrédito que atinge o governo, da ordem de 93%, pesquisa do Instituto Ipsos, reportagem de Daniel Drumati e Gilberto Amêndola, em O Estado de São Paulo também de domingo.
A população não se sente representada nem pelos políticos de modo geral, nem pelo governo em particular. É como seus interesses legítimos fossem contestados e oprimidos pelo sistema de poder.
O sistema de poder, em vários níveis, vem sofrendo contestações em série. Uma delas, me informa o médico Pedro Campello, por parte do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro contra o ministro da Saúde Ricardo Barros. A edição mensal do informativo do CREMERJ destaca que a entidade ingressou com representação contra o ministro Ricardo Barros da Saúde por ter ele demonstrado desconhecimento do sistema público e do trabalho dos médicos e demais profissionais do setor saúde.
Essa reação, que sE encontra já no Ministério Público Federal, inclui a informação de que no mês de maio a entidade entregou ao ministro um dossiê focalizando todas as deficiências que marcam a rede federal que opera no Rio de Janeiro, a qual se encontra em verdadeiro estado de calamidade.
O ministro Ricardo Barros acusou os médicos de não trabalharem, depois resolveu retratar-se, mas de maio até este final de agosto a calamidade não apresenta qualquer sinal de redução. Ao contrário. O sistema de saúde merece estar no centro do tratamento intensivo para salvar-se.
Aliás, o Brasil, como um todo, está exigindo medidas urgentes para que sua população possa salvar-se do abandono e que se encontra. O desemprego é o fator principal do desequilíbrio das contas previdenciárias, em particular, e das contas públicas de modo geral. A arrecadação de impostos no primeiro semestre ficou abaixo do esperado pelo ministro Henrique Meirelles. A culpa, evidentemente, não pode ser transferida aos assalariados. Os assalariados são as vítimas e não os culpados da catástrofe.
Outros naufrágios
Não achei palavra melhor para definir como tenho me sentido, por uma série de motivos: jururu. Jururu da vidica. Por motivos pessoais que não vêm ao caso, mas também e muito por todo dia ver por aí o país andando para trás, ou ancorado, ou naufragando.
O meu jururu é estar acabrunhada. Não chego a considerar-me macambúzia, que seria uma espécie de 100% jururu (ei, isso dá camiseta, hein?). Só não estou entendendo como é que as coisas podem acontecer tão sorrateiramente que quando percebemos já nos empurram porta afora, nos impõem limites, censuram, combatem. Proíbem; e proíbem com todo o peso que esse verbo carrega, sempre parecendo estar armado para impor sua ordem, seu veto.
O avanço do ranço disfarçado de patriotismo, que se esgueira ligeiro, como piada por estradas serpentuosas, deve ser percebido e interceptado a tempo. Não é para rir ouvir o barulho de coturnos, falar em marchas, já não mais em caminhadas. Marchas são solenes – é preciso diferenciar uns passos de outros.
Não tem graça. Bolsonaro e os bolsonarinhos não têm graça nenhuma.
Ficar patrulhando se o Caetano segurou uma faixa com vírgula ou sem, ou se o Chico, sim, ele envelheceu, nós também – mas a arte não. Se os Tribalistas voltaram mais discursivos é porque acham que o recado agora deve ser assim, já que a sensibilidade não tem mesmo mais tempo para poesia.
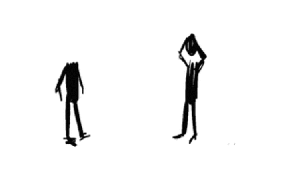
A caretice grassa. E quando se tenta falar sobre um assunto mais humano, vem guerra com um monte de gente que nem ouve – quer bordoar. De outro, uma turma que pode até ter razão, mas fica batendo numa teclinha, chatinhos, repetindo termos insuportáveis e que acabam ainda mais distanciando e justificando uma luta insana de opiniões. Enquanto lados se debatem, tal qual na fábula, os fatos vão acontecendo na vida real: mulheres assassinadas por seus parceiros, milhares de abortos clandestinos, adolescentes grávidas, travestis, trans e homossexuais espancados e mortos, tráfico de gente apanhada na rede dos pescadores do mal.
Não é a novela que faz mal, que ensina ninguém a nada. É a falta de escola, a falta de saúde, de saneamento básico, de lógica nas decisões prioritárias que ensina que parece que a população não vale nada.
Não bastasse assistir, também perplexa, diante do silêncio geral da Nação, a tantas aleivosias, tantos tiros, tantas mortes, tantos acidentes, tantos ataques à nossa inteligência e sentimentos. Só nessa semana duas dezenas de mortos em águas doces e salgadas jogados de embarcações inseguras. E empresários combinando – e nós ouvimos as gravações – como economizar em segurança, como roubar, além de dinheiro, as nossas vidas, quando percorremos as estradas em pandarecos.
São perturbadores cúmulos da caminhada retrógrada. Um evento aberto ao público, no tropical Rio de Janeiro, um concerto musical, traz escrito no convite um imbecil dress code: proibido usar saias dez centímetros acima dos joelhos, transparências, decotes, bermudas. Ah, por quê? Por que o evento será na Vila Militar.
– Estás boa, santa? – perguntaríamos anos atrás. Agora parece que estamos com medo. Parece, não. Estamos. Andam muito preocupados com o que vestimos, com quem transamos, quem beijamos. Se ocupam em impor regras pelas réguas deles. Mas não estão medindo o mal que fazem para o futuro que bloqueiam.
Não é normal.
O meu jururu é estar acabrunhada. Não chego a considerar-me macambúzia, que seria uma espécie de 100% jururu (ei, isso dá camiseta, hein?). Só não estou entendendo como é que as coisas podem acontecer tão sorrateiramente que quando percebemos já nos empurram porta afora, nos impõem limites, censuram, combatem. Proíbem; e proíbem com todo o peso que esse verbo carrega, sempre parecendo estar armado para impor sua ordem, seu veto.
O avanço do ranço disfarçado de patriotismo, que se esgueira ligeiro, como piada por estradas serpentuosas, deve ser percebido e interceptado a tempo. Não é para rir ouvir o barulho de coturnos, falar em marchas, já não mais em caminhadas. Marchas são solenes – é preciso diferenciar uns passos de outros.
Não tem graça. Bolsonaro e os bolsonarinhos não têm graça nenhuma.
Ficar patrulhando se o Caetano segurou uma faixa com vírgula ou sem, ou se o Chico, sim, ele envelheceu, nós também – mas a arte não. Se os Tribalistas voltaram mais discursivos é porque acham que o recado agora deve ser assim, já que a sensibilidade não tem mesmo mais tempo para poesia.
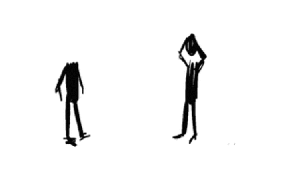
Não é a novela que faz mal, que ensina ninguém a nada. É a falta de escola, a falta de saúde, de saneamento básico, de lógica nas decisões prioritárias que ensina que parece que a população não vale nada.
Não bastasse assistir, também perplexa, diante do silêncio geral da Nação, a tantas aleivosias, tantos tiros, tantas mortes, tantos acidentes, tantos ataques à nossa inteligência e sentimentos. Só nessa semana duas dezenas de mortos em águas doces e salgadas jogados de embarcações inseguras. E empresários combinando – e nós ouvimos as gravações – como economizar em segurança, como roubar, além de dinheiro, as nossas vidas, quando percorremos as estradas em pandarecos.
São perturbadores cúmulos da caminhada retrógrada. Um evento aberto ao público, no tropical Rio de Janeiro, um concerto musical, traz escrito no convite um imbecil dress code: proibido usar saias dez centímetros acima dos joelhos, transparências, decotes, bermudas. Ah, por quê? Por que o evento será na Vila Militar.
– Estás boa, santa? – perguntaríamos anos atrás. Agora parece que estamos com medo. Parece, não. Estamos. Andam muito preocupados com o que vestimos, com quem transamos, quem beijamos. Se ocupam em impor regras pelas réguas deles. Mas não estão medindo o mal que fazem para o futuro que bloqueiam.
Não é normal.
O raio e o moffo
Dia desses li que em 2016 a cidade de Los Angeles, nos EUA, conseguiu reduzir em 80% os índices de sujeira em suas ruas. Fiquei curioso: qual o segredo? Descobri, então, absolutamente fascinado, que o mérito foi exclusivamente de algo denominado "transparência". Simples assim.
Tudo começou com a disponibilização, para a população, de um mapa no qual registra-se, em tempo real, tudo o que se relaciona a lixo - de dejetos não recolhidos a depósitos ilegais, está tudo lá. A partir daí os problemas passaram a ficar absolutamente claros para todos - população e administração - e as soluções, como que num passe de mágica, apareceram.

O passo seguinte foi aplicar o mesmo princípio ao trânsito. Cada acidente e atropelamento passou a ser inserido em um mapa igualmente tornado público através da Internet. A partir daí, foi apenas uma questão de tempo para descobrirem, por exemplo, que 65% das colisões aconteciam em apenas 6% das vias - as quais, então, passaram a ser objeto da intervenção estatal.
Este sistema foi evoluindo: passou a demonstrar eventuais problemas na disponibilização - e na isonomia - dos serviços de saúde, do saneamento básico, de obras que estejam sendo realizadas e até mesmo da segurança pública.
Passou a ser possível, por qualquer do povo, saber quantas e quais obras estavam sendo realizadas em cada dia e local da cidade - basta olhar um mapa de simples visualização e compreensão. Assim também todos passaram a tomar conhecimento, com absoluta precisão, de quais os locais mais afetados por cada tipo de crime.
A partir de tal transparência a população e os órgãos de fiscalização passaram a poder cobrar, de forma mais eficiente, certas ações da administração pública - e esta passou a ter condições de agir inclusive preventivamente. Tradução: todos ganharam.
Esta filosofia de trabalho refletiu o êxito de uma experiência pioneira realizada também nos EUA, na cidade de Detroit. Lá, só para que se tenha uma ideia, passaram a ser exibidos em um mapa até os buracos existentes nas ruas - e desde quando apareceram.
Medite, agora, sobre a administração pública que atende a maior parte da humanidade. Escondida atrás de dados sigilosos ou estatísticas mentirosas, abafa a verdade simples de que nada mais eficiente para acabar com o mofo que um raio de sol!
Pedro Valls Feu Rosa
Tudo começou com a disponibilização, para a população, de um mapa no qual registra-se, em tempo real, tudo o que se relaciona a lixo - de dejetos não recolhidos a depósitos ilegais, está tudo lá. A partir daí os problemas passaram a ficar absolutamente claros para todos - população e administração - e as soluções, como que num passe de mágica, apareceram.

O passo seguinte foi aplicar o mesmo princípio ao trânsito. Cada acidente e atropelamento passou a ser inserido em um mapa igualmente tornado público através da Internet. A partir daí, foi apenas uma questão de tempo para descobrirem, por exemplo, que 65% das colisões aconteciam em apenas 6% das vias - as quais, então, passaram a ser objeto da intervenção estatal.
Este sistema foi evoluindo: passou a demonstrar eventuais problemas na disponibilização - e na isonomia - dos serviços de saúde, do saneamento básico, de obras que estejam sendo realizadas e até mesmo da segurança pública.
Passou a ser possível, por qualquer do povo, saber quantas e quais obras estavam sendo realizadas em cada dia e local da cidade - basta olhar um mapa de simples visualização e compreensão. Assim também todos passaram a tomar conhecimento, com absoluta precisão, de quais os locais mais afetados por cada tipo de crime.
A partir de tal transparência a população e os órgãos de fiscalização passaram a poder cobrar, de forma mais eficiente, certas ações da administração pública - e esta passou a ter condições de agir inclusive preventivamente. Tradução: todos ganharam.
Esta filosofia de trabalho refletiu o êxito de uma experiência pioneira realizada também nos EUA, na cidade de Detroit. Lá, só para que se tenha uma ideia, passaram a ser exibidos em um mapa até os buracos existentes nas ruas - e desde quando apareceram.
Medite, agora, sobre a administração pública que atende a maior parte da humanidade. Escondida atrás de dados sigilosos ou estatísticas mentirosas, abafa a verdade simples de que nada mais eficiente para acabar com o mofo que um raio de sol!
Pedro Valls Feu Rosa
Vergonha da desigualdade
“Essa não é uma sociedade que tem vergonha da desigualdade”. Não é mesmo, demorô, desde a escravidão, que desgraça. Anote ou guarde o mantra aí que depois pode fazer algum sentido, quem sabe lá no epílogo, na poeira dessa crônica, ave, você que julga, quem sou eu para dizer o que você pensa, simbora.
Por favor, como pedia o amigo Belchior, meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja, no seu copo, no seu colo e nesse bar... Não se esqueça, porém, do que deixei, qual uma fileira de telha, na cumeeira do texto, como quem deixa uma interrogação à guisa de goteira. Pra cima com a viga, moçada!
Para decorar, até datilografo o mantra e murmuro, é minha técnica, minha mania de não esquecer mesmo. O barulho da máquina de escrever... Cada dedo na letra é um sulco na memória. Ou um furo na página, no papel de cada um. “Essa não é uma sociedade que tem vergonha da desigualdade”. Meu bem, meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja.
Senta que lá vem João Dória, toda semana uma história triste para São Paulo, acho que já perdeu a graça esse não-político-mais-picareta-da-humanidade do paleolítico das civilizações. Agora mesmo passo aqui no Largo da Batata e reparo no sumiço do parquinho. Ligo no “SP TV”, opa, pasme, vejo uma matéria de primeira, esse César Tralli faz o melhor e mais crítico jornalismo da “Rede Globo” de todas as praças, parabéns, meu rapaz. Donde um “pleiba” da Regional Pinheiros diz que no parquinho juntava muito rato e outras testemunhas falam de mendigos. A velha tese escrota contra os “feios, sujos e malvados”.
Por favor, como pedia o amigo Belchior, meu bem, guarde uma frase pra mim dentro da sua canção, esconda um beijo pra mim, sob as dobras do blusão, eu quero um gole de cerveja, no seu copo, no seu colo e nesse bar... Não se esqueça, porém, do que deixei, qual uma fileira de telha, na cumeeira do texto, como quem deixa uma interrogação à guisa de goteira. Pra cima com a viga, moçada!
Para decorar, até datilografo o mantra e murmuro, é minha técnica, minha mania de não esquecer mesmo. O barulho da máquina de escrever... Cada dedo na letra é um sulco na memória. Ou um furo na página, no papel de cada um. “Essa não é uma sociedade que tem vergonha da desigualdade”. Meu bem, meu bem, o meu lugar é onde você quer que ele seja.
Senta que lá vem João Dória, toda semana uma história triste para São Paulo, acho que já perdeu a graça esse não-político-mais-picareta-da-humanidade do paleolítico das civilizações. Agora mesmo passo aqui no Largo da Batata e reparo no sumiço do parquinho. Ligo no “SP TV”, opa, pasme, vejo uma matéria de primeira, esse César Tralli faz o melhor e mais crítico jornalismo da “Rede Globo” de todas as praças, parabéns, meu rapaz. Donde um “pleiba” da Regional Pinheiros diz que no parquinho juntava muito rato e outras testemunhas falam de mendigos. A velha tese escrota contra os “feios, sujos e malvados”.

Essa destruição Dória, Doriana, dorianíssima, me lembra, doravante, o que vi, como cronista que até dormia nas ruas para experimentar a ideia de viver na cidade, as grandes invenções contra os desalmados e lascados à vera. Lembro, por exemplo, das rampas antimendigos do prefeito José Serra, assim como os bancos que impediam sonos e sonhos dos homens da rua, na gestão Kassab, os bancos com travas de ferro para impedir a deitada do corpo cansado aos fodidos de tudo. No que sempre só restava o chão. Uma vez no chão, como presenciei em reportagens tantas, a porrada, a porrada, a porrada, a guarda municipal e a polícia do Alckmin quebrando costelas. Não me cabe descrever agora a dor que senti aos gritos sob cassetetes, não há onomatopeia assombrosa que alcance a narrativa. Ninguém aguentaria a cobertura das dores reais dos fodidos de sempre. A gente finge que não existe para poder descrevê-las.
“Essa não é uma sociedade que tem vergonha da desigualdade”, soprou sabiamente o professor-filósofo Renato Janine Ribeiro, em entrevista à “Folha”. Frase que nos define no ano da graça de 2017. Vergonha própria e alheia. Carapuça para todos nós ou quase todos. Égua, vixe, oxe, caraca, fala sério, orra meu... e todas as exclamações regionalistas possíveis!
Ministro da Educação do Governo Dilma, mas sempre afinado com a autocrítica: “Os projetos do Lula foram os melhores da história do Brasil, mas não temos mais dinheiro na mesma medida. Não pode dizer simplesmente que vamos retomar os projetos petistas. Nenhum dos nomes cogitados está fazendo uma discussão séria de projeto para o Brasil”. Falou e disse. O que nos falta é vergonha na cara diante da desigualdade. Ponto parágrafo.
O professor-filósofo, guia deste cronista em muitos momentos obscuros, acabou de lançar o livro “A Boa Política” (Companhia das Letras). Ainda não li, mas, descaradamente, já gostei. Confio no taco do autor, assim como tenho consciência da grande sinuca histórica em que o país se meteu ao aderir ao golpe como que vai a uma quermesse ou a um programa de auditório televisivo.
Confio no taco filosófico, mesmo na crise, mesmo na falta de giz de todos os ensinos e na ausência de pelo menos um candeeiro ou um lampião iluminista. Metáforas bilharescas à parte, saudações populares e memorialísticas ao Brasil de Carne Frita, do Rui Chapéu e, sobretudo, à pátria do Meninão do Caixote —personagem de João Antônio, intérprete do submundo, escritor da marginalidade, cria da costela dos humilhados & ofendidos.
Somos analfabetos políticos e a primeira lição é ter vergonha na cara diante das desigualdades. Existe vida digna muito além dos Jardins, meu caro comandante da Rota, se é que o sr. me entende.
Xico Sá
Assinar:
Comentários (Atom)




