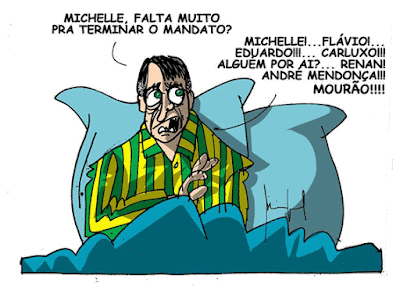Ser liderado por um covarde significa ser controlado por tudo o que o covarde teme. E ser liderado por um tolo é ser liderado pelos oportunistas que controlam o toloOctavia Butler
De que é feito um grande líder? Quase 200 anos atrás, a americana Margaret Fuller, autora do clássico “A mulher no século XIX”, primeira obra feminista registrada nos Estados Unidos, elencou quatro atributos essenciais: 1) ser idealista sem ser raso, ser realista sem demolir o outro; 2) abrigar empatias universais; 3) ser seguro de si; 4) entender que o poder é mais que mero espetáculo — o jogo da vida é solene, tem consequências. Primeira mulher correspondente de guerra de seu país, a pioneira Fuller foi uma jornalista engajada. Tinha horror à desrazão.
Em tempos mais recentes, quem também se ocupou do tema foi outra pioneira das letras, a colossal Octavia Butler. Autora de livros de ficção científica, Butler havia arrombado essa fatia do universo literário dominada por homens — e quase sempre homens brancos. Fora marcada pelo racismo e pelo segregacionismo dos EUA. Tampouco tinha paciência com a desrazão. Deixou ensinamentos sábios sobre a escolha de líderes. “Ser liderado por um covarde significa ser controlado por tudo o que o covarde teme. E ser liderado por um tolo é ser liderado pelos oportunistas que controlam o tolo”, escreveu em “Parábola dos talentos”. A obra também contempla líderes corruptos, mentirosos e chegados a uma tirania.
Bingo. Como não pensar no ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump e no quase (ou de facto) ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro? Ambos disputam primazia em covardia pessoal, bufonaria, criminalidade institucional, irresponsabilidade social. O que varia é a gradação. Trump, apesar da surra sofrida por seus candidatos nas eleições da semana retrasada, e contrariando os conselhos unânimes de seu QG político, anunciou sua intenção de tentar uma nova eleição em 2024. O evento, contudo, em nada lembrou a oficialização hollywoodiana de sua candidatura em 2015, quando desceu a monumental escadaria de sua torre nova-iorquina como um semideus que vai ter com o povo. Aquilo, sim, foi um triunfo. Seduziu a mídia de forma tão irreparável que, quando o jornalismo se deu conta, estava viciado e dependente dos absurdos produzidos por Trump.
Desta vez, o anúncio oficial, feito no salão nobre de Mar-a-Lago, sua propriedade na Flórida, foi mais para o patético. A mansão não lhe serve apenas de residência. Desde a derrota para Joe Biden em 2020, não aceita até hoje e que tentou anular por meio da invasão do Capitólio, Trump tenta imprimir a Mar-a-Lago uma aura de “sede de governo”— ele e seus seguidores mais doidos ainda o consideram o 45º presidente dos Estados Unidos em exercício. Só que, desta vez, a desrazão fabricada trombou com a realidade. Seu discurso de “reestreia” foi longo e tedioso, sem o habitual domínio de cena, desprovido de sacadas verbais. A plateia que ele deveria incandescer estava murcha. Vídeos indiscretos mostraram grupos de convidados tentando sair à francesa do salão, mas as portas permaneceram fechadas, impedindo a escapadela.
Ninguém gosta de perder eleição — seja para síndico ou presidente da Republica. Entre os ocupantes da Casa Branca, é de George H.W. Bush (pai) a descrição mais honesta e pungente de quanto lhe foi dolorido perder lisamente para Bill Clinton em 1992. Sem falar no inferno mental que tomou conta de Richard Nixon nos dias que antecederam seu impeachment, em 1974 — ele não conseguia sair da posição fetal e chorava no chão da Casa Branca.
Do lado de cá, a negação da derrota eleitoral por Bolsonaro tem tonalidade lúgubre. Imaginá-lo zanzando há três semanas no Palácio da Alvorada, infectado física e psicologicamente pelo medo, é esquisito. É medo de ser quem é, sem amparo? Medo das consequências de ter sido o presidente que foi? Sumiram ele e os filhos encrencados com a Justiça, assim como sumiram os também encrencados filhos de Donald Trump do evento em Mar-a-Lago.
— Perdeu, mané. Não amola — disse o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso ao bolsonarista que o abordou em Nova York.
A frase soou ótima, deixou meio Brasil de excelente humor. Dado o contexto, porém, o magistrado foi desdenhoso, arrogante. Ele participava do que o professor de Direito Constitucional Conrado Hübner Mendes, em coluna na Folha de S.Paulo, batizou de “micareta cinco estrelas de Nova York”, com conotação de promiscuidade judicial com evento empresarial.
A hora é particularmente imprópria para desdéns e minimizações. A histórica vitória eleitoral de Lula para liderar o país pela terceira vez é recente. Ainda está em construção e, para ser segura, será obra de longo prazo. O que não muda é o papel da imprensa: noticiar. Com uma diferença: ela espera das futuras lideranças o que nunca recebeu do governo atual — respeito e transparência. Um jatinho Gulfstream que acaba de rodar mundo com um presidente e um empresário encrencado com a Justiça desviou dessa rota.