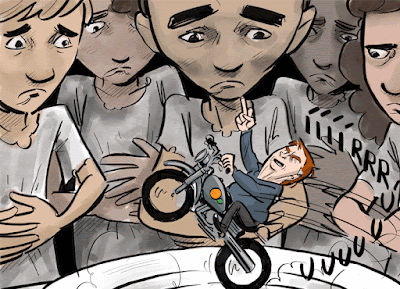quarta-feira, 21 de setembro de 2022
O 'melhor país do mundo' não é o de Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro discursou, ontem, na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, como é de praxe no cerimonial do órgão, desde a sua criação no imediato pós-II Guerra Mundial, embora não exista nada escrito que o Brasil deva ter essa honraria no seu regimento. Descreveu um país que não é exatamente aquele no qual estamos vivendo, com o claro propósito de aproveitar a oportunidade para se apresentar aos eleitores como um estadista reconhecido internacionalmente e, ao mundo, como um governante generoso e bem-sucedido. A abertura, porém, foi esvaziada pela ausência do presidente dos EUA, Joe Biden, que mudou a agenda e só falará hoje.
O discurso de Bolsonaro foi mais um gesto para se apropriar do nosso sentimento de brasilidade, da mesma forma como fez com a bandeira brasileira e as comemorações do Bicentenário da Independência, no 7 de Setembro, que descreveu no discurso como “a maior demonstração cívica da História do país”. Descendente de italianos, Bolsonaro é um “oriundi” traduzido, no conceito antropológico do termo, como acontece com a maioria dos brasileiros descendentes de europeus, que não renegam a cultura de seus povos de origem nem assumem uma condição “chauvinista”, colocando-a acima da nossa cultura popular.
A dificuldade de Bolsonaro está em não compreender plenamente o conceito de “brasilidade”, a qualidade de quem é brasileiro, que está profundamente associado à nossa diversidade étnica e cultural. O “ser brasileiro” não é uma invenção das antigas elites escravocratas nem das escolas militares, mas uma construção multidimensional, por meio da arte, da dança, dos ritos, da música, da culinária, dos símbolos e, principalmente, da nossa literatura, que fez a crítica dos nossos hábitos e costumes, papel hoje exercido pela nossa teledramaturgia. Num país continental, não poderia ser diferente.
Quando um brasileiro acredita que somos “o melhor país do mundo”, não está se referindo a um governo ou à conjuntura, mas aos vínculos culturais mais profundos, tecidos ao longo de gerações. Iniciado após a Independência, em 1822, o processo de constituição da identidade nacional somente consolidou-se a partir da década de 1930, após Getúlio Vargas chegar ao poder. Está ligado à constituição de um Estado nacional moderno e à língua portuguesa, falada em todo o território nacional. Daí a importância da nossa literatura, hoje tão desprezada. As obras de José de Alencar, autor de O Guarani, por exemplo, foram fundamentais para associar nossa identidade às belezas naturais do território e à presença indígena na formação da nação brasileira.
Os Sermões, de Padre Vieira; Inocência, de Visconde de Taunay; O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; Dom Casmurro, de Machado de Assis; Macunaíma, de Mário de Andrade; Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa; Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto; Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Jubiabá e Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado; Navalha na Carne, de Plínio Marcos, por exemplo, construíram um mosaico cultural cujo influência na música, na dramaturgia e nas artes plásticas perdura hoje. Artistas como Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga e Ivone Lara, Cartola e Paulinho da Viola, Chico Buarque e Tom Jobim, Caetano e Gil, Cazuza e Renato Russo, cada qual à sua época, foram intérpretes desse sentimento profundo de brasilidade.
O “melhor país do mundo” está no imaginário popular, não estava no discurso que Bolsonaro fez ontem na ONU, onde afirmou que 80% da Floresta Amazônica permanecem intocados: “Dois terços de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto, em 1500”. No mesmo dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que o número de queimadas registradas na Amazônia, até ontem, já superou o total registrado em todo o ano de 2021. Em nove meses incompletos (261 dias), foram 76.587 focos de incêndio na região. No ano passado inteiro, foram 75.090.
Bolsonaro é o principal responsável pelo aumento do desmatamento da Amazônia, ao desmantelar órgãos como o Ibama e o Instituto Chico Mendes, além de estimular garimpeiros, pecuaristas e madeireiros a avançar floresta a dentro. A Amazônia Legal, com 59% do território brasileiro, ocupa nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Na semana passada, por causa das queimadas, a fuligem e o cheiro das queimadas foram sentidos de São Paulo ao Rio Grande do Sul. A política ambiental de Bolsonaro está na contramão da política ambiental preconizada pela ONU e, hoje, é um dos principais fatores do nosso isolamento internacional.
O discurso de Bolsonaro foi mais um gesto para se apropriar do nosso sentimento de brasilidade, da mesma forma como fez com a bandeira brasileira e as comemorações do Bicentenário da Independência, no 7 de Setembro, que descreveu no discurso como “a maior demonstração cívica da História do país”. Descendente de italianos, Bolsonaro é um “oriundi” traduzido, no conceito antropológico do termo, como acontece com a maioria dos brasileiros descendentes de europeus, que não renegam a cultura de seus povos de origem nem assumem uma condição “chauvinista”, colocando-a acima da nossa cultura popular.
A dificuldade de Bolsonaro está em não compreender plenamente o conceito de “brasilidade”, a qualidade de quem é brasileiro, que está profundamente associado à nossa diversidade étnica e cultural. O “ser brasileiro” não é uma invenção das antigas elites escravocratas nem das escolas militares, mas uma construção multidimensional, por meio da arte, da dança, dos ritos, da música, da culinária, dos símbolos e, principalmente, da nossa literatura, que fez a crítica dos nossos hábitos e costumes, papel hoje exercido pela nossa teledramaturgia. Num país continental, não poderia ser diferente.
Quando um brasileiro acredita que somos “o melhor país do mundo”, não está se referindo a um governo ou à conjuntura, mas aos vínculos culturais mais profundos, tecidos ao longo de gerações. Iniciado após a Independência, em 1822, o processo de constituição da identidade nacional somente consolidou-se a partir da década de 1930, após Getúlio Vargas chegar ao poder. Está ligado à constituição de um Estado nacional moderno e à língua portuguesa, falada em todo o território nacional. Daí a importância da nossa literatura, hoje tão desprezada. As obras de José de Alencar, autor de O Guarani, por exemplo, foram fundamentais para associar nossa identidade às belezas naturais do território e à presença indígena na formação da nação brasileira.
Os Sermões, de Padre Vieira; Inocência, de Visconde de Taunay; O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; Dom Casmurro, de Machado de Assis; Macunaíma, de Mário de Andrade; Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa; Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto; Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Jubiabá e Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado; Navalha na Carne, de Plínio Marcos, por exemplo, construíram um mosaico cultural cujo influência na música, na dramaturgia e nas artes plásticas perdura hoje. Artistas como Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga e Ivone Lara, Cartola e Paulinho da Viola, Chico Buarque e Tom Jobim, Caetano e Gil, Cazuza e Renato Russo, cada qual à sua época, foram intérpretes desse sentimento profundo de brasilidade.
O “melhor país do mundo” está no imaginário popular, não estava no discurso que Bolsonaro fez ontem na ONU, onde afirmou que 80% da Floresta Amazônica permanecem intocados: “Dois terços de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto, em 1500”. No mesmo dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que o número de queimadas registradas na Amazônia, até ontem, já superou o total registrado em todo o ano de 2021. Em nove meses incompletos (261 dias), foram 76.587 focos de incêndio na região. No ano passado inteiro, foram 75.090.
Bolsonaro é o principal responsável pelo aumento do desmatamento da Amazônia, ao desmantelar órgãos como o Ibama e o Instituto Chico Mendes, além de estimular garimpeiros, pecuaristas e madeireiros a avançar floresta a dentro. A Amazônia Legal, com 59% do território brasileiro, ocupa nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Na semana passada, por causa das queimadas, a fuligem e o cheiro das queimadas foram sentidos de São Paulo ao Rio Grande do Sul. A política ambiental de Bolsonaro está na contramão da política ambiental preconizada pela ONU e, hoje, é um dos principais fatores do nosso isolamento internacional.
Odorico e a compostura
Compostura: ato ou efeito de compor (-se). Também modo de ser, de estar, de agir; que revela sobriedade, educação, comedimento para apresentar-se em sociedade.
Jair, o PR do Brasil, passa longe dessas definições. Talvez porque a palavra seja um substantivo fe-mi-ni-no – vocábulo definidor de um dos gêneros de seres humanos que provocam os instintos mais baixos do Jair.
Tem compostura quem sabe exercer austeridade, autocontrole, autodomínio. Quem sabe comportar-se adequadamente. Ou, no popular, atuar como manda o figurino. Coisas que passam infinitamente distante do Jair.
Coveiro é o profissional que abre e fecha covas em cemitérios. Jair já disse que não é um deles. Por isso mesmo, deixou claro: embora PR, como não é coveiro, nada tem a ver com os mais de 600 mil mortos da pandemia de Covid no Brasil.
Em sentido figurado, coveiro costuma indicar pessoa que estimula e/ou contribui para o fim de alguma coisa. O que cabe como luva no Jair. Em quase quatro anos como PR do Brasil, Jair detonou compostura, respeito a tal liturgia do cargo e mais um penca de coisas no país.
Daí, chefe de Estado que ainda é, cruzou o Atlântico para, como convidado, participar das homenagens póstumas à Rainha da Inglaterra – figura mais representativa da compostura e do respeito ao cargo.
Como o previsto, deu ruim. Jair lambuzou-se todo nas inconveniências. Principalmente, fez campanha política. No país enlutado, fez comício com claque barulhenta. Seu gado, enfurecido, aos costumes, avançou contra jornalistas. Destemidos, mugiram até contra os profissionais da BBC – tradicional e respeitada empresa britânica, pública, de comunicação. Aos berros, disseram aos donos da casa que “não eram bem vindos ali”.
Ribombando, mandaram outros ingleses “pra Venezuela”.
Compostura pura. Respeito máximo – à rainha e a seus súditos, na terra e no velório público da icônica monarca. Com essas deselegâncias todas, pretendiam imagens para bombar a campanha eleitoral, meio micada, do Jair.
Ou seja, no ambiente austero e fúnebre, Jair, armado com sua tropa, chegou-chegando. Primeiro, como definiu um comentarista da Globo News, no modelo boneco de posto, balançando-se alegremente ao vento. Depois, da sacada da residência do embaixador brasileiro, completou a performance, repetindo personagem clássico da comédia brasileira: Odorico Paraguaçu – prefeito da fictícia Sucupira, que fazia um de tudo para inaugurar sua maior obra de governo, um cemitério superfaturado.
Pra quem não conhece, Odorico Paraguaçu é personagem principal de peça teatral e depois de novela do dramaturgo Dias Gomes. Levada ao ar pela TV Globo, em 1973, a novela teve o sugestivo título de O Bem Amado.
Odorico, prefeito corrupto, demagogo e machista, era adorado por seus eleitores. O personagem vivia cercado de falsas beatas e de puxas-sacos. Marcou época e deixou pra história, além da caricatura do político esperto e safado, muitas expressões de um discurso que adverbiava quase tudo e abusava dos duplos sentidos. Tipo:Homem que é homem mata a cobra e mostra pau.
Tudo “perfeitamentemente” pronto para dar vigor ao vocabulário jairzístico, né não?
O mote da história de Dias Gomes é a busca de um defunto local pra inaugurar o cemitério. Pra desesperos e destemperos do prefeito, ninguém morre em Sucupira. Ao fim e depois de alopradas infinitas, Odorico, que definia adversários e jornalistas como “vagabundistas” e “cachassistas”, acaba assassinado por um de seus fieis seguidores. E, “finalmentemente”, seu corpo inaugura o cemitério.
Na Inglaterra, a primeira dama, Michele, dizem, vestiu-se inspirada em trajes de Jack Onassis, da atriz Audrey Hepburn e da princesa Kate Middleton – ícones de elegância e do bom gosto.
Jair, que tentava vaga de auxiliar de coveiro, foi de Odorico Paraguaçu. Desempenho perfeito.
PS: Jair e seu gado padecem de doença que a ciência chama de ressentimento social, né não?
Jair, o PR do Brasil, passa longe dessas definições. Talvez porque a palavra seja um substantivo fe-mi-ni-no – vocábulo definidor de um dos gêneros de seres humanos que provocam os instintos mais baixos do Jair.
Tem compostura quem sabe exercer austeridade, autocontrole, autodomínio. Quem sabe comportar-se adequadamente. Ou, no popular, atuar como manda o figurino. Coisas que passam infinitamente distante do Jair.
Coveiro é o profissional que abre e fecha covas em cemitérios. Jair já disse que não é um deles. Por isso mesmo, deixou claro: embora PR, como não é coveiro, nada tem a ver com os mais de 600 mil mortos da pandemia de Covid no Brasil.
Em sentido figurado, coveiro costuma indicar pessoa que estimula e/ou contribui para o fim de alguma coisa. O que cabe como luva no Jair. Em quase quatro anos como PR do Brasil, Jair detonou compostura, respeito a tal liturgia do cargo e mais um penca de coisas no país.
Daí, chefe de Estado que ainda é, cruzou o Atlântico para, como convidado, participar das homenagens póstumas à Rainha da Inglaterra – figura mais representativa da compostura e do respeito ao cargo.
Como o previsto, deu ruim. Jair lambuzou-se todo nas inconveniências. Principalmente, fez campanha política. No país enlutado, fez comício com claque barulhenta. Seu gado, enfurecido, aos costumes, avançou contra jornalistas. Destemidos, mugiram até contra os profissionais da BBC – tradicional e respeitada empresa britânica, pública, de comunicação. Aos berros, disseram aos donos da casa que “não eram bem vindos ali”.
Ribombando, mandaram outros ingleses “pra Venezuela”.
Compostura pura. Respeito máximo – à rainha e a seus súditos, na terra e no velório público da icônica monarca. Com essas deselegâncias todas, pretendiam imagens para bombar a campanha eleitoral, meio micada, do Jair.
Ou seja, no ambiente austero e fúnebre, Jair, armado com sua tropa, chegou-chegando. Primeiro, como definiu um comentarista da Globo News, no modelo boneco de posto, balançando-se alegremente ao vento. Depois, da sacada da residência do embaixador brasileiro, completou a performance, repetindo personagem clássico da comédia brasileira: Odorico Paraguaçu – prefeito da fictícia Sucupira, que fazia um de tudo para inaugurar sua maior obra de governo, um cemitério superfaturado.
Pra quem não conhece, Odorico Paraguaçu é personagem principal de peça teatral e depois de novela do dramaturgo Dias Gomes. Levada ao ar pela TV Globo, em 1973, a novela teve o sugestivo título de O Bem Amado.
Odorico, prefeito corrupto, demagogo e machista, era adorado por seus eleitores. O personagem vivia cercado de falsas beatas e de puxas-sacos. Marcou época e deixou pra história, além da caricatura do político esperto e safado, muitas expressões de um discurso que adverbiava quase tudo e abusava dos duplos sentidos. Tipo:Homem que é homem mata a cobra e mostra pau.
Vamos botar de lado os hora-veja e os pratrazmente e ir pros finalmente.Homem só chora quando come pimenta.Não sou de machismos, nem de reacionarismo. Meu negócio é o democratismo baiano.
Tudo “perfeitamentemente” pronto para dar vigor ao vocabulário jairzístico, né não?
O mote da história de Dias Gomes é a busca de um defunto local pra inaugurar o cemitério. Pra desesperos e destemperos do prefeito, ninguém morre em Sucupira. Ao fim e depois de alopradas infinitas, Odorico, que definia adversários e jornalistas como “vagabundistas” e “cachassistas”, acaba assassinado por um de seus fieis seguidores. E, “finalmentemente”, seu corpo inaugura o cemitério.
Na Inglaterra, a primeira dama, Michele, dizem, vestiu-se inspirada em trajes de Jack Onassis, da atriz Audrey Hepburn e da princesa Kate Middleton – ícones de elegância e do bom gosto.
Jair, que tentava vaga de auxiliar de coveiro, foi de Odorico Paraguaçu. Desempenho perfeito.
PS: Jair e seu gado padecem de doença que a ciência chama de ressentimento social, né não?
Matar em nome de um político é o grau zero na escala da inteligência
Sempre que leio notícias sobre um assassinato com motivações políticas, fico pensando na cabeça do homicida. Não na cabeça dele antes e durante o infame ato. Depois, só depois. Fechado na cela, longe da família, com a vida devidamente destruída, que pensará ele? “O político X mereceu esse meu grande sacrifício pela sua causa?” “Voltaria a fazer o mesmo, dessa vez com redobrado entusiasmo?”
É duvidoso: não estamos em Nuremberg, lidando com altas patentes do Terceiro Reich. Falamos de peixe miúdo, apanhado na rede do ódio que outros lançaram às águas pestilentas da política contemporânea.
Todos podemos matar, é certo. E alguns crimes, por mais condenáveis que sejam, podem ter as suas atenuantes. Como escreveu Albert Camus ao criticar a pena de morte, só a matança a sangue frio é uma degradação irredimível da nossa humanidade.
Mas matar em nome de um político oportunista que está pouco se lixando para o “grande sacrifício” que fazemos por ele é o grau zero na escala da inteligência humana. Podemos perder a vida por delicadeza, para citar o poeta; mas por estupidez?
Quando isso acontece, é impossível não lembrar Georgi Vladimov (1931-2003), esse esquecidíssimo autor ucraniano, nascido em Kharkiv, e que nunca teve o reconhecimento merecido. Nem em vida, nem depois da morte.
É pena. O seu “Faithful Ruslan”, ou "Fiel Ruslan", que li na tradução inglesa, é o mais devastador retrato que conheço sobre o crente político quando é abandonado pelo seu dono.
Estamos na União Soviética de Nikita Kruschev. Os crimes do camarada Stálin já foram denunciados no famoso discurso que Kruschev proferiu no 20º congresso do Partido Comunista. O país conhece uns ares de abertura e 8 milhões de prisioneiros do gulag são libertados.
É nesse ponto que encontramos Ruslan, um cachorro feroz que ajuda a guardar um dos campos siberianos. É através dos seus olhos crédulos, confusos, animalescos que toda a história é contada.
Certo dia, Ruslan acorda e encontra o campo silencioso e coberto de neve. Estranha aquela paz. Não há gritos, não há choros, não há disparos. O que aconteceu?
Sai do barracão e vê os portões abertos. Pensa o óbvio, os prisioneiros fugiram. É hora de os perseguir e despedaçar, sem misericórdia. As páginas em que Ruslan descreve esse processo — a adrenalina da caçada, o êxtase da violência — são de uma proeza literária que dificilmente se esquece.
Mas o seu dono, que é um dos guardas do campo, está estranhamente calmo, quase resignado, como se tudo aquilo fosse normal. Ruslan não entende a passividade.
Com a sua inteligência de cachorro fiel, ele é incapaz de perceber que o seu dono, em rigor, já não é dono de nada. E que ele, Ruslan, só por um vago sentimento de piedade não foi abatido no bosque, como aconteceu com todos os outros cachorros sem préstimo.
Escorraçado do campo prisional, Ruslan está condenado a uma vida de errância, como um vira-lata. O velho sistema que ele serviu já não existe. Mas ele recusa-se a aceitar a mudança, ou seja, a sua própria irrelevância no novo esquema das coisas. Ele ainda tem uma missão: encontrar os fugitivos, servir o dono, servir a causa. É essa obstinação que ditará o seu funesto destino.
Ler “Faithful Ruslan” vacina qualquer um contra os entusiasmos políticos. Porque o romance, obviamente proibido na União Soviética, não se limita a criticar a falsa abertura de Kruschev.
Para aquilo que me interessa, o livro oferece uma lição gélida aos seguidores caninos de qualquer líder oportunista —um cachorro é útil enquanto é útil. Quando seus latidos e sua ferocidade não são mais necessários, o que resta é uma vida de vira-lata.
Depois das próximas eleições no Brasil, milhões de Ruslans vão acordar sem dono. E alguns, os mais lúcidos, vão entender finalmente que o dono já virou a página, procurando uma outra vida, longe daqueles que tão fielmente o serviram.
Esses serão os casos felizes. Os casos infelizes estarão na prisão, fazendo o luto pelas famílias que destroçaram, e perguntando às sombras da madrugada: “Valeu a pena?”.
É duvidoso: não estamos em Nuremberg, lidando com altas patentes do Terceiro Reich. Falamos de peixe miúdo, apanhado na rede do ódio que outros lançaram às águas pestilentas da política contemporânea.
Todos podemos matar, é certo. E alguns crimes, por mais condenáveis que sejam, podem ter as suas atenuantes. Como escreveu Albert Camus ao criticar a pena de morte, só a matança a sangue frio é uma degradação irredimível da nossa humanidade.
Mas matar em nome de um político oportunista que está pouco se lixando para o “grande sacrifício” que fazemos por ele é o grau zero na escala da inteligência humana. Podemos perder a vida por delicadeza, para citar o poeta; mas por estupidez?
Quando isso acontece, é impossível não lembrar Georgi Vladimov (1931-2003), esse esquecidíssimo autor ucraniano, nascido em Kharkiv, e que nunca teve o reconhecimento merecido. Nem em vida, nem depois da morte.
É pena. O seu “Faithful Ruslan”, ou "Fiel Ruslan", que li na tradução inglesa, é o mais devastador retrato que conheço sobre o crente político quando é abandonado pelo seu dono.
Estamos na União Soviética de Nikita Kruschev. Os crimes do camarada Stálin já foram denunciados no famoso discurso que Kruschev proferiu no 20º congresso do Partido Comunista. O país conhece uns ares de abertura e 8 milhões de prisioneiros do gulag são libertados.
É nesse ponto que encontramos Ruslan, um cachorro feroz que ajuda a guardar um dos campos siberianos. É através dos seus olhos crédulos, confusos, animalescos que toda a história é contada.
Certo dia, Ruslan acorda e encontra o campo silencioso e coberto de neve. Estranha aquela paz. Não há gritos, não há choros, não há disparos. O que aconteceu?
Sai do barracão e vê os portões abertos. Pensa o óbvio, os prisioneiros fugiram. É hora de os perseguir e despedaçar, sem misericórdia. As páginas em que Ruslan descreve esse processo — a adrenalina da caçada, o êxtase da violência — são de uma proeza literária que dificilmente se esquece.
Mas o seu dono, que é um dos guardas do campo, está estranhamente calmo, quase resignado, como se tudo aquilo fosse normal. Ruslan não entende a passividade.
Com a sua inteligência de cachorro fiel, ele é incapaz de perceber que o seu dono, em rigor, já não é dono de nada. E que ele, Ruslan, só por um vago sentimento de piedade não foi abatido no bosque, como aconteceu com todos os outros cachorros sem préstimo.
Escorraçado do campo prisional, Ruslan está condenado a uma vida de errância, como um vira-lata. O velho sistema que ele serviu já não existe. Mas ele recusa-se a aceitar a mudança, ou seja, a sua própria irrelevância no novo esquema das coisas. Ele ainda tem uma missão: encontrar os fugitivos, servir o dono, servir a causa. É essa obstinação que ditará o seu funesto destino.
Ler “Faithful Ruslan” vacina qualquer um contra os entusiasmos políticos. Porque o romance, obviamente proibido na União Soviética, não se limita a criticar a falsa abertura de Kruschev.
Para aquilo que me interessa, o livro oferece uma lição gélida aos seguidores caninos de qualquer líder oportunista —um cachorro é útil enquanto é útil. Quando seus latidos e sua ferocidade não são mais necessários, o que resta é uma vida de vira-lata.
Depois das próximas eleições no Brasil, milhões de Ruslans vão acordar sem dono. E alguns, os mais lúcidos, vão entender finalmente que o dono já virou a página, procurando uma outra vida, longe daqueles que tão fielmente o serviram.
Esses serão os casos felizes. Os casos infelizes estarão na prisão, fazendo o luto pelas famílias que destroçaram, e perguntando às sombras da madrugada: “Valeu a pena?”.
O que leva eleitores a votar em Bolsonaro?
Há um fenômeno nesta campanha eleitoral: quando eleitores de Jair Bolsonaro são questionados sobre os motivos de sua escolha, geralmente não lhes ocorre nenhuma resposta plausível.
Ouvem-se com frequência frases como: "ele representa o povo" ou "ele é um patriota". Quando se pergunta o que de concreto Bolsonaro fez pelo povo, obtém-se, na maioria das vezes, o silêncio como resposta. São comuns respostas como: "ele construiu estradas e levou água para o Nordeste". Outros dizem que ele acabou com a corrupção – porém, quando se menciona o escândalo dos pastores no Ministério da Educação ou a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, às vezes admitem que talvez possa ter havido corrupção.
Alguns também admitem não saber o que Bolsonaro fez pelo Brasil, mas que isso não importa. Eles votariam em Bolsonaro de qualquer jeito, ele seria o "mito", aquele que representa o Brasil e que acredita em Deus.
Deus é uma resposta frequente para a pergunta sobre a motivação para votar no presidente. Durante um evento eleitoral no 7 de Setembro em Copacabana, um casal de Nova Iguaçu afirmou que Bolsonaro representa os valores cristãos que eles também defendem. Quais seriam esses valores? A primeira resposta é "a família": homem, mulher e filhos. A família, porém, não é um valor cristão. Valores cristãos são fé, amor, esperança, misericórdia, justiça, amor ao próximo. Família, ao contrário, é um ideal conservador que se vende como cristão.
De eleitores de Bolsonaro ouve-se também frequentemente que ele é o único que pode derrotar Lula – o ladrão que quase arruinou o Brasil. Não é um argumento para Bolsonaro, mas contra Lula. Como o esperado, há também muitas fake news, por exemplo, de que Lula quer instaurar o comunismo, fechar igrejas ou que a "ideologia de gênero" seja ensinada nas escolas.
Para resumir, não se ouvem respostas convincentes sobre as razões de votar em Bolsonaro. Com os outros candidatos é diferente. Quem vota no Lula muitas vezes cita motivos pessoais, por exemplo, a influência positiva de políticas sociais em sua própria vida ou o fato de que pela primeira vez alguém da família pôde ir para a universidade. Motivos políticos também são citados, como o desejo de mais direitos para trabalhadores informais. Quem vota no Ciro Gomes argumenta sobre a terceira via, que quer acabar com a polarização. Ciro representa uma política fiscal e econômica sensata e equilibrada. Quem defende Simone Tebet usa argumentos parecidos, mas espera uma política econômica mais liberal.
Pode-se, portanto, constatar que os eleitores de Bolsonaro tomam uma decisão mais emocional que racional. Muitos brasileiros se identificam com o que ele representa – como o anticomunismo, o machismo ou a loucura por armas. O agronegócio, que nunca cresceu tanto e recebeu créditos tão baratos como no governo Lula, gosta da hostilidade de Bolsonaro ao MST e aos indígenas.
Bolsonaro conseguiu uma façanha. Ele transmitiu à sua base a impressão de que as instituições, a imprensa e a elite intelectual não falam mais a verdade. E de que ele, ao contrário, se atreve a proferir a verdade – rude, mas autêntico e sem floreios. A imagem do agente simples e franco a serviço do Brasil, excluído do establishment, é com certeza um dos motivos para a popularidade de Bolsonaro. Mas não é um bom motivo.
Pois, com demasiada frequência, eleitores votam contra os próprios interesses. Os republicanos nos Estados Unidos mostraram como conquistar eleitores brancos e pobres dos estados sulistas, que antes votavam nos democratas, com temas que mexem com as emoções, como aborto e casamento gay. Esses eleitores deixaram, de repente, de votar no partido que prometia melhorar sua situação econômica e passaram a votar no partido antiaborto. Bolsonaro também obteve sucesso com uma manobra semelhante, especialmente entre os evangélicos, que muitas vezes pertencem às camadas mais pobres da população. Ele costurou seu sucesso com conceitos emocionais, como Deus, nação, família e liberdade. São as palavras que ele repete em todos os eventos de campanha – enquanto evita conteúdos políticos concretos, possivelmente porque estes não existem.
Assim como o trumpismo, o bolsonarismo é um movimento sustentado pelo sentimento de que algo não está certo, de que a sociedade perdeu as estribeiras. Sua inquietação se volta contra mudanças sexuais, a ascensão dos pobres, a educação "muito liberal" ou a suposta "ameaça socialista". Em 2018, Bolsonaro conseguiu unir esses ressentimentos quando o Brasil se encontrava numa crise profunda. Tempos de crise são bons momentos para extremistas, e Bolsonaro agarrou essa oportunidade.
Mas agora a receita não parece funcionar mais. Um chefe de Estado precisa oferecer mais do que palavras emocionais, mas vazias.
No final, é exatamente como Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, disse há alguns dias: "O bolsonarismo é uma farsa (...) que usa religião para enganar."
Ouvem-se com frequência frases como: "ele representa o povo" ou "ele é um patriota". Quando se pergunta o que de concreto Bolsonaro fez pelo povo, obtém-se, na maioria das vezes, o silêncio como resposta. São comuns respostas como: "ele construiu estradas e levou água para o Nordeste". Outros dizem que ele acabou com a corrupção – porém, quando se menciona o escândalo dos pastores no Ministério da Educação ou a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, às vezes admitem que talvez possa ter havido corrupção.
Alguns também admitem não saber o que Bolsonaro fez pelo Brasil, mas que isso não importa. Eles votariam em Bolsonaro de qualquer jeito, ele seria o "mito", aquele que representa o Brasil e que acredita em Deus.
Deus é uma resposta frequente para a pergunta sobre a motivação para votar no presidente. Durante um evento eleitoral no 7 de Setembro em Copacabana, um casal de Nova Iguaçu afirmou que Bolsonaro representa os valores cristãos que eles também defendem. Quais seriam esses valores? A primeira resposta é "a família": homem, mulher e filhos. A família, porém, não é um valor cristão. Valores cristãos são fé, amor, esperança, misericórdia, justiça, amor ao próximo. Família, ao contrário, é um ideal conservador que se vende como cristão.
De eleitores de Bolsonaro ouve-se também frequentemente que ele é o único que pode derrotar Lula – o ladrão que quase arruinou o Brasil. Não é um argumento para Bolsonaro, mas contra Lula. Como o esperado, há também muitas fake news, por exemplo, de que Lula quer instaurar o comunismo, fechar igrejas ou que a "ideologia de gênero" seja ensinada nas escolas.
Para resumir, não se ouvem respostas convincentes sobre as razões de votar em Bolsonaro. Com os outros candidatos é diferente. Quem vota no Lula muitas vezes cita motivos pessoais, por exemplo, a influência positiva de políticas sociais em sua própria vida ou o fato de que pela primeira vez alguém da família pôde ir para a universidade. Motivos políticos também são citados, como o desejo de mais direitos para trabalhadores informais. Quem vota no Ciro Gomes argumenta sobre a terceira via, que quer acabar com a polarização. Ciro representa uma política fiscal e econômica sensata e equilibrada. Quem defende Simone Tebet usa argumentos parecidos, mas espera uma política econômica mais liberal.
Pode-se, portanto, constatar que os eleitores de Bolsonaro tomam uma decisão mais emocional que racional. Muitos brasileiros se identificam com o que ele representa – como o anticomunismo, o machismo ou a loucura por armas. O agronegócio, que nunca cresceu tanto e recebeu créditos tão baratos como no governo Lula, gosta da hostilidade de Bolsonaro ao MST e aos indígenas.
Bolsonaro conseguiu uma façanha. Ele transmitiu à sua base a impressão de que as instituições, a imprensa e a elite intelectual não falam mais a verdade. E de que ele, ao contrário, se atreve a proferir a verdade – rude, mas autêntico e sem floreios. A imagem do agente simples e franco a serviço do Brasil, excluído do establishment, é com certeza um dos motivos para a popularidade de Bolsonaro. Mas não é um bom motivo.
Pois, com demasiada frequência, eleitores votam contra os próprios interesses. Os republicanos nos Estados Unidos mostraram como conquistar eleitores brancos e pobres dos estados sulistas, que antes votavam nos democratas, com temas que mexem com as emoções, como aborto e casamento gay. Esses eleitores deixaram, de repente, de votar no partido que prometia melhorar sua situação econômica e passaram a votar no partido antiaborto. Bolsonaro também obteve sucesso com uma manobra semelhante, especialmente entre os evangélicos, que muitas vezes pertencem às camadas mais pobres da população. Ele costurou seu sucesso com conceitos emocionais, como Deus, nação, família e liberdade. São as palavras que ele repete em todos os eventos de campanha – enquanto evita conteúdos políticos concretos, possivelmente porque estes não existem.
Assim como o trumpismo, o bolsonarismo é um movimento sustentado pelo sentimento de que algo não está certo, de que a sociedade perdeu as estribeiras. Sua inquietação se volta contra mudanças sexuais, a ascensão dos pobres, a educação "muito liberal" ou a suposta "ameaça socialista". Em 2018, Bolsonaro conseguiu unir esses ressentimentos quando o Brasil se encontrava numa crise profunda. Tempos de crise são bons momentos para extremistas, e Bolsonaro agarrou essa oportunidade.
Mas agora a receita não parece funcionar mais. Um chefe de Estado precisa oferecer mais do que palavras emocionais, mas vazias.
No final, é exatamente como Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, disse há alguns dias: "O bolsonarismo é uma farsa (...) que usa religião para enganar."
Assinar:
Comentários (Atom)