
domingo, 28 de maio de 2017
Caos nosso de cada dia
Numa carta endereçada a Robert Louis Stevenson, o escritor Henry James diz que gostaria que ela fosse um mingau de boas notícias. Infelizmente, não é possível preparar esse prato no Brasil, com notícias tão tristes que nem podemos homenagear e conhecer melhor as vítimas do atentado em Manchester, algo que aconteceu nos principais países do mundo.
Apesar das más notícias, é possível demonstrar que o Brasil está preparado para uma situação melhor se olhar para algumas decisões recentes. Por exemplo: as desordens que aconteceram em Brasília não aconteceram em Curitiba, quando Lula foi depor. E, se acontecessem, seriam rapidamente debeladas, tal o aparato policial e sua articulação com outros setores do governo.

É preciso evitar e combater a barbárie, aceita ainda por uma esquerda que flerta com a violência e não superou o viés autoritário das teorias do século passado. Uma esquerda que não sustenta dois minutos de discussão se for chamada a defender com ideias a destruição de prédios públicos e propriedades particulares, sobretudo os primeiros, que pertencem ao povo que ela supõe representar.
Curitiba foi diferente, dirão alguns. Além do mais, o que estava marcado em Brasília era apenas mais uma das inúmeras manifestações. Ficamos acostumados com manifestações dominicais pacíficas, feitas por gente que trabalha a semana inteira e derrubou o governo Dilma sem quebrar uma janela.
E nos acostumamos também com manifestações marcadas com antecedência de quase um mês, algo que já comentei aqui, reforçando a importância de analisar a conjuntura, sobretudo num país de mudanças tão rápidas.
Uma nova conjuntura foi aberta com a delação dos donos da Friboi. Ela atingiu Temer em cheio e criou uma situação insustentável para ele. O PT finge que não foi delatado também, que o partido não recebeu US$ 150 milhões para as contas das campanhas de Lula e Dilma. Daí sua fuga para a frente, firme na tentativa de fazer com que Lula escape da cadeia, vencendo as eleições presidenciais, se possível ainda neste ano.
Li que a inteligência do governo tinha captado os sinais de possível violência no movimento Ocupa Brasília, convocado no auge das contraditórias respostas de Temer às acusações que pesam contra ele. No entanto, esta antevisão não resultou num esquema mais complexo de prevenção, que poderia ser realizado pela relativamente bem paga polícia de Brasília?
Sempre se pode argumentar que o governo de Brasília é de oposição a Temer e iria ou confraternizar ou fazer vista grossa diante dos excessos dos manifestantes. Mas isso também poderia ser previsto por uma inteligência modesta e deveria ter sido levado em conta na organização do esquema preventivo, que poderia contar com a Força Nacional e a logística do Exército.
Além dos ministérios que simbolizam o governo, o prédio mais importante do Exército, o chamado Forte Apache, está em Brasília. As condições não eram idênticas às de Curitiba. Mas isso faz parte de uma inteligência modesta: adaptar experiências bem-sucedidas a realidades diferentes. A incapacidade de preparar um esquema preventivo praticamente deixa como alternativa o aumento da repressão. É precisamente isso que interessa à esquerda, atrair uma forte repressão, de preferência excessiva.
Isso faz com que a imprensa priorize os excessos da repressão e jogue para um segundo plano os atos de vandalismo que a motivaram. A esquerda não é inteligente, se você der a esse termo uma dimensão estratégica, mas é esperta. Se o governo responde com uma pobre informação e uma tática burra, os antidemocratas nadam de braçada.
Concordo que Temer deve deixar a Presidência. Mas discordo dos métodos e dos objetivos das pessoas que estão na rua para derrubá-lo. Elas querem apenas um escudo para seu líder escapar da polícia. Primeiro você arruína o país com uma irresponsável política populista. Em seguida, você começa a destruir prédios públicos com a esperança de voltar ao poder e prosseguir na rapina.
Isso não acontecerá pelo caminho do voto, em eleições limpas. Mas a fragilidade do governo e sua incapacidade de analisar o momento favorecem as tendências autoritárias e destrutivas da esquerda.
Não há razão para dizer que o Brasil não tem jeito e que a barbárie é um destino inescapável. Nem é preciso olhar para fora em busca de exemplos nos países avançados. Aqui dentro mesmo é possível encontrar as bases para uma política que defenda a civilização da barbárie. Milhões de pessoas nas manifestações dominicais provaram que é possível combater um governo corrupto e incapaz sem verter uma gota de sangue. Curitiba viveu serenamente um momento de tensão, a vida e os bens da cidade foram protegidos com competência.
São essas qualidades que farão a balança pesar a favor da democracia, isolando cada vez mais os setores que não se adaptam a ela. Mas, é claro, serão necessários alguma coisa que você possa chamar de governo e algum presidente que, pelo menos, esteja preocupado com o país e não com as investigações que rondam seu palácio.Fernando Gabeira
Apesar das más notícias, é possível demonstrar que o Brasil está preparado para uma situação melhor se olhar para algumas decisões recentes. Por exemplo: as desordens que aconteceram em Brasília não aconteceram em Curitiba, quando Lula foi depor. E, se acontecessem, seriam rapidamente debeladas, tal o aparato policial e sua articulação com outros setores do governo.

É preciso evitar e combater a barbárie, aceita ainda por uma esquerda que flerta com a violência e não superou o viés autoritário das teorias do século passado. Uma esquerda que não sustenta dois minutos de discussão se for chamada a defender com ideias a destruição de prédios públicos e propriedades particulares, sobretudo os primeiros, que pertencem ao povo que ela supõe representar.
Curitiba foi diferente, dirão alguns. Além do mais, o que estava marcado em Brasília era apenas mais uma das inúmeras manifestações. Ficamos acostumados com manifestações dominicais pacíficas, feitas por gente que trabalha a semana inteira e derrubou o governo Dilma sem quebrar uma janela.
E nos acostumamos também com manifestações marcadas com antecedência de quase um mês, algo que já comentei aqui, reforçando a importância de analisar a conjuntura, sobretudo num país de mudanças tão rápidas.
Uma nova conjuntura foi aberta com a delação dos donos da Friboi. Ela atingiu Temer em cheio e criou uma situação insustentável para ele. O PT finge que não foi delatado também, que o partido não recebeu US$ 150 milhões para as contas das campanhas de Lula e Dilma. Daí sua fuga para a frente, firme na tentativa de fazer com que Lula escape da cadeia, vencendo as eleições presidenciais, se possível ainda neste ano.
Li que a inteligência do governo tinha captado os sinais de possível violência no movimento Ocupa Brasília, convocado no auge das contraditórias respostas de Temer às acusações que pesam contra ele. No entanto, esta antevisão não resultou num esquema mais complexo de prevenção, que poderia ser realizado pela relativamente bem paga polícia de Brasília?
Sempre se pode argumentar que o governo de Brasília é de oposição a Temer e iria ou confraternizar ou fazer vista grossa diante dos excessos dos manifestantes. Mas isso também poderia ser previsto por uma inteligência modesta e deveria ter sido levado em conta na organização do esquema preventivo, que poderia contar com a Força Nacional e a logística do Exército.
Além dos ministérios que simbolizam o governo, o prédio mais importante do Exército, o chamado Forte Apache, está em Brasília. As condições não eram idênticas às de Curitiba. Mas isso faz parte de uma inteligência modesta: adaptar experiências bem-sucedidas a realidades diferentes. A incapacidade de preparar um esquema preventivo praticamente deixa como alternativa o aumento da repressão. É precisamente isso que interessa à esquerda, atrair uma forte repressão, de preferência excessiva.
Isso faz com que a imprensa priorize os excessos da repressão e jogue para um segundo plano os atos de vandalismo que a motivaram. A esquerda não é inteligente, se você der a esse termo uma dimensão estratégica, mas é esperta. Se o governo responde com uma pobre informação e uma tática burra, os antidemocratas nadam de braçada.
Concordo que Temer deve deixar a Presidência. Mas discordo dos métodos e dos objetivos das pessoas que estão na rua para derrubá-lo. Elas querem apenas um escudo para seu líder escapar da polícia. Primeiro você arruína o país com uma irresponsável política populista. Em seguida, você começa a destruir prédios públicos com a esperança de voltar ao poder e prosseguir na rapina.
Isso não acontecerá pelo caminho do voto, em eleições limpas. Mas a fragilidade do governo e sua incapacidade de analisar o momento favorecem as tendências autoritárias e destrutivas da esquerda.
Não há razão para dizer que o Brasil não tem jeito e que a barbárie é um destino inescapável. Nem é preciso olhar para fora em busca de exemplos nos países avançados. Aqui dentro mesmo é possível encontrar as bases para uma política que defenda a civilização da barbárie. Milhões de pessoas nas manifestações dominicais provaram que é possível combater um governo corrupto e incapaz sem verter uma gota de sangue. Curitiba viveu serenamente um momento de tensão, a vida e os bens da cidade foram protegidos com competência.
São essas qualidades que farão a balança pesar a favor da democracia, isolando cada vez mais os setores que não se adaptam a ela. Mas, é claro, serão necessários alguma coisa que você possa chamar de governo e algum presidente que, pelo menos, esteja preocupado com o país e não com as investigações que rondam seu palácio.Fernando Gabeira
O que você pode fazer
O Brasil sabe o que não quer e por isso se tem negado às “ruas” falsificadas antes e depois do escandalo dos ésleys.
Mas não sabe o que querer, e não o sabe porque estamos todos presos a uma visão imediatista, ao pensamento mágico, à expectativa de uma unica e definitiva “solução” pra tudo.
Não acreditamos na recusa das soluções definitivas que é o verdadeiro sentido de “democracia” que não é um lugar de destino, é só um manual de normas de navegação.
IGUALDADE!
REFERENDO!
RECALL!
Igualdade perante a lei para limpar a constituição e balizar os limites da trajetória futura.
Referendo porque não ha saida fora do sistema representativo mas quem tem de ter a ultima palavra sobre as decisões que afetam sua vida é o representado.
Recall porque os limites para os representantes têm de ser simplesmente executaveis e pelos próprios interessados. Não dá pra delegar.
Essa trinca põe todo mundo jogando o mesmo jogo. O resto vai acontecendo por ensaio e erro, por correções sucessivas de rumo.
Pegue essas tres palavras e espalhe.
Se encher a Paulista e metade dela estiver carregando o mesmo cartaz, acontece!
Um exemplo para o mundo
Nessa crise política, estamos assistindo ao fim dos heróis. Corretas ou não, a velocidade e a quantidade de informações que recebemos diariamente através dos jornais, da televisão e, sobretudo da internet, nos faz senhores do conhecimento e, portanto, senhores de nós mesmos, desnecessitados de representação.
Nos livramos dos heróis, não precisamos mais deles. Mas tampouco percebemos como nos tornamos comandados, orientados pelo que nos dizem aquelas mídias, a transformar em pensamento próprio aquilo que elas nos revelam, como se nós mesmos tivéssemos criado todas aquelas noticias, ideias e conclusões, tudo aquilo. Nos tornamos um oráculo de nós mesmos a repetir, sem perceber, o que as redes sociais nos enfiam na cabeça.
Não sei se um dia conseguiremos pensar por conta própria, sem um ou mais desses poderes a nos conduzir por aí. Mas pelo menos já não precisamos mais de heróis, os seres onipotentes que não nos deixam pensar.
Se os heróis estão no fim, os bandidos ainda proliferam. Não temos mais apenas o líder do partido adversário a temer. O inimigo nem sempre é aquele que conhecemos e sabemos não estar de acordo conosco, mas o ser maligno de cuja maldade nem desconfiávamos. O bandido pode ser aquele cara simplório, capaz de devolver a propina ao juiz faltando R$ 35 mil que, pressionado, acaba por entregar na maior cara de pau.

Mesmo apanhados em flagrante e condenados, os bandidos amam, por exemplo, discutir como é injusto o valor de suas multas. Joesley Batista embarcou seu iate bilionário para Nova York, onde a família se instalou na Quinta Avenida. Mas acha que ele e seu irmão estão sendo explorados, com a multa de R$ 225 milhões para cada um, paga ao longo do tempo. Os irmãos Batista faturaram R$ 170 bilhões em 2016, mas acham um exagero e se negam a pagar os R$ 11 bilhões cobrados pelo acordo de leniência. A esperta dupla sertaneja da JBS havia comprado, por confissão deles mesmos, 1.829 homens públicos, entre membros de instituições, políticos e demais autoridades. Mas acham que, em contrapartida, já prestaram serviço demais à Justiça com aquela gravação no Jaburu.
Eles querem pagar multas menores. Mas que tamanho de multa pode compensar o fim (duvidoso) de nosso prazer em sermos brasileiros? A destruição (temporária) de nossos sonhos de construir um país menos escroto, menos desigual, com tanta gente dormindo nas ruas e assassinada nos campos? Um país livre do estigma secular da escravidão, que ainda persegue nossos pretos, pardos e pobres?
Outro dia, li Rodrigo Janot dizendo: “O país se cansou do engodo, da hipocrisia, dos voos de galinha da economia (...), de seguir para logo retroceder”.
Gostei dessa frase porque ela afirma que não estamos desistindo. Pelo contrário, estamos enfrentando aquilo que não gostamos de ser e não queremos ser. Reafirma aquilo pelo que estamos lutando, mesmo que meio tontos, na esperança das tais manhãs que cantam. No mundo inteiro, depois do choque inicial, já começa a se espalhar a desconfiança de que o Brasil está fazendo o que tantos países, como os próprios Estados Unidos, gostariam de fazer. Uma batalha radical contra a corrupção pública e pela criação de uma alternativa, um novo regime de reformas e representação que seja capaz de impedi-la. Até o popular programa americano “60 minutes”, da CBS, fez referência a isso recentemente.
No meio dessa podridão toda, estamos prestando um serviço pioneiro à humanidade, além de a nós mesmos. Estamos dando um exemplo de que como é possível desejar reconstruir um país a fundo, preservando a democracia.
Cacá Diegues
Nos livramos dos heróis, não precisamos mais deles. Mas tampouco percebemos como nos tornamos comandados, orientados pelo que nos dizem aquelas mídias, a transformar em pensamento próprio aquilo que elas nos revelam, como se nós mesmos tivéssemos criado todas aquelas noticias, ideias e conclusões, tudo aquilo. Nos tornamos um oráculo de nós mesmos a repetir, sem perceber, o que as redes sociais nos enfiam na cabeça.
Não sei se um dia conseguiremos pensar por conta própria, sem um ou mais desses poderes a nos conduzir por aí. Mas pelo menos já não precisamos mais de heróis, os seres onipotentes que não nos deixam pensar.
Se os heróis estão no fim, os bandidos ainda proliferam. Não temos mais apenas o líder do partido adversário a temer. O inimigo nem sempre é aquele que conhecemos e sabemos não estar de acordo conosco, mas o ser maligno de cuja maldade nem desconfiávamos. O bandido pode ser aquele cara simplório, capaz de devolver a propina ao juiz faltando R$ 35 mil que, pressionado, acaba por entregar na maior cara de pau.
Eles querem pagar multas menores. Mas que tamanho de multa pode compensar o fim (duvidoso) de nosso prazer em sermos brasileiros? A destruição (temporária) de nossos sonhos de construir um país menos escroto, menos desigual, com tanta gente dormindo nas ruas e assassinada nos campos? Um país livre do estigma secular da escravidão, que ainda persegue nossos pretos, pardos e pobres?
Outro dia, li Rodrigo Janot dizendo: “O país se cansou do engodo, da hipocrisia, dos voos de galinha da economia (...), de seguir para logo retroceder”.
Gostei dessa frase porque ela afirma que não estamos desistindo. Pelo contrário, estamos enfrentando aquilo que não gostamos de ser e não queremos ser. Reafirma aquilo pelo que estamos lutando, mesmo que meio tontos, na esperança das tais manhãs que cantam. No mundo inteiro, depois do choque inicial, já começa a se espalhar a desconfiança de que o Brasil está fazendo o que tantos países, como os próprios Estados Unidos, gostariam de fazer. Uma batalha radical contra a corrupção pública e pela criação de uma alternativa, um novo regime de reformas e representação que seja capaz de impedi-la. Até o popular programa americano “60 minutes”, da CBS, fez referência a isso recentemente.
No meio dessa podridão toda, estamos prestando um serviço pioneiro à humanidade, além de a nós mesmos. Estamos dando um exemplo de que como é possível desejar reconstruir um país a fundo, preservando a democracia.
Cacá Diegues
O que une Saddam Hussein e Trump: a política da arquitetura
Os membros do Parlamento britânico em breve se mudarão da famosa Câmara dos Comuns. Depois de ter sofrido durante anos o efeito dos excrementos filosóficos ali vertidos, o edifício se deteriorou e precisa de reparos urgentes. Os parlamentares ocuparão temporariamente um novo prédio e a dúvida é se isso melhorará a qualidade de seus discursos.
Desde 1840 esses representantes se reúnem em uma construção que é uma fantasia medieval retrô-kitsch projetada por A.W. N. Pugin, um louco sifilítico. Um lugar cheio de adornos, pináculos, tapetes, pintura dourada, pisos de aglomerados de pedras e vitrais. Sem falar nos intrincados elementos psicossexuais vitorianos das pinturas que decoram as paredes. As práticas políticas mudariam se suas senhorias debatessem em um edifício moderno e cheio de transparência, lógica e luz? Foi Churchill quem disse que damos forma aos edifícios e estes, depois, nos dão formas. Em nenhum outro lugar isso é tão verdadeiro como aqueles onde os políticos desempenham suas funções.
É evidente que a arquitetura dos edifícios governamentais influi no estado de ânimo dos políticos que os ocupam. É difícil, por exemplo, imaginar sinistros pactos encobertos em um parlamento luminoso e cheio de luz, inspirado em, vejamos, a berlinense Neue Nationalgalerie, de Mies van der Rohe. Mas a conexão entre as edificações e a política é ainda mais profunda.
A partir do momento em que aspira a aperfeiçoar o comportamento das pessoas através da melhoria de suas condições de vida, a arquitetura é política. Le Corbusier escolheu seu próprio nome porque era o equivalente arquitetônico de um antigo nome de guerra, transformando-se em um artista beligerante que proclamava gritos de guerra como: “Arquitetura ou revolução! A revolução pode ser evitada”. Uma peroração inflamada de ambiguidade intencional. O criador se referia a que, em um entorno mais bem projetado, as pessoas não se sentiriam tentadas a se sublevar. Mas também queria dizer que a arquitetura é a mais inevitável e, portanto, a mais política das artes.
Os ditadores sempre entenderam o poder dos edifícios. Em Art Under a Dictatorship (1957), um estudo clássico sobre o tema, Hellmut E. Lehmann-Haupt mostra que soviéticos e nazistas tinham gostos semelhantes e ambos gostavam do mesmo musculoso neoclassicismo amplificado em escala monumental. O hotel Moskva, de Moscou, de Alexey Shchusev, e o estádio de Nuremberg, de Albert Speer, são claros exemplos de seus grandiloquentes excessos. Mais atípico do período ditatorial era o monumento à Terceira Internacional, de Vladimir Tatlin, uma nobre estrutura que, claro, nunca chegou a ser construída.
Fora da Europa, os ditadores tendem mais para o brilhante, o dourado e o barroco. Saddam Hussein é a referência, e é impressionante o quanto o gosto do iraquiano se parece com o de Donald Trump. Em sua primeira entrevista televisionada como presidente eleito, Trump apareceu com ares imperiais sentado em um trono dourado estilo Luiz XV, rodeado, no teto e paredes, por pinturas alegóricas de temas clássicos. Uma cena absurda, levando-se em conta que transcorria em um prédio construído nos anos oitenta, cercado de vidros espelhados e com 200 metros de altura na Quinta Avenida.
Nos Estados Unidos os arrivistas tendem a pensar que essa classe de versões superbrilhantes de Versalhes lhes dá legitimidade. E o mesmo ocorre com os novos ricos, que raramente optam pela sutileza. Mas tudo isso pode ser dito também do novo presidente. Trump, empreendedor do ramo imobiliário em sua origem (embora agora nossa tendência seja esquecer disso), tem seu trono afrancesado no alto de uma torre que leva seu nome, um ícone de Manhattan, de 1983, com a qual se promovia como árbitro do gosto do momento. Em seu cérebro pré-intelectual, as superfícies brilhantes e os materiais preciosos têm um valor especial. Não é de estranhar, por isso, que a Torre Trump esteja ao lado da Tiffany. Como se pretendesse se apropriar de algo
O arquiteto escolhido pelo magnata se fazia chamar Der Scutt, um seguidor do Movimento Moderno. Era medianamente cultivado, mas também acostumado a mimar os egos dos empreendedores. Se acreditássemos no determinismo, haveríamos de convir que um homem como Der Scutt é indício de problemas: soa como um vilão de um filme de espadachins de baixo orçamento. Mas ocorre que, na realidade, também se chamava Donald, Donald Clark Scutt. Isto prova que, no universo que cerca o magnata, ocultar o verdadeiro nome no momento certo é mais importante que algo tão insignificante como essa cantilena acadêmica de ser fiel aos materiais.
Para Trump, os edifícios são painéis publicitários. Do mesmo modo que o imperador Augusto fez com que Roma passasse do tijolo ao mármore, Scutt introduziu um reluzente vidro cor bronze em uma zona de Manhattan onde até então a moda era a pedra calcária, dignamente silenciosa. Para extrair o mármore rosa empregado no vestíbulo fez com que lhe trouxessem uma montanha inteira de Carrara. “Gosto das coisas novas e brilhantes”, afirmou então o futuro presidente. As coisas novas e brilhantes comunicavam sua riqueza.
A Trump Tower se encontra onde antes estiveram as grandes lojas de departamentos Bonwit Teller. As esculturas art déco extraídas durante a demolição iriam ser doadas ao Met, mas quando viu que o custo da remoção para aproveitamento era alto demais, Trump descumpriu o trato.
Mais tarde, em 1985, prosseguindo com seu habitual ataque contra o decoro, Trump gastou 10 milhões de dólares (33 milhões de reais, em valores de hoje) em Mar-a-Lago, uma fazenda-hamburgueria de Palm Beach com mais de 100 quartos, construída em 1927 pela milionária Marjorie Merriweather Post como refúgio invernal para o presidente dos EUA. Os convidados à festa de inauguração receberam um comunicado gravado com letras de ouro. Como se a vulgaridade não lhe bastasse, Trump tem o costume de exagerar a altura de seus edifícios. A torre Trump World, por exemplo, mede 257 metros e tem 70 andares. Ele insiste em que mede 274 metros e tem 90 andares.
Esqueçam o que eu disse sobre a publicidade. Para Trump, os edifícios são propaganda. Os arquitetos e designers ilustres, porém, sempre aspiram à verdade e à moralidade. Paul Rand acreditava que “a motivação primordial do projetista é a arte: arte a serviço da empresa, arte que melhora a qualidade de vida e torna mais profundo o apreço à esfera familiar”.
Uma nobreza que agora se mostra isolada e antiquada. Aí está Philip Johnson, que costumava se vangloriar de como se prostituía e de como era fácil copiar seu professor, Mies van der Rohe. Ou Zaha Hadid, que a propósito das centenas de mortes de operários reportadas durante a construção do estádio Al-Wakra, do Catar, declarou: “Como arquiteta meu dever não consiste em prestar atenção a isso. Nada posso fazer a respeito”. O cinismo e a negligência também podem ser políticos.
Que esperança há no mundo quando os arquitetos célebres tentam comprazer os oligarcas e o homem mais poderoso do mundo é um filisteu vaidoso, ignorante e incompetente que acredita que o motivo pelo qual os Estados Unidos preferem os carros BMW aos Chevrolet tem algo a ver com as baixas tarifas pagas pelos veículos alemães enviados para esse país? Não é isso, senhor Presidente, é porque os cidadãos norte-americanos cultos estão cientes de que um veículo BMW é tecnológica e artisticamente muito superior a um Chevrolet.
Mas acho que certamente é possível projetar uma saída para esse desastre todo. A esperança, às vezes, surge nos lugares mais insuspeitos. Apesar do que diz o presidente Trump, nem todos os mexicanos são estupradores e ladrões. Alguns deles são arquitetos geniais. O Estúdio 3.4 da Cidade do México projetou um muro fronteiriço heroico, de um rosa transgressor, no estilo do grande arquiteto de Guadalajara Luis Barragán. Se chegar a se estender de Tijuana até Matamoros, será uma boa maneira de evitar que os gringos entrem. A arquitetura, diz o muro, é política.
Desde 1840 esses representantes se reúnem em uma construção que é uma fantasia medieval retrô-kitsch projetada por A.W. N. Pugin, um louco sifilítico. Um lugar cheio de adornos, pináculos, tapetes, pintura dourada, pisos de aglomerados de pedras e vitrais. Sem falar nos intrincados elementos psicossexuais vitorianos das pinturas que decoram as paredes. As práticas políticas mudariam se suas senhorias debatessem em um edifício moderno e cheio de transparência, lógica e luz? Foi Churchill quem disse que damos forma aos edifícios e estes, depois, nos dão formas. Em nenhum outro lugar isso é tão verdadeiro como aqueles onde os políticos desempenham suas funções.
 |
| Tribunal de Contas da União em Brasília |
Em Londres, a densidade decorativa do Parlamento exige que os honoráveis comuns se adaptem à sua seriedade reflexiva. O Senado italiano se reúne no Palazzo Madama, de Roma, um prédio em estilo do Alto Renascentismo construído pelos Medici. Talvez por isso esses senadores sejam refinados e tenham estilo. Na França, os fantásticos conceitos neoclássicos de Boullée e Ledoux sugerem que, em uma cidade ideal, o desenho arquitetônico nobre e racional poderia inspirar os políticos (não se esqueçam de que a própria ideia de esquerda e direita política provém da distribuição das cadeiras na Assembleia Nacional de Paris).
É evidente que a arquitetura dos edifícios governamentais influi no estado de ânimo dos políticos que os ocupam. É difícil, por exemplo, imaginar sinistros pactos encobertos em um parlamento luminoso e cheio de luz, inspirado em, vejamos, a berlinense Neue Nationalgalerie, de Mies van der Rohe. Mas a conexão entre as edificações e a política é ainda mais profunda.
A partir do momento em que aspira a aperfeiçoar o comportamento das pessoas através da melhoria de suas condições de vida, a arquitetura é política. Le Corbusier escolheu seu próprio nome porque era o equivalente arquitetônico de um antigo nome de guerra, transformando-se em um artista beligerante que proclamava gritos de guerra como: “Arquitetura ou revolução! A revolução pode ser evitada”. Uma peroração inflamada de ambiguidade intencional. O criador se referia a que, em um entorno mais bem projetado, as pessoas não se sentiriam tentadas a se sublevar. Mas também queria dizer que a arquitetura é a mais inevitável e, portanto, a mais política das artes.
 |
| Palácio do TSE |
Fora da Europa, os ditadores tendem mais para o brilhante, o dourado e o barroco. Saddam Hussein é a referência, e é impressionante o quanto o gosto do iraquiano se parece com o de Donald Trump. Em sua primeira entrevista televisionada como presidente eleito, Trump apareceu com ares imperiais sentado em um trono dourado estilo Luiz XV, rodeado, no teto e paredes, por pinturas alegóricas de temas clássicos. Uma cena absurda, levando-se em conta que transcorria em um prédio construído nos anos oitenta, cercado de vidros espelhados e com 200 metros de altura na Quinta Avenida.
Nos Estados Unidos os arrivistas tendem a pensar que essa classe de versões superbrilhantes de Versalhes lhes dá legitimidade. E o mesmo ocorre com os novos ricos, que raramente optam pela sutileza. Mas tudo isso pode ser dito também do novo presidente. Trump, empreendedor do ramo imobiliário em sua origem (embora agora nossa tendência seja esquecer disso), tem seu trono afrancesado no alto de uma torre que leva seu nome, um ícone de Manhattan, de 1983, com a qual se promovia como árbitro do gosto do momento. Em seu cérebro pré-intelectual, as superfícies brilhantes e os materiais preciosos têm um valor especial. Não é de estranhar, por isso, que a Torre Trump esteja ao lado da Tiffany. Como se pretendesse se apropriar de algo
O arquiteto escolhido pelo magnata se fazia chamar Der Scutt, um seguidor do Movimento Moderno. Era medianamente cultivado, mas também acostumado a mimar os egos dos empreendedores. Se acreditássemos no determinismo, haveríamos de convir que um homem como Der Scutt é indício de problemas: soa como um vilão de um filme de espadachins de baixo orçamento. Mas ocorre que, na realidade, também se chamava Donald, Donald Clark Scutt. Isto prova que, no universo que cerca o magnata, ocultar o verdadeiro nome no momento certo é mais importante que algo tão insignificante como essa cantilena acadêmica de ser fiel aos materiais.
Para Trump, os edifícios são painéis publicitários. Do mesmo modo que o imperador Augusto fez com que Roma passasse do tijolo ao mármore, Scutt introduziu um reluzente vidro cor bronze em uma zona de Manhattan onde até então a moda era a pedra calcária, dignamente silenciosa. Para extrair o mármore rosa empregado no vestíbulo fez com que lhe trouxessem uma montanha inteira de Carrara. “Gosto das coisas novas e brilhantes”, afirmou então o futuro presidente. As coisas novas e brilhantes comunicavam sua riqueza.
| Banco Central, em Brasília |
Mais tarde, em 1985, prosseguindo com seu habitual ataque contra o decoro, Trump gastou 10 milhões de dólares (33 milhões de reais, em valores de hoje) em Mar-a-Lago, uma fazenda-hamburgueria de Palm Beach com mais de 100 quartos, construída em 1927 pela milionária Marjorie Merriweather Post como refúgio invernal para o presidente dos EUA. Os convidados à festa de inauguração receberam um comunicado gravado com letras de ouro. Como se a vulgaridade não lhe bastasse, Trump tem o costume de exagerar a altura de seus edifícios. A torre Trump World, por exemplo, mede 257 metros e tem 70 andares. Ele insiste em que mede 274 metros e tem 90 andares.
Esqueçam o que eu disse sobre a publicidade. Para Trump, os edifícios são propaganda. Os arquitetos e designers ilustres, porém, sempre aspiram à verdade e à moralidade. Paul Rand acreditava que “a motivação primordial do projetista é a arte: arte a serviço da empresa, arte que melhora a qualidade de vida e torna mais profundo o apreço à esfera familiar”.
Uma nobreza que agora se mostra isolada e antiquada. Aí está Philip Johnson, que costumava se vangloriar de como se prostituía e de como era fácil copiar seu professor, Mies van der Rohe. Ou Zaha Hadid, que a propósito das centenas de mortes de operários reportadas durante a construção do estádio Al-Wakra, do Catar, declarou: “Como arquiteta meu dever não consiste em prestar atenção a isso. Nada posso fazer a respeito”. O cinismo e a negligência também podem ser políticos.
Que esperança há no mundo quando os arquitetos célebres tentam comprazer os oligarcas e o homem mais poderoso do mundo é um filisteu vaidoso, ignorante e incompetente que acredita que o motivo pelo qual os Estados Unidos preferem os carros BMW aos Chevrolet tem algo a ver com as baixas tarifas pagas pelos veículos alemães enviados para esse país? Não é isso, senhor Presidente, é porque os cidadãos norte-americanos cultos estão cientes de que um veículo BMW é tecnológica e artisticamente muito superior a um Chevrolet.
Mas acho que certamente é possível projetar uma saída para esse desastre todo. A esperança, às vezes, surge nos lugares mais insuspeitos. Apesar do que diz o presidente Trump, nem todos os mexicanos são estupradores e ladrões. Alguns deles são arquitetos geniais. O Estúdio 3.4 da Cidade do México projetou um muro fronteiriço heroico, de um rosa transgressor, no estilo do grande arquiteto de Guadalajara Luis Barragán. Se chegar a se estender de Tijuana até Matamoros, será uma boa maneira de evitar que os gringos entrem. A arquitetura, diz o muro, é política.
A inércia do Brasil na podridão
Não há liderança partidária relevante que se arrisque a abandonar um sistema político que se chama de podre. Por outro lado, não há movimento ou organização social que se apresente como partido alternativo.
Quem está dentro não quer sair ou não tem força ou imaginação para se reagrupar em um partido reconectado a um interesse social qualquer de renovação. Quem está fora não quer entrar, não sabe como ou não tem força para fazê-lo.
É uma descrição estilizada do colapso da representatividade dos partidos gangrenados, exagerada por definição.

Sendo menos abstrato e extremista, há exemplos de saídas desse beco? Não se trata de apontar modelos, mas o descrédito dos partidos maiores, entre outras crises, propiciou tentativas de mudança na Espanha e na França.
Uma coalizão variada de organizações sociais, coletivos e coisas parecidas a micropartidos constituiu o Podemos (um caso do "quem está fora quer entrar"), que logo se tornou a terceira força política da Espanha.
Um dissidente do moribundo Partido Socialista da França aglutinou integrantes insatisfeitos do establishment e os conectou a eleitorados e movimentos de classes médias desencantadas (um caso de "quem está dentro quer sair").
Oportunista no mau ou no bom sentido, ainda vai se ver, esse dissidente, Emmanuel Macron, elegeu-se presidente e planeja refundar um partido de centro com conexões sociais e ideias mais vivas.
Dizer que a comparação europeia é inútil porque a sociedade no Brasil é amorfa não seria uma resposta, mas apenas uma questão (além de ser um erro antigo).
O nosso assunto, enfim, é o que fazer e o que não tem sido feito da dissociação crescente, quase terminal, entre sistema político e eleitorado, escancarada em 2013 e cada vez mais descarada desde então.
Não se apresentam dissidências de lideranças partidárias significativas nem para reagrupamentos simplórios, tal como uma alternativa limpinha à comunhão de delinquentes ou desclassificados que domina a política.
Por sua vez, movimentos sociais ainda mais ativos, embora minoritários, têm esperanças de poder por meio de "partidos que estão aí" (tanto na esquerda petista como na nova direita, que embarca na podridão que criticava "nas ruas" até ontem).
Parte da inércia se explica pelo óbvio cálculo de sobrevivência, pelo temor de ficar no sereno sem máquina eleitoral ou cargo estatal, "business as usual".
Além do mais, o conluio amplo e histórico que alimentou esse sistema político e suas pestes e vírus não morreu. Talvez ainda pareça viável a aliança entre fidalgos políticos, estamento empresarial e corporações que floresce faz quase 70 anos por meio da corrupção do essencial das regras do jogo da competição política e econômica.
Mesmo cientistas políticos se alarmam, por prudência quase conservadora, com a "destruição dos partidos" pelo sentimento antipolítico ou pela Lava Jato etc. Ao se omitirem na sugestão de alternativas, arriscam-se a ficar ao lado de defensores de acordões que salvem políticos menos enrolados, por exemplo.
Há inércia, em suma. Como é difícil acreditar que a sociedade revoltada esteja delegando a mudança política a um sistema que chama de podre, parece que se está à espera de um salvador.
Quem está dentro não quer sair ou não tem força ou imaginação para se reagrupar em um partido reconectado a um interesse social qualquer de renovação. Quem está fora não quer entrar, não sabe como ou não tem força para fazê-lo.
É uma descrição estilizada do colapso da representatividade dos partidos gangrenados, exagerada por definição.

Uma coalizão variada de organizações sociais, coletivos e coisas parecidas a micropartidos constituiu o Podemos (um caso do "quem está fora quer entrar"), que logo se tornou a terceira força política da Espanha.
Um dissidente do moribundo Partido Socialista da França aglutinou integrantes insatisfeitos do establishment e os conectou a eleitorados e movimentos de classes médias desencantadas (um caso de "quem está dentro quer sair").
Oportunista no mau ou no bom sentido, ainda vai se ver, esse dissidente, Emmanuel Macron, elegeu-se presidente e planeja refundar um partido de centro com conexões sociais e ideias mais vivas.
Dizer que a comparação europeia é inútil porque a sociedade no Brasil é amorfa não seria uma resposta, mas apenas uma questão (além de ser um erro antigo).
O nosso assunto, enfim, é o que fazer e o que não tem sido feito da dissociação crescente, quase terminal, entre sistema político e eleitorado, escancarada em 2013 e cada vez mais descarada desde então.
Não se apresentam dissidências de lideranças partidárias significativas nem para reagrupamentos simplórios, tal como uma alternativa limpinha à comunhão de delinquentes ou desclassificados que domina a política.
Por sua vez, movimentos sociais ainda mais ativos, embora minoritários, têm esperanças de poder por meio de "partidos que estão aí" (tanto na esquerda petista como na nova direita, que embarca na podridão que criticava "nas ruas" até ontem).
Parte da inércia se explica pelo óbvio cálculo de sobrevivência, pelo temor de ficar no sereno sem máquina eleitoral ou cargo estatal, "business as usual".
Além do mais, o conluio amplo e histórico que alimentou esse sistema político e suas pestes e vírus não morreu. Talvez ainda pareça viável a aliança entre fidalgos políticos, estamento empresarial e corporações que floresce faz quase 70 anos por meio da corrupção do essencial das regras do jogo da competição política e econômica.
Mesmo cientistas políticos se alarmam, por prudência quase conservadora, com a "destruição dos partidos" pelo sentimento antipolítico ou pela Lava Jato etc. Ao se omitirem na sugestão de alternativas, arriscam-se a ficar ao lado de defensores de acordões que salvem políticos menos enrolados, por exemplo.
Há inércia, em suma. Como é difícil acreditar que a sociedade revoltada esteja delegando a mudança política a um sistema que chama de podre, parece que se está à espera de um salvador.
Um país inviável
O presidente Michel Temer, no fim das contas, não conseguiu atravessar nem mesmo a miserável pinguela que tinha pela frente para usar a faixa presidencial até o último dia oficial de seu mandato. Era o seu sonho, ou seu único objetivo real ─ cumprir o curtíssimo prazo que a lei lhe deu para despachar no Palácio do Planalto. Chegou até mesmo a montar um bom ministério, e não só na área econômica. Estava começando, enfim, a anotar bons resultados. Mas não deu, e nem poderia dar. Temer assumiu a Presidência da República em situação de D.O.A., como dizem os relatórios hospitalares e policiais nos Estados Unidos ─ dead on arrival, ou morto na chegada. Chegou morto porque só sabe fazer política, agir e pensar para um Brasil em processo de extinção, onde presidentes da República recebem em palácio indivíduos à beira do xadrez, discutem com eles coisas que jamais deveriam ouvir e não chamam a polícia para levar ninguém preso. Desde a semana passada, com uma colossal denúncia criminal nas costas de Michel Temer, as datas oficiais da sua certidão de óbito como presidente deixaram de fazer diferença. Seu governo não existe mais. A atual oposição (até ontem governo) do PT-esquerda não existe mais; eles estão rindo, mas riem no próprio velório. Os políticos, como classe, não existem mais. Querem viver de um jeito inviável e manter de pé um país inviável. Acabaram por tornar-se incompreensíveis.
Na verdade, como já ficou claro há um bom tempo, não se poderia mesmo esperar algo diferente do que está acontecendo. É simples. O Brasil de hoje é governado como uma usina de reprocessar lixo. Entra lixo de um lado, sai lixo do outro. O que mais poderia sair? Entre a porta de entrada, que é aberta nas eleições, e a porta de saída, quando se muda de governo, o produto fica com outra aparência, altera o nome, recebe nova embalagem ─ mas continua sendo lixo. Reprocessou-se o governo do ex-presidente Lula; deu no governo Dilma Rousseff; reprocessou-se o governo Dilma; deu no governo Michel Temer. Não houve, de 2003 para cá, troca no material processado pela usina. Não houve alternância de poder, e isso inclui o finado governo Temer. Continuou igual, nos três, a compostagem de políticos “do ramo”, empreiteiras de obras públicas, escroques de todas as especialidades, fornecedores do governo, parasitas ideológicos, empresários declarados “campeões nacionais” por Lula, por Dilma e pelos cofres do BNDES. É esse baixo mundo que governa o Brasil.
Michel Temer, na verdade, faz parte integral da herança que Lula deixou para os brasileiros. Tanto quanto Dilma Rousseff, é pura criação do ex-presidente ─ só chegou lá porque o PT o colocou na Vice-Presidência. Ou alguém acha que Temer foi incluído como vice na chapa petista contra a vontade de Lula? Ninguém votou nele, não se cansam de dizer desde que Temer assumiu o cargo, no impeachment de Dilma. Com certeza: quem fez a escolha foi Lula, ninguém mais. Foi dele o único voto que Temer teve ─ e o único de que precisava. É tudo parte, no fim das contas, da “política de alianças”. A respeito do assunto, ainda outro dia tivemos direito a uma aula de ciência política dada pelo próprio ex-presidente da República, durante seu interrogatório pelo juiz Sérgio Moro. Lula explicou ao juiz, e a todos nós, que é impossível governar sem “aliados”. E o que isso tem a ver com a corrupção em massa durante seu governo? Tudo a ver, segundo o que deu para entender: você precisa dar cargos públicos aos partidos que apoiam o governo, e aí eles vão roubar tudo o que virem pela frente. No seu caso, o PMDB foi a principal aliança que fez ─ na verdade, o alicerce da coisa toda, uma obra-prima de “engenharia política” que seria depois completada com a aquisição do PP, do PR e de outras gangues partidárias.
Com o PMDB veio Michel Temer ─ mais Eduardo Cunha, Renan Calheiros, José Sarney e família, Romero Jucá, Eliseu Padilha, Eunício Oliveira, Geddel Vieira Lima, e daí para pior. Hoje são odiados nos discursos de Lula e do PT. Ontem eram os melhores amigos e, principalmente, sócios. A isso aí vieram juntar-se os empresários “nacionalistas” de Lula e Dilma: os Joesley e Wesley Batista, que ocupam agora o centro do palco, os Marcelo Odebrecht, os Eike Batista e tantos outros capitães de indústria que já foram, continuam sendo e em breve serão inquilinos do sistema penitenciário nacional. Juntos construíram a calamidade moral, econômica e administrativa que está aí. E com certeza vão tentar, de algum jeito, beneficiar-se da gosma constitucional hoje formada em torno do pós-Temer.
Essa gente toda, com Lula e o PT à frente e bilhões de reais atrás, nos deixou o seguinte país: um dos maiores empresários do Brasil, e também um dos mais investigados por crimes cometidos em suas empresas, entra na residência presidencial e, numa ação nos limites da bandidagem, grava pessoalmente uma conversa do pior nível com o presidente. Com isso, ao menos até agora, protege-se da cadeia, ganha uma soma não calculada de milhões e vira um herói da Rede Globo, no papel de “justiceiro”. O ex-presidente Lula oscila entre duas possibilidades: ir para o xadrez ou para o Palácio do Planalto. Sua sucessora é trazida, por denúncia de pessoas íntimas, para o centro do lodaçal. Seu adversário nas últimas eleições, Aécio Neves, recebe malas de dinheiro vivo desses Joesley e Wesley que atiram para todo lado. O governo do Brasil, e o conjunto da vida política, passou a depender inteiramente de delegados de polícia, procuradores públicos e juízes criminais. O voto popular nunca valeu tão pouco: o político eleito talvez esteja no próximo camburão da Polícia Federal. Os sucessores mais diretos de Temer podem estar em breve, eles próprios, a caminho do pelotão de fuzilamento; fazem parte da caçamba de detritos que há na política brasileira de hoje. Um país assim não pode funcionar ─ não o tempo inteiro, como tem sido nos últimos anos. Trata-se de uma realidade que está evidente há mais de três anos, quando a Operação Lava Jato passou a enterrar o Brasil Velho. Era um país que, enfim, começava a agonizar: pela primeira vez na história, seus donos tinham encontrado pela frente a aplicação da Justiça ─ ou, mais exatamente, o princípio de que a lei tem de valer por igual para todos. Não acreditaram, e tentam não acreditar até hoje, que aquilo tudo estava mesmo acontecendo. O único Brasil possível, para eles, é o Brasil que tem como única função colocar a máquina pública a serviço de seus bolsos. Gente como Lula, Odebrecht, Joesley, empresários campeões etc. simplesmente não entende a existência de pessoas como Sérgio Moro; eles têm certeza de que não há seres humanos que não possam ser comprados ou intimidados. O resultado está aí ─ um país que não consegue mais ser governado, porque os governantes não conseguem mais esconder o que fazem, nem controlar a Justiça e a Lava Jato, que a qualquer momento pode bater à sua porta.
Na verdade, como já ficou claro há um bom tempo, não se poderia mesmo esperar algo diferente do que está acontecendo. É simples. O Brasil de hoje é governado como uma usina de reprocessar lixo. Entra lixo de um lado, sai lixo do outro. O que mais poderia sair? Entre a porta de entrada, que é aberta nas eleições, e a porta de saída, quando se muda de governo, o produto fica com outra aparência, altera o nome, recebe nova embalagem ─ mas continua sendo lixo. Reprocessou-se o governo do ex-presidente Lula; deu no governo Dilma Rousseff; reprocessou-se o governo Dilma; deu no governo Michel Temer. Não houve, de 2003 para cá, troca no material processado pela usina. Não houve alternância de poder, e isso inclui o finado governo Temer. Continuou igual, nos três, a compostagem de políticos “do ramo”, empreiteiras de obras públicas, escroques de todas as especialidades, fornecedores do governo, parasitas ideológicos, empresários declarados “campeões nacionais” por Lula, por Dilma e pelos cofres do BNDES. É esse baixo mundo que governa o Brasil.
Michel Temer, na verdade, faz parte integral da herança que Lula deixou para os brasileiros. Tanto quanto Dilma Rousseff, é pura criação do ex-presidente ─ só chegou lá porque o PT o colocou na Vice-Presidência. Ou alguém acha que Temer foi incluído como vice na chapa petista contra a vontade de Lula? Ninguém votou nele, não se cansam de dizer desde que Temer assumiu o cargo, no impeachment de Dilma. Com certeza: quem fez a escolha foi Lula, ninguém mais. Foi dele o único voto que Temer teve ─ e o único de que precisava. É tudo parte, no fim das contas, da “política de alianças”. A respeito do assunto, ainda outro dia tivemos direito a uma aula de ciência política dada pelo próprio ex-presidente da República, durante seu interrogatório pelo juiz Sérgio Moro. Lula explicou ao juiz, e a todos nós, que é impossível governar sem “aliados”. E o que isso tem a ver com a corrupção em massa durante seu governo? Tudo a ver, segundo o que deu para entender: você precisa dar cargos públicos aos partidos que apoiam o governo, e aí eles vão roubar tudo o que virem pela frente. No seu caso, o PMDB foi a principal aliança que fez ─ na verdade, o alicerce da coisa toda, uma obra-prima de “engenharia política” que seria depois completada com a aquisição do PP, do PR e de outras gangues partidárias.
Com o PMDB veio Michel Temer ─ mais Eduardo Cunha, Renan Calheiros, José Sarney e família, Romero Jucá, Eliseu Padilha, Eunício Oliveira, Geddel Vieira Lima, e daí para pior. Hoje são odiados nos discursos de Lula e do PT. Ontem eram os melhores amigos e, principalmente, sócios. A isso aí vieram juntar-se os empresários “nacionalistas” de Lula e Dilma: os Joesley e Wesley Batista, que ocupam agora o centro do palco, os Marcelo Odebrecht, os Eike Batista e tantos outros capitães de indústria que já foram, continuam sendo e em breve serão inquilinos do sistema penitenciário nacional. Juntos construíram a calamidade moral, econômica e administrativa que está aí. E com certeza vão tentar, de algum jeito, beneficiar-se da gosma constitucional hoje formada em torno do pós-Temer.
Essa gente toda, com Lula e o PT à frente e bilhões de reais atrás, nos deixou o seguinte país: um dos maiores empresários do Brasil, e também um dos mais investigados por crimes cometidos em suas empresas, entra na residência presidencial e, numa ação nos limites da bandidagem, grava pessoalmente uma conversa do pior nível com o presidente. Com isso, ao menos até agora, protege-se da cadeia, ganha uma soma não calculada de milhões e vira um herói da Rede Globo, no papel de “justiceiro”. O ex-presidente Lula oscila entre duas possibilidades: ir para o xadrez ou para o Palácio do Planalto. Sua sucessora é trazida, por denúncia de pessoas íntimas, para o centro do lodaçal. Seu adversário nas últimas eleições, Aécio Neves, recebe malas de dinheiro vivo desses Joesley e Wesley que atiram para todo lado. O governo do Brasil, e o conjunto da vida política, passou a depender inteiramente de delegados de polícia, procuradores públicos e juízes criminais. O voto popular nunca valeu tão pouco: o político eleito talvez esteja no próximo camburão da Polícia Federal. Os sucessores mais diretos de Temer podem estar em breve, eles próprios, a caminho do pelotão de fuzilamento; fazem parte da caçamba de detritos que há na política brasileira de hoje. Um país assim não pode funcionar ─ não o tempo inteiro, como tem sido nos últimos anos. Trata-se de uma realidade que está evidente há mais de três anos, quando a Operação Lava Jato passou a enterrar o Brasil Velho. Era um país que, enfim, começava a agonizar: pela primeira vez na história, seus donos tinham encontrado pela frente a aplicação da Justiça ─ ou, mais exatamente, o princípio de que a lei tem de valer por igual para todos. Não acreditaram, e tentam não acreditar até hoje, que aquilo tudo estava mesmo acontecendo. O único Brasil possível, para eles, é o Brasil que tem como única função colocar a máquina pública a serviço de seus bolsos. Gente como Lula, Odebrecht, Joesley, empresários campeões etc. simplesmente não entende a existência de pessoas como Sérgio Moro; eles têm certeza de que não há seres humanos que não possam ser comprados ou intimidados. O resultado está aí ─ um país que não consegue mais ser governado, porque os governantes não conseguem mais esconder o que fazem, nem controlar a Justiça e a Lava Jato, que a qualquer momento pode bater à sua porta.
Atalhos institucionais
Diante da crise generalizada e da falta de saídas fáceis, vários atores aos quais caberia a responsabilidade de conduzir o País para uma transição minimamente racional flertam perigosamente com saídas fáceis ou atalhos institucionais. É o ingrediente que falta para o Brasil descambar de vez para situações que assistimos num passado recente – ou mesmo hoje – nos nossos vizinhos de continente.
O mais “popular” desses puxadinhos legais atende pelo aparentemente libertário slogan de “diretas já!”, como se vivêssemos um período de hiato democrático e não tivéssemos um ciclo ininterrupto de eleições diretas a cada dois anos desde a década de 80. Como se a malfadada dupla Dilma Rousseff & Michel Temer não tivesse sido eleita e reeleita por voto popular.

Diretas em 2017 significa, vejam só, o tal golpe que seus defensores adoram apontar no impeachment. Seja porque não é o caminho previsto pela Constituição – esta, vale lembrar, redigida e aprovada por uma Constituinte eleita diretamente –, seja porque servirá, no atual cenário, apenas de salvo-conduto para candidatos enrolados com a Justiça e/ou salvadores da pátria que flertam perigosamente com o desalento com a política.
Por pior que seja ter um presidente eleito por um Congresso sem respaldo popular e igualmente atingido pelas denúncias de corrupção, é o que nos resta para hoje. Qualquer um, independentemente da “fé ideológica” que professe, que tenha um mínimo de compromisso com a legalidade tem de aceitar este caminho caso Michel Temer caia, o que parece cada dia mais provável.
O segundo jeitinho brasileiro para problemas graves vem na forma da utilização do julgamento da chapa Dilma-Temer para abreviar o calvário do País com o presidente que se recusa a aceitar a hipótese de renúncia. Esta ação diz respeito à campanha de 2014. Deveria ser redundante dizer que as ilegalidades – e elas foram muitas – cometidas para reeleger a malfadada dupla não valem para retirar o ex-vice por eventuais crimes cometidos em março de 2017.
Mas no Brasil da gambiarra esta saída é vista como a mais “indolor”. Pode não doer agora, mas abre uma avenida para que se subvertam as leis para resolver nós que são antes de tudo políticos. É claro que, se o caminho acordado pelos caciques for este, vai-se tentar dar um verniz de normalidade e dizer que apenas foi cumprida a jurisprudência do TSE que manda responsabilizar a chapa toda em caso de irregularidade. Mas todo mundo que acompanhou esse tortuoso julgamento que se arrasta há dois anos, sabe que, há duas semanas, a tendência era justamente a oposta: responsabilizar Dilma.
Por fim, no Brasil das jabuticabas institucionais, tem-se evidências de sobra de que o Ministério Público Federal foi, no mínimo, condescendente ao oferecer um acordo de delação premiada nunca antes visto aos irmãos Batista e demais colaboradores da JBS. Nada, nem a tal ação controlada, justifica a benevolência.
Ademais, o fato de um dos braçosdireitos de Rodrigo Janot, que até outro dia estava à frente da condução das delações da Lava Jato, atuar no escritório de advocacia que negocia a leniência do grupo é outra dessas aberrações que só ocorrem no Brasil. Que não venham os representantes da banca e os antigos colegas de Marcelo Miller dizer que ele não atuou na delação. Só essa nítida incompatibilidade já seria razão para anular o acordo em um País sério.
Ou se excluem das graves decisões que o Brasil tem pela frente todos esses exotismos institucionais ou não haverá saída virtuosa, com ou sem Lava Jato. O caminho legal pode ser mais longo e tortuoso, mas é o único possível para um País que almeje a civilização e a democracia.
O mais “popular” desses puxadinhos legais atende pelo aparentemente libertário slogan de “diretas já!”, como se vivêssemos um período de hiato democrático e não tivéssemos um ciclo ininterrupto de eleições diretas a cada dois anos desde a década de 80. Como se a malfadada dupla Dilma Rousseff & Michel Temer não tivesse sido eleita e reeleita por voto popular.

Por pior que seja ter um presidente eleito por um Congresso sem respaldo popular e igualmente atingido pelas denúncias de corrupção, é o que nos resta para hoje. Qualquer um, independentemente da “fé ideológica” que professe, que tenha um mínimo de compromisso com a legalidade tem de aceitar este caminho caso Michel Temer caia, o que parece cada dia mais provável.
O segundo jeitinho brasileiro para problemas graves vem na forma da utilização do julgamento da chapa Dilma-Temer para abreviar o calvário do País com o presidente que se recusa a aceitar a hipótese de renúncia. Esta ação diz respeito à campanha de 2014. Deveria ser redundante dizer que as ilegalidades – e elas foram muitas – cometidas para reeleger a malfadada dupla não valem para retirar o ex-vice por eventuais crimes cometidos em março de 2017.
Mas no Brasil da gambiarra esta saída é vista como a mais “indolor”. Pode não doer agora, mas abre uma avenida para que se subvertam as leis para resolver nós que são antes de tudo políticos. É claro que, se o caminho acordado pelos caciques for este, vai-se tentar dar um verniz de normalidade e dizer que apenas foi cumprida a jurisprudência do TSE que manda responsabilizar a chapa toda em caso de irregularidade. Mas todo mundo que acompanhou esse tortuoso julgamento que se arrasta há dois anos, sabe que, há duas semanas, a tendência era justamente a oposta: responsabilizar Dilma.
Por fim, no Brasil das jabuticabas institucionais, tem-se evidências de sobra de que o Ministério Público Federal foi, no mínimo, condescendente ao oferecer um acordo de delação premiada nunca antes visto aos irmãos Batista e demais colaboradores da JBS. Nada, nem a tal ação controlada, justifica a benevolência.
Ademais, o fato de um dos braçosdireitos de Rodrigo Janot, que até outro dia estava à frente da condução das delações da Lava Jato, atuar no escritório de advocacia que negocia a leniência do grupo é outra dessas aberrações que só ocorrem no Brasil. Que não venham os representantes da banca e os antigos colegas de Marcelo Miller dizer que ele não atuou na delação. Só essa nítida incompatibilidade já seria razão para anular o acordo em um País sério.
Ou se excluem das graves decisões que o Brasil tem pela frente todos esses exotismos institucionais ou não haverá saída virtuosa, com ou sem Lava Jato. O caminho legal pode ser mais longo e tortuoso, mas é o único possível para um País que almeje a civilização e a democracia.
A decadência
Quando entrei na Câmara dos Deputados pela primeira vez, em 1991, lá encontrei figuras que despertavam respeito e admiração pelo preparo, pela formação acadêmica, pela capacidade de enxergar o interesse nacional acima de qualquer outro.
Não era certamente um conclave de santos representando o povo do Brasil, mas havia erudição, discernimento, bagagem intelectual e, ainda, respeito com a coisa pública.
Havia corrupção em grau não perceptível e interesses velados, que na atualidade seriam considerados troco na conta do restaurante.
Quando saí de lá, em 2006, por decisão pessoal, o fiz deixando atrás um cenário que tinha-se degenerado assombrosamente. Ficaram mais raras as figuras de destaque ético e intelectual; já pululavam mensaleiros, aqueles movidos a vantagens e barganhas ilícitas.
Estive recentemente naquela Casa e notei que a inarredável decadência ultrapassou os limites imagináveis. As virtudes praticamente estão a um passo da extinção, enquanto os pecados e vícios são soberanos. Lá, mais que pessoas dispostas a servir a nação, encontram-se figuras que se servem da nação, tendência comum aos Poderes Executivos centrais e periféricos. Abusa-se de prerrogativas e pratica-se o patrimonialismo mais abjeto; a locupletação foi escancarada pela Lava Jato. A devassa em curso tirou as cortinas e os biombos do “poder”. Jogou nos lares do país as vantagens, os ganhos ilícitos e insaciáveis, incompatíveis, e criminosos considerando os amplos bolsões de pobreza e a falta de recursos para atender os serviços minimamente essenciais.
Lula queixava-se dos deputados em Brasília, que definiu como “300 picaretas” na década de 90. Os oito anos de governo dele coincidiram certamente com um aumento para 400 ou mais que merecem a definição imortalizada pelo ex-presidente. Salvam-se poucos, nitidamente insuficientes para garantir a eficiência da instituição representativa da “democracia”.

Lembro-me de que o salário, no período de Itamar Franco, quando os ministros, ao mínimo aceno de irregularidade, eram afastados para responder a sindicância e se defender, estava abaixo de R$ 9.000. A verba de assessores, despesas de gabinete e viagens não passava de R$ 25 mil por mês. Poucos parlamentares possuíam carro, raríssimos o motorista, eram atendidos por “Veraneios” da Câmara, que atuavam em regime de “lotação”. Hoje o custo da instituição subiu desmedidamente, provavelmente proporcionalmente à queda de qualidade do conjunto presente na “Casa”.
O aumento de remuneração, supostamente voltado a dar “autonomia financeira” aos parlamentares, na prática não serviu, e ocorreu com uma profunda decadência ética no Legislativo federal, atrelada à mesma decadência nas instâncias executivas estaduais e municipais.
O escritor escocês Robert Louis Balfour Stevenson anotou que “a política talvez seja a única profissão em relação à qual se considera que nenhuma formação prévia é necessária”. Aí está o causador do problema.
No Brasil quem trabalha não costuma ter tempo algum para dedicar ao meio político, dessa forma o ambiente ficou restrito, com raras exceções, a quem faz da política sua profissão e se esquece da missão, do sacerdócio, que “in tesi” é a finalidade de quem atua nessa seara.
Brasília é uma ilha da fantasia, surreal, cínica, afastada da realidade nacional, registra a maior renda per capita, 36,4% superior à de São Paulo e exatamente o dobro da de Minas Gerais, ainda seis vezes superior àquela do Estado de Maranhão, o mais atrasado do país, juntamente com Alagoas.
O Estado do Maranhão teve ministros, presidentes de estatais, presidentes do Senado e até presidente da República. Em vão. Com o poder nas mãos, continua o pior do ranking, enquanto seus representantes políticos ditam lei no Congresso.
Se fosse possível passar por um “espectrofotômetro político“ os elementos que formam o ambiente dominante em Brasília, se dariam as cores da ignorância e corrupção e do descaso com o sofrimento da população.
Depois do petrolão, aparecem agora os desvios do BNDES e a fórmula que os regia. Os pagamentos das propinas eram no exterior, e a maior fatia para os presidentes da República, que, segundo Joesley Batista, receberam da JBS R$ 500 milhões (US$ 150 milhões) em contas no exterior. E Obebrecht e demais grupos? Mais de R$ 10 bilhões?
Num ambiente tão perverso qualquer moralização drástica e urgente é bem-vinda.
Não era certamente um conclave de santos representando o povo do Brasil, mas havia erudição, discernimento, bagagem intelectual e, ainda, respeito com a coisa pública.
Havia corrupção em grau não perceptível e interesses velados, que na atualidade seriam considerados troco na conta do restaurante.
Quando saí de lá, em 2006, por decisão pessoal, o fiz deixando atrás um cenário que tinha-se degenerado assombrosamente. Ficaram mais raras as figuras de destaque ético e intelectual; já pululavam mensaleiros, aqueles movidos a vantagens e barganhas ilícitas.
Estive recentemente naquela Casa e notei que a inarredável decadência ultrapassou os limites imagináveis. As virtudes praticamente estão a um passo da extinção, enquanto os pecados e vícios são soberanos. Lá, mais que pessoas dispostas a servir a nação, encontram-se figuras que se servem da nação, tendência comum aos Poderes Executivos centrais e periféricos. Abusa-se de prerrogativas e pratica-se o patrimonialismo mais abjeto; a locupletação foi escancarada pela Lava Jato. A devassa em curso tirou as cortinas e os biombos do “poder”. Jogou nos lares do país as vantagens, os ganhos ilícitos e insaciáveis, incompatíveis, e criminosos considerando os amplos bolsões de pobreza e a falta de recursos para atender os serviços minimamente essenciais.
Lula queixava-se dos deputados em Brasília, que definiu como “300 picaretas” na década de 90. Os oito anos de governo dele coincidiram certamente com um aumento para 400 ou mais que merecem a definição imortalizada pelo ex-presidente. Salvam-se poucos, nitidamente insuficientes para garantir a eficiência da instituição representativa da “democracia”.

O aumento de remuneração, supostamente voltado a dar “autonomia financeira” aos parlamentares, na prática não serviu, e ocorreu com uma profunda decadência ética no Legislativo federal, atrelada à mesma decadência nas instâncias executivas estaduais e municipais.
O escritor escocês Robert Louis Balfour Stevenson anotou que “a política talvez seja a única profissão em relação à qual se considera que nenhuma formação prévia é necessária”. Aí está o causador do problema.
No Brasil quem trabalha não costuma ter tempo algum para dedicar ao meio político, dessa forma o ambiente ficou restrito, com raras exceções, a quem faz da política sua profissão e se esquece da missão, do sacerdócio, que “in tesi” é a finalidade de quem atua nessa seara.
Brasília é uma ilha da fantasia, surreal, cínica, afastada da realidade nacional, registra a maior renda per capita, 36,4% superior à de São Paulo e exatamente o dobro da de Minas Gerais, ainda seis vezes superior àquela do Estado de Maranhão, o mais atrasado do país, juntamente com Alagoas.
O Estado do Maranhão teve ministros, presidentes de estatais, presidentes do Senado e até presidente da República. Em vão. Com o poder nas mãos, continua o pior do ranking, enquanto seus representantes políticos ditam lei no Congresso.
Se fosse possível passar por um “espectrofotômetro político“ os elementos que formam o ambiente dominante em Brasília, se dariam as cores da ignorância e corrupção e do descaso com o sofrimento da população.
Depois do petrolão, aparecem agora os desvios do BNDES e a fórmula que os regia. Os pagamentos das propinas eram no exterior, e a maior fatia para os presidentes da República, que, segundo Joesley Batista, receberam da JBS R$ 500 milhões (US$ 150 milhões) em contas no exterior. E Obebrecht e demais grupos? Mais de R$ 10 bilhões?
Num ambiente tão perverso qualquer moralização drástica e urgente é bem-vinda.
Justiça de compadres
O corrupto e o corruptor
Agora que estávamos nos acostumando à figura do corrupto — afinal, há séculos convivemos com ele —, eis que surge um novo animal na floresta: o corruptor. E em alto estilo: enorme, viscoso, tentacular, falando de cifras com que nunca sonhamos e com uma naturalidade que escancara para nós, de repente, toda a nossa inocência.
Com que, então, os milhões e bilhões que só conhecíamos por ouvir falar existem de verdade e não como papéis simbólicos, trocados por bancos e governos. Apesar do volume, são moeda corrente entre pessoas reais e circulam em malas, mochilas, meias e depósitos no Exterior, ou na forma de barcos, joias, sítios, tríplexes, aeroportos. A cada denúncia, os montantes têm sido de tal ordem que nos arriscamos a ficar blasés: "Mas como, tanto barulho por R$ 5 milhões? Ainda se fossem dólares...".

Enfim, se o corrupto não é novidade, nada mais fascinante nos últimos tempos do que nos defrontarmos com o corruptor —o que nos tem sido oferecido à larga pelas gravações da Lava Jato. Desse espetáculo, que supera qualquer reality show, pode-se inferir algo sobre a personalidade de ambos.
O corruptor tem desprezo pelo corrupto. Olha-o de cima para baixo, trata-o pelo primeiro nome ou pelo diminutivo, ignora a liturgia, marca local, dia e hora da visita ou chega sem avisar —claro, se é ele quem paga as contas, presta-se gostosamente aos achaques e compra políticos como se fossem bananas. O corruptor vai às compras com uma longa lista: transferências de fundos públicos, medidas provisórias, primazia em concorrências, isenção de impostos, empréstimos em bancos oficiais. O corrupto avia esses pedidos e, em troca, leva o seu. Mas o ganho do corrupto é pinto se comparado ao do corruptor.
Desprezado pelo corruptor, só resta ao corrupto, em troca, nos desprezar.
Com que, então, os milhões e bilhões que só conhecíamos por ouvir falar existem de verdade e não como papéis simbólicos, trocados por bancos e governos. Apesar do volume, são moeda corrente entre pessoas reais e circulam em malas, mochilas, meias e depósitos no Exterior, ou na forma de barcos, joias, sítios, tríplexes, aeroportos. A cada denúncia, os montantes têm sido de tal ordem que nos arriscamos a ficar blasés: "Mas como, tanto barulho por R$ 5 milhões? Ainda se fossem dólares...".

O corruptor tem desprezo pelo corrupto. Olha-o de cima para baixo, trata-o pelo primeiro nome ou pelo diminutivo, ignora a liturgia, marca local, dia e hora da visita ou chega sem avisar —claro, se é ele quem paga as contas, presta-se gostosamente aos achaques e compra políticos como se fossem bananas. O corruptor vai às compras com uma longa lista: transferências de fundos públicos, medidas provisórias, primazia em concorrências, isenção de impostos, empréstimos em bancos oficiais. O corrupto avia esses pedidos e, em troca, leva o seu. Mas o ganho do corrupto é pinto se comparado ao do corruptor.
Desprezado pelo corruptor, só resta ao corrupto, em troca, nos desprezar.
Aquela musiquinha sinistra
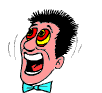
Pã, papam, pã-pãm, papapapaaaam. Aconteceu comigo. Foi agora por esses dias. Mais precisamente já na madrugada do domingo, 21 de maio, o que piorou ainda mais. Madrugada. Meu coração quase saiu pela boca. Estava despreparada para qualquer notícia ruim naquele momento, tão ruim que não podia nem esperar? Estava relaxada, por algumas horas tinha esquecido esse tormento que virou o dia a dia nacional. Esse novo tormento.
Mas não. Naquele, uma trêmula apresentadora que estava certamente de plantão na redação surgiu para dar um outro plantão- e que até ela me pareceu não estar convencida da importância. Ela apareceu ali para anunciar que uma reunião da Ordem dos Advogados do Brasil havia decidido pedir o impeachment do presidente Michel Temer. Ohhhh. Oi? Vê se isso é notícia para dar em plantão de madrugada num sábado? É? Mudou sua vida? Resolveu nossos problemas? Vale alguma coisa nesse país que desrespeitou e diminuiu nos últimos tempos as entidades da sociedade civil a pó de poeira? Responda rápido: qual o nome do atual presidente da OAB?
 Vou ser sincera para vocês. Xinguei muito. Falando sozinha, mas xinguei, ô se xinguei. Eu tinha acabado de chegar em casa, do teatro; fui ver Roque Santeiro durante a Virada Cultural. Com fome tinha preparado um lanche maravilhoso (… tá, tá bom: um hambúrguer X-Salada-Tudo e mais um pouco) para comer na sala vendo tevê. Tinha dado a primeira mordida, sabe aquela quando a maionese se espalha e o queijo derretido cria uma união teimosa entre sua boca e o sanduíche?? Aí veio a musiquinha maldita, sinistra. Pã, papam, pã-pam, papapapaaaam
Vou ser sincera para vocês. Xinguei muito. Falando sozinha, mas xinguei, ô se xinguei. Eu tinha acabado de chegar em casa, do teatro; fui ver Roque Santeiro durante a Virada Cultural. Com fome tinha preparado um lanche maravilhoso (… tá, tá bom: um hambúrguer X-Salada-Tudo e mais um pouco) para comer na sala vendo tevê. Tinha dado a primeira mordida, sabe aquela quando a maionese se espalha e o queijo derretido cria uma união teimosa entre sua boca e o sanduíche?? Aí veio a musiquinha maldita, sinistra. Pã, papam, pã-pam, papapapaaaamNão foi legal. Não me fez bem. Se eu, que acompanho essa trapalhada toda por dever até de profissão não gostei, imagino como foi nesse Brasilzão de Deus, nas tevês de beira de estrada, nos cafundós. Uma tal de OAB fez num-sei-o-quê.
Já estamos tomando muitos sustos. Quer cena mais para assustar criancinha do que aquele vídeo do Aécio com cara de medo, olhar de medo, e sem nenhuma “convincência”, na frente de uma parede lisa de cor horrível, dizendo-se enganado, ingênuo, desfalcado de recursos? Patético. A expressão do Rodrigo Maia girando o pescoço na quarta-feira do terror em Brasília, e que saiu pedindo reforço da segurança, que acabou chegando o Exército para acudir?
Está confuso demais. É mala monitorada que não estava monitorada em nada e justamente ela some, reaparece com uma mordida enorme de bufunfa; é gravação que brota de tudo quanto é canto, até as que não têm nada a ver com o peixe, mas expôs um jornalista que andou arranjando inimigos até debaixo da água.
Por favor, mais comedimento em usar a música maldita e sinistra que nunca traz boas notícias, e que nos ameaça com aqueles microfones na piracema.
Essa musiquinha de agora, mais invocada, tem pouco mais que 14 anos. Mas o plantão se iniciou em 1982, anunciando a eclosão da Guerra das Malvinas. De lá para cá, 35 anos, não foram muito mais de quinhentas vezes a sua utilização. Mas esta, a primeira, já chegou me apavorando e afetando muito. Naqueles dias, sob o comando do admirável Fernando Portela, completávamos, no Jornal da Tarde, uma das maiores reportagens de todos os tempos – de fôlego, três meses de batalha. Chamava-se Viver em Prédios e reportava todos os fatos ligados a isso, de todos os ângulos. Principalmente o do difícil convívio entre os seres, carros, portas, goteiras e vazamentos, portarias e garagens.
A matéria acabou decepada para dar espaço ao noticiário da guerra aqui de nossos vizinhos argentinos, que não cumprimentam ninguém no elevador. A propósito, está de novo uma barulhada e tanto nesse Edifício América Latina.
Que futuro é esse?
 |
| Zhang Lin Hai |
Quando se considera que o produto do trabalho e das luzes de trinta ou quarenta séculos foi entregar trezentos milhões de homens espalhados pelo globo a cerca de trinta déspotas, a maioria ignorante e imbecil, cada um dos quais é governado por três ou quatro celerados às vezes estúpidos, o que pensar da humanidade e o que dela esperar no futuro?Sébastien-Roch Chamfort (1740 - 1794)
Aula de cinismo
Dia desses pensava eu sobre o quanto é querida a educação. Todo mundo é a favor dela. Nunca encontrei quem fosse contra.
No entanto, li que a cada sete minutos um professor é agredido lá no Reino Unido. Cataloguei casos de mestres mordidos, arranhados, chutados, socados, linchados pelos alunos e até assassinados. Na Europa, a cada ano, 1,5 milhão de professores enfrentam esta dura realidade. E ninguém resolve o problema. O Estado, tão poderoso, não consegue impor a ordem nem nas salas de aula - muitas das quais só abrem quando os traficantes locais permitem.
Nunca falta dinheiro para a educação. E assim pesquisadores ingleses gastaram milhões para descobrir se um pinguim olha para o céu quando passa algum avião. Nos EUA outra fortuna foi gasta para apurar a relação entre a música sertaneja e os índices de suicídio. Enquanto isso, 25% das crianças norte-americanas passam fome. Na Europa, são em média uma a cada sete crianças. Dizem alguns que não estamos muito longe disso.

Os recursos para a educação devem ser tratados com total seriedade e honestidade. E lá está a Controladoria Geral da União denunciando irregularidades em 73% dos municípios brasileiros. Mas segue firme pelo país afora a frequente compra de equipamentos caríssimos que quase nunca serão usados porque falta nas salas de aula a estrutura mais básica necessária.
Trombeteia-se que uma escola não forma apenas estudantes - forma cidadãos. Apregoa-se que quem abre uma escola fecha uma prisão. Paradoxalmente, no entanto, noções as mais básicas da vida real passam ao largo das salas de aula. Será mais fácil uma criança nelas aprender qual o nome do navio que conduziu José Bonifácio ao exílio do que receber uma mínima noção sobre, por exemplo, o funcionamento das leis. As consequências são terríveis: 67% das empresas brasileiras enfrentam dificuldades na contratação de trabalhadores qualificados.
Berra-se, pelas esquinas afora, que aos estudantes deve se proporcionar a saúde necessária ao bom desempenho escolar. Para nossa surpresa, porém, 6,8 milhões de alunos brasileiros assistem aulas em escolas desprovidas de abastecimento de água, e 5,2 milhões não tem sequer água potável para beber.
Cheguei a uma dura conclusão: o problema da educação é que tem muitos maiores vivendo às custas dos menores.
Pedro Valls Feu Rosa
No entanto, li que a cada sete minutos um professor é agredido lá no Reino Unido. Cataloguei casos de mestres mordidos, arranhados, chutados, socados, linchados pelos alunos e até assassinados. Na Europa, a cada ano, 1,5 milhão de professores enfrentam esta dura realidade. E ninguém resolve o problema. O Estado, tão poderoso, não consegue impor a ordem nem nas salas de aula - muitas das quais só abrem quando os traficantes locais permitem.
Nunca falta dinheiro para a educação. E assim pesquisadores ingleses gastaram milhões para descobrir se um pinguim olha para o céu quando passa algum avião. Nos EUA outra fortuna foi gasta para apurar a relação entre a música sertaneja e os índices de suicídio. Enquanto isso, 25% das crianças norte-americanas passam fome. Na Europa, são em média uma a cada sete crianças. Dizem alguns que não estamos muito longe disso.

Os recursos para a educação devem ser tratados com total seriedade e honestidade. E lá está a Controladoria Geral da União denunciando irregularidades em 73% dos municípios brasileiros. Mas segue firme pelo país afora a frequente compra de equipamentos caríssimos que quase nunca serão usados porque falta nas salas de aula a estrutura mais básica necessária.
Trombeteia-se que uma escola não forma apenas estudantes - forma cidadãos. Apregoa-se que quem abre uma escola fecha uma prisão. Paradoxalmente, no entanto, noções as mais básicas da vida real passam ao largo das salas de aula. Será mais fácil uma criança nelas aprender qual o nome do navio que conduziu José Bonifácio ao exílio do que receber uma mínima noção sobre, por exemplo, o funcionamento das leis. As consequências são terríveis: 67% das empresas brasileiras enfrentam dificuldades na contratação de trabalhadores qualificados.
Berra-se, pelas esquinas afora, que aos estudantes deve se proporcionar a saúde necessária ao bom desempenho escolar. Para nossa surpresa, porém, 6,8 milhões de alunos brasileiros assistem aulas em escolas desprovidas de abastecimento de água, e 5,2 milhões não tem sequer água potável para beber.
Cheguei a uma dura conclusão: o problema da educação é que tem muitos maiores vivendo às custas dos menores.
Pedro Valls Feu Rosa
'Brazil of cards'
Um deputado de grande influência, líder da maioria parlamentar, se torna vice-presidente. Uma vez no cargo, aproveita-se da impopularidade de um dígito do mandatário maior da nação — suspeito de conluio com o alto capital privado — e de um ambiente constitucional favorável, para cooptar Congresso e Senado numa grande campanha pró-impeachment. Ele assume a Presidência, num processo político permeado de esquemas, traições, mentiras, vazamentos e oportunismo.
O Congresso em questão se parece com um balcão de venda de votos, onde todos têm um preço para mudar suas convicções, e depois voltar atrás, se necessário, não importando programas, filiação partidária, plataformas ou o interesse público: só o interesse pessoal, ou, eventualmente, o de um cônjuge ambicioso e ávido por ascensão.
No país onde ocorrem esses fatos, o capital privado é capaz de dar as cartas no Executivo e no Legislativo, dominar bancadas, constranger secretariados, através de doações tanto legítimas quanto oriundas de lavagem de dinheiro, e ainda receber, em troca, favorecimentos regulatórios e contratos em solo pátrio e no exterior.
Ah, só pode ser o Brasil!

Não, não é o Brasil. Os parágrafos acima são um resumo livre das duas primeiras temporadas da série americana “House of cards”, consumidas pelo cronista com a voracidade de 26 episódios em quatro dias. A série é ótima, Kevin Spacey dá o show de sempre, embora não alcance o grau de excelência de texto, arte e fotografia, nem de sofisticação dramática, de um “Mad men” ou um “Breaking bad”. O motivo da recaída no vício após um ano sem mergulhar numa caixa de séries (no caso, uma caixa virtual) foi, sem dúvida, a mórbida semelhança com o que se passa aqui.
Não tanto no que toca à história. Apesar das coincidências situacionais, as circunstâncias são bem diferentes, o país é outro, e há várias subtramas que têm muito mais a ver com a cultura local do que com a nossa. O que pega fundo, mesmo, são os valores envolvidos. Em “House of cards”, trava-se uma discussão de conceitos que estão no centro de nosso dia a dia, na política e na maneira com que esta se reflete na vida de quem está a léguas de distância do andar de cima: a sociedade civil.
O foco dessa discussão está no binômio poder/dinheiro, como proposto pelo protagonista, o deputado Frank Underwood, que, entre uma sequência e outra, dirige-se em segunda pessoa ao público para debater seus dilemas. A tese de Frank: o poder, para quem sabe das coisas e está com a faca e o queijo na mão, vale muito mais que o dinheiro. O dinheiro, uma vez adquirido, é intangível, fugaz, frívolo. Já o poder, se adequadamente cultivado, é como uma madeira nobre, que resiste ao tempo.
Daí uma questão resultante, mas fundamental: para que serve o poder? Se falamos de política, é uma capacidade que deveria estar a serviço da construção de um futuro melhor, tendo-se em vista o interesse coletivo e o bem comum. A outra opção: o poder exclusivamente a serviço do interesse individual. O interesse do outro só entra no jogo de forma submissa e passível de imediata aniquilação em caso de interferência. Se o animal no topo da cadeia se vê ameaçado, o outro tem que sucumbir, ainda que se sujem as mãos de sangue.
Em “House of cards”, há dois universos: uma sociedade vigilante e construtiva, formada pela Justiça e pelos meios de comunicação; e uma esfera que une a política ao capital privado numa dinâmica perversa de interdependência. Neste segundo grupo, prevalece, contudo, o gosto pela “madeira nobre”. São personagens para os quais só o dinheiro é um meio de exercitar a sensualidade do controle manipulativo, de mover o vapor inebriante da autossatisfação.
Para isso, não há limites, não há risco que não valha a pena correr. Submeter o outro, impor-se, mover-se verticalmente, destruir o oponente, num jogo em que as ideias são moldadas pela de sede de poder, e não o contrário (o poder a serviço das ideias). A tese seria a de que, quando dinheiro e política se encontram, por mais que se defendam interesses desta ou daquela corporação, o alvo é o acúmulo de força, e não aquilo que se embolsa.
O quão distorcida é esta visão, ou o quanto ela é específica daqueles personagens, instrumentalizados num microcosmo, é assunto para um estudo mais “macro” ou uma análise de roteiro. Instigante é pensar em como, no Brasil, a lógica parece radicalmente inversa: aqui é o poder que está a serviço do dinheiro, num cenário em que a política perdeu até a aparência, se não o caráter, de uma atividade em si. No Brasil, o poder, mesmo em sua conformação mais egoísta, virou um valor subalterno. Não há “madeira nobre” que resista ao incêndio que lambeu as ideias, o pensamento e a própria noção de civilidade. Numa sinopse radicalmente resumida, ficaria assim: “A política morreu, e o capital assumiu o poder”.
Arnaldo Bloch
O Congresso em questão se parece com um balcão de venda de votos, onde todos têm um preço para mudar suas convicções, e depois voltar atrás, se necessário, não importando programas, filiação partidária, plataformas ou o interesse público: só o interesse pessoal, ou, eventualmente, o de um cônjuge ambicioso e ávido por ascensão.
No país onde ocorrem esses fatos, o capital privado é capaz de dar as cartas no Executivo e no Legislativo, dominar bancadas, constranger secretariados, através de doações tanto legítimas quanto oriundas de lavagem de dinheiro, e ainda receber, em troca, favorecimentos regulatórios e contratos em solo pátrio e no exterior.
Ah, só pode ser o Brasil!

Não, não é o Brasil. Os parágrafos acima são um resumo livre das duas primeiras temporadas da série americana “House of cards”, consumidas pelo cronista com a voracidade de 26 episódios em quatro dias. A série é ótima, Kevin Spacey dá o show de sempre, embora não alcance o grau de excelência de texto, arte e fotografia, nem de sofisticação dramática, de um “Mad men” ou um “Breaking bad”. O motivo da recaída no vício após um ano sem mergulhar numa caixa de séries (no caso, uma caixa virtual) foi, sem dúvida, a mórbida semelhança com o que se passa aqui.
Não tanto no que toca à história. Apesar das coincidências situacionais, as circunstâncias são bem diferentes, o país é outro, e há várias subtramas que têm muito mais a ver com a cultura local do que com a nossa. O que pega fundo, mesmo, são os valores envolvidos. Em “House of cards”, trava-se uma discussão de conceitos que estão no centro de nosso dia a dia, na política e na maneira com que esta se reflete na vida de quem está a léguas de distância do andar de cima: a sociedade civil.
O foco dessa discussão está no binômio poder/dinheiro, como proposto pelo protagonista, o deputado Frank Underwood, que, entre uma sequência e outra, dirige-se em segunda pessoa ao público para debater seus dilemas. A tese de Frank: o poder, para quem sabe das coisas e está com a faca e o queijo na mão, vale muito mais que o dinheiro. O dinheiro, uma vez adquirido, é intangível, fugaz, frívolo. Já o poder, se adequadamente cultivado, é como uma madeira nobre, que resiste ao tempo.
Daí uma questão resultante, mas fundamental: para que serve o poder? Se falamos de política, é uma capacidade que deveria estar a serviço da construção de um futuro melhor, tendo-se em vista o interesse coletivo e o bem comum. A outra opção: o poder exclusivamente a serviço do interesse individual. O interesse do outro só entra no jogo de forma submissa e passível de imediata aniquilação em caso de interferência. Se o animal no topo da cadeia se vê ameaçado, o outro tem que sucumbir, ainda que se sujem as mãos de sangue.
Em “House of cards”, há dois universos: uma sociedade vigilante e construtiva, formada pela Justiça e pelos meios de comunicação; e uma esfera que une a política ao capital privado numa dinâmica perversa de interdependência. Neste segundo grupo, prevalece, contudo, o gosto pela “madeira nobre”. São personagens para os quais só o dinheiro é um meio de exercitar a sensualidade do controle manipulativo, de mover o vapor inebriante da autossatisfação.
Para isso, não há limites, não há risco que não valha a pena correr. Submeter o outro, impor-se, mover-se verticalmente, destruir o oponente, num jogo em que as ideias são moldadas pela de sede de poder, e não o contrário (o poder a serviço das ideias). A tese seria a de que, quando dinheiro e política se encontram, por mais que se defendam interesses desta ou daquela corporação, o alvo é o acúmulo de força, e não aquilo que se embolsa.
O quão distorcida é esta visão, ou o quanto ela é específica daqueles personagens, instrumentalizados num microcosmo, é assunto para um estudo mais “macro” ou uma análise de roteiro. Instigante é pensar em como, no Brasil, a lógica parece radicalmente inversa: aqui é o poder que está a serviço do dinheiro, num cenário em que a política perdeu até a aparência, se não o caráter, de uma atividade em si. No Brasil, o poder, mesmo em sua conformação mais egoísta, virou um valor subalterno. Não há “madeira nobre” que resista ao incêndio que lambeu as ideias, o pensamento e a própria noção de civilidade. Numa sinopse radicalmente resumida, ficaria assim: “A política morreu, e o capital assumiu o poder”.
Arnaldo Bloch
Assinar:
Comentários (Atom)








