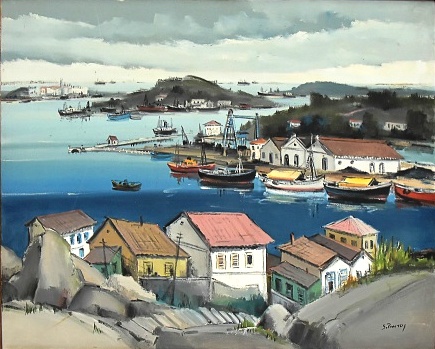terça-feira, 12 de dezembro de 2017
Você no poder: como funciona
Muita gente perguntando como, exatamente, funciona o sistema distrital puro…
O sistema eleitoral define tudo que vai acontecer na relação entre governo e cidadão da eleição em diante. Todo governo é uma hierarquia. Cada modelo estabelece essencialmente quem vai ter a ultima palavra nas decisões que afetam a todos.
O sistema eleitoral define tudo que vai acontecer na relação entre governo e cidadão da eleição em diante. Todo governo é uma hierarquia. Cada modelo estabelece essencialmente quem vai ter a ultima palavra nas decisões que afetam a todos.
Quando você vota por um sistema proporcional onde o candidato colhe um voto aqui outro ali no estado inteiro, uma vez depositado o voto na urna está cortada qualquer possibilidade de identificação entre quem foi eleito e quem o elegeu. No sistema distrital misto dá pra saber que pedaço do país votou em quem mas você entrega ao partido a decisão sobre o que fazer com o representante que perder a sua confiança.
A democracia foi inventada para inverter o jogo ancestral da minoria mandando na maioria na base da violência, mas sem que a maioria se transformasse em outra forma de tirania contra as minorias. O voto distrital puro com recall, referendo e iniciativa é a única fórmula que entrega essas duas coisas juntas. Mas atenção! O voto distrital não é um fim, é só um meio para um objetivo mais amplo. O sistema tem de ser o distrital puro para que os direitos de recall, referendo e inciativa – estes sim as ferramentas operacionais que mudam tudo – possam ser exercidos com garantia de legitimidade e sem ter de parar o país inteiro a cada passo.
Esse sistema permite que, com a maior facilidade mas não qualquer facilidade, cada eleitor convoque um recall ou referendo indubitavelmente do seu representante a ser votado só no seu distrito acionando um mecanismo absolutamente transparente. Qualquer cidadão das maiorias ou das minorias eventuais em que o distrito se divide a cada eleição poderá iniciar um processo de recall contra o representante que, uma vez eleito, passa a ser o representante daquele distrito. Se colher o numero estipulado de assinaturas, o distrito inteiro é chamado a votar de novo para derrubar ou manter, seja o representante, seja a lei do legislativo local (municipal ou estadual) que se queira desafiar por referendo.
Para garantir a legitimidade e a funcionalidade desses processos num sistema representativo cada distrito tem de ser desenhado em cima do mapa real da população e ter aproximadamente o mesmo numero de pessoas. Assim, um município pode decidir quantos representantes quer ter na sua Câmara Municipal, mas o tamanho dos seus distritos eleitorais será dado pela divisão do total de habitantes pelo numero de representantes desejado. Os distritos estaduais e federais serão sobrepostos aos distritos menores.
Uma vez estabelecidos, esses distritos municipais, estaduais ou nacionais são numerados e daí para a frente só poderão ser alterados em função do censo populacional, um critério inteiramente objetivo. Cada eleitor passa a ser um “Eleitor do Distrito (municipal, estadual ou federal) nº Tal” até o censo registrar que ele mudou de la. Como cada representante só pode disputar os votos de um único distrito quem for eleito terá condições de saber o nome e o endereço de cada um dos seus representados, e vice-versa.
Por isso nos Estados Unidos os deputados do Congresso Nacional não são representantes do “estado fulano”, são representantes do “Distrito Congressional nº Tal”. Esse distrito tende a coincidir com um estado mas isso não é obrigatório. No senado, sim, a representação é dos estados, independentemente da população. Dois senadores por estado. Na Câmara o unico limite é o minimo de um representante mesmo para estados que tenham menos de 700 mil habitantes, que é o tamanho de cada distrito nacional porque eles têm 435 deputados e são 304 milhões de habitantes. Cada deputado representa, portanto, “aqueles” 700 mil cidadãos com existência física e endereço certo e sabido. Num Brasil de 513 deputados cada distrito federal teria cerca de 400 mil habitantes. Se algum representante morrer, renunciar ou sair do Congresso por qualquer motivo, não tem suplente ou reposição pelo partido. Convoca-se outra eleição só naquele distrito para eleger o substituto. O representante de cada eleitor nos centros de decisão é pessoal e intransferível. Você, e só você, põe o seu representante. Você, e só você, tira o representante de lá se ele não o representar bem. A imunidade protege o eleitor e não o representante que não fala por si, fala por você. O eleitor não tem de dar nenhuma satisfação para fazer um “recall” ou “retomar” um mandato. Só tem de consultar os demais representados dele. Se a maioria dos eleitores do distrito concordar, rua!
O resto é o federalismo que faz. Como tudo deve estar sempre referido a pessoas a unica fonte de legitimidade do processo político, tudo deve partir e tudo deve voltar, na maior medida possivel, para a célula eleitoral mais próxima do indivíduo: o bairro, o distrito. Lá ele tem de ter plenos podres. Daí para cima quem ordena as relações entre as instâncias maiores e menores de representação é o principio do federalismo. Ele estabelece que tudo que puder ser resolvido por um unico distrito – a escola local, por exemplo – deve ser decidido, gerido e, se possivel, financiado por esse distrito. Ao município, um conjunto de distritos, deve ser deixado tudo que pode ser decidido e financiado num unico municipio (parques, zoneamento, regras de convivência, policia local, saneamento, etc.). Aos estados só o que não puder ser resolvido por um unico municipio (como estradas, combate ao crime e etc.). E à união apenas o que não puder ser resolvido por um unico estado (diplomacia, relações internacionais, controle da moeda e defesa nacional).
Num sistema desses acaba aquele papo do “eu falo em nome do povo”. Passa a ser possivel conferir isso, preto no branco, só pelas pessoas afetadas por cada tipo de decisão a ser tomada. Não ha milagre. Esse sistema põe um patrão em cima de cada político – você! – que fica obrigado a jogar do jeitinho que você quiser para não perder o emprego.
A democracia foi inventada para inverter o jogo ancestral da minoria mandando na maioria na base da violência, mas sem que a maioria se transformasse em outra forma de tirania contra as minorias. O voto distrital puro com recall, referendo e iniciativa é a única fórmula que entrega essas duas coisas juntas. Mas atenção! O voto distrital não é um fim, é só um meio para um objetivo mais amplo. O sistema tem de ser o distrital puro para que os direitos de recall, referendo e inciativa – estes sim as ferramentas operacionais que mudam tudo – possam ser exercidos com garantia de legitimidade e sem ter de parar o país inteiro a cada passo.
Esse sistema permite que, com a maior facilidade mas não qualquer facilidade, cada eleitor convoque um recall ou referendo indubitavelmente do seu representante a ser votado só no seu distrito acionando um mecanismo absolutamente transparente. Qualquer cidadão das maiorias ou das minorias eventuais em que o distrito se divide a cada eleição poderá iniciar um processo de recall contra o representante que, uma vez eleito, passa a ser o representante daquele distrito. Se colher o numero estipulado de assinaturas, o distrito inteiro é chamado a votar de novo para derrubar ou manter, seja o representante, seja a lei do legislativo local (municipal ou estadual) que se queira desafiar por referendo.
Para garantir a legitimidade e a funcionalidade desses processos num sistema representativo cada distrito tem de ser desenhado em cima do mapa real da população e ter aproximadamente o mesmo numero de pessoas. Assim, um município pode decidir quantos representantes quer ter na sua Câmara Municipal, mas o tamanho dos seus distritos eleitorais será dado pela divisão do total de habitantes pelo numero de representantes desejado. Os distritos estaduais e federais serão sobrepostos aos distritos menores.
Uma vez estabelecidos, esses distritos municipais, estaduais ou nacionais são numerados e daí para a frente só poderão ser alterados em função do censo populacional, um critério inteiramente objetivo. Cada eleitor passa a ser um “Eleitor do Distrito (municipal, estadual ou federal) nº Tal” até o censo registrar que ele mudou de la. Como cada representante só pode disputar os votos de um único distrito quem for eleito terá condições de saber o nome e o endereço de cada um dos seus representados, e vice-versa.
Por isso nos Estados Unidos os deputados do Congresso Nacional não são representantes do “estado fulano”, são representantes do “Distrito Congressional nº Tal”. Esse distrito tende a coincidir com um estado mas isso não é obrigatório. No senado, sim, a representação é dos estados, independentemente da população. Dois senadores por estado. Na Câmara o unico limite é o minimo de um representante mesmo para estados que tenham menos de 700 mil habitantes, que é o tamanho de cada distrito nacional porque eles têm 435 deputados e são 304 milhões de habitantes. Cada deputado representa, portanto, “aqueles” 700 mil cidadãos com existência física e endereço certo e sabido. Num Brasil de 513 deputados cada distrito federal teria cerca de 400 mil habitantes. Se algum representante morrer, renunciar ou sair do Congresso por qualquer motivo, não tem suplente ou reposição pelo partido. Convoca-se outra eleição só naquele distrito para eleger o substituto. O representante de cada eleitor nos centros de decisão é pessoal e intransferível. Você, e só você, põe o seu representante. Você, e só você, tira o representante de lá se ele não o representar bem. A imunidade protege o eleitor e não o representante que não fala por si, fala por você. O eleitor não tem de dar nenhuma satisfação para fazer um “recall” ou “retomar” um mandato. Só tem de consultar os demais representados dele. Se a maioria dos eleitores do distrito concordar, rua!
O resto é o federalismo que faz. Como tudo deve estar sempre referido a pessoas a unica fonte de legitimidade do processo político, tudo deve partir e tudo deve voltar, na maior medida possivel, para a célula eleitoral mais próxima do indivíduo: o bairro, o distrito. Lá ele tem de ter plenos podres. Daí para cima quem ordena as relações entre as instâncias maiores e menores de representação é o principio do federalismo. Ele estabelece que tudo que puder ser resolvido por um unico distrito – a escola local, por exemplo – deve ser decidido, gerido e, se possivel, financiado por esse distrito. Ao município, um conjunto de distritos, deve ser deixado tudo que pode ser decidido e financiado num unico municipio (parques, zoneamento, regras de convivência, policia local, saneamento, etc.). Aos estados só o que não puder ser resolvido por um unico municipio (como estradas, combate ao crime e etc.). E à união apenas o que não puder ser resolvido por um unico estado (diplomacia, relações internacionais, controle da moeda e defesa nacional).
Num sistema desses acaba aquele papo do “eu falo em nome do povo”. Passa a ser possivel conferir isso, preto no branco, só pelas pessoas afetadas por cada tipo de decisão a ser tomada. Não ha milagre. Esse sistema põe um patrão em cima de cada político – você! – que fica obrigado a jogar do jeitinho que você quiser para não perder o emprego.
Lula candidato? Nunca
Luiz Inácio Lula da Silva está novamente no primeiro plano da política brasileira. Mesmo condenado a nove anos e meio de prisão e sendo réu em seis ações penais — excluindo diversos inquéritos que podem ser recebidos pela Justiça —, hoje, ele é o principal ator do pleito presidencial de 2018. Representa o que há de pior na política nacional: o descompromisso com os destinos do Brasil, o oportunismo, a fala despolitizada, o caudilhismo, o trato da coisa pública como coisa privada. Resiste à ação da Justiça contando com o beneplácito da elite política, grande parte dela também envolvida com a corrupção que apresou o Estado brasileiro.

A condenação — ou condenações — de Lula e o cumprimento da pena em regime fechado não vão simbolizar somente a punição de um chefe — vá lá — partidário que exerceu por duas vezes a Presidência da República. Demonstrará mais, muito mais. Será o sinal de que ninguém está acima das leis, que qualquer mandão — local ou nacional — não poderá se abrigar sob o manto das nefastas relações políticas de Brasília. Isto pode explicar, por exemplo, a reiteração do PSDB de que pretende vencer Lula nas urnas, como se a cédula fosse superior à lei e a urna pudesse inocentar ou condenar um cidadão. Em outras palavras, a prisão do ex-presidente indica que qualquer líder político, inclusive do PSDB, poderá ser condenado e preso. Aí o espírito de corpo transcende as fronteiras partidárias: eles, os senhores do baraço e do cutelo, unem-se e rejeitam que um dos seus possa cumprir na cadeia a pena a que foi condenado. Argumentam, hipocritamente, que a Justiça foi longe demais, que ninguém pode se sentir seguro, que o estado democrático de direito está correndo sério risco. E não faltarão juristas — regiamente pagos — para encontrar algum dispositivo na legislação que não foi devidamente respeitado e que, portanto, seria nula a ação da Justiça.
A Constituição proíbe que o presidente da República permaneça na função quando uma infração penal comum ou queixa-crime for recebida pelo Supremo Tribunal Federal (artigo 86, parágrafo 1º). Assim, como um condenado — e não réu — poderá ser candidato no pleito de outubro de 2018? E, como qualquer candidato pode chegar à Presidência da República, teremos um apenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro gerindo a coisa pública! O que dirá desta vez o STF? Qual o malabarismo que será adotado para justificar o injustificável?
Lula continua na ofensiva. Ataca sistematicamente o juiz Sergio Moro. Desqualifica a operação Lava-Jato. Desmoraliza a ação do Ministério Público Federal. E nada acontece. Poderia, de acordo com o Código de Processo Penal (artigo 312) ser preso, no mínimo, por colocar em risco a ordem pública. Nenhum ministro do STF saiu em defesa do juiz Moro quando vilipendiado pelo criminoso Lula. Nenhum. Na última sexta-feira, foi chamado de “um cara do mal.” Dias antes, de “surdo.” Disse que as provas foram arranjadas para garantir sua condenação. Silêncio no STF. Por quê? Estavam viajando e não tomaram conhecimento dos fatos? Tiveram medo? Encontravam-se cuidando dos rendosos negócios particulares?
A desmoralização do estado democrático de direito joga água no moinho do autoritarismo. Estimula o extremismo. Aponta que as instituições estão a serviço de criminosos como Luiz Inácio Lula da Silva. O curioso é que ele conta também com o apoio entusiástico dos partidos chamados conservadores — no sentido brasileiro, não inglês. Basta acompanhar a política na Região Nordeste. Lá o PSD, PP, PMDB, PR, PRB e PSB, entre outros, apoiam entusiasticamente os governos do PT e a possível candidatura Lula. Desejam manter seus feudos provinciais e garantir participação no governo central. Pouco importam os valores democráticos, o cumprimento da Constituição. Não estão nem aí com as instituições. Querem é participar da partilha do poder. Mas não só os coronéis nordestinos que dão as costas ao interesse nacional. E o grande capital? Este comunga da mesma forma de agir dos oligarcas: observa a cena política sempre à procura de lucros, fáceis, preferencialmente. Não tem qualquer contradição antagônica com Lula. Pelo contrário, o veem como um realizador. Os mais entusiasmados o consideram um estadista. Ele representa a ordem — e bons negócios, claro. Não custa recordar que o grande empresariado se omitiu — com raríssimas exceções — na luta pelo impeachment de Dilma Rousseff.
A prisão imediata de Lula — e não faltam razões — não conta com o apoio da elite dirigente. Temem uma comoção popular. Contudo, quando da condução coercitiva, em março de 2016, nada aconteceu. Somando os manifestantes que estavam em frente ao seu apartamento, em São Bernardo do Campo, com aqueles que encontravam-se na sede do Partido dos Trabalhadores e no Aeroporto de Congonhas, ambos em São Paulo, não havia mais que 500 pessoas, isto apesar da ampla cobertura da imprensa. Nas recentes caravanas pelo Brasil, em nenhum local houve ato que tivesse mais que cinco mil pessoas — na verdade, na maior parte deles, o número poderia ser contado em algumas centenas. Portanto, a “resistência popular” não pode ser usada como artifício para justificar a complacência ou, sendo mais direto, a covardia.
A possível homologação da candidatura Lula pela Justiça Eleitoral representará o ápice da desmoralização das instituições. A partir daí, o país poderá entrar em um caminho sem volta. O imprevisível vai tomar conta do país. E nenhuma alternativa política poderá ser descartada.
Marco Antonio Villa

A Constituição proíbe que o presidente da República permaneça na função quando uma infração penal comum ou queixa-crime for recebida pelo Supremo Tribunal Federal (artigo 86, parágrafo 1º). Assim, como um condenado — e não réu — poderá ser candidato no pleito de outubro de 2018? E, como qualquer candidato pode chegar à Presidência da República, teremos um apenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro gerindo a coisa pública! O que dirá desta vez o STF? Qual o malabarismo que será adotado para justificar o injustificável?
Lula continua na ofensiva. Ataca sistematicamente o juiz Sergio Moro. Desqualifica a operação Lava-Jato. Desmoraliza a ação do Ministério Público Federal. E nada acontece. Poderia, de acordo com o Código de Processo Penal (artigo 312) ser preso, no mínimo, por colocar em risco a ordem pública. Nenhum ministro do STF saiu em defesa do juiz Moro quando vilipendiado pelo criminoso Lula. Nenhum. Na última sexta-feira, foi chamado de “um cara do mal.” Dias antes, de “surdo.” Disse que as provas foram arranjadas para garantir sua condenação. Silêncio no STF. Por quê? Estavam viajando e não tomaram conhecimento dos fatos? Tiveram medo? Encontravam-se cuidando dos rendosos negócios particulares?
A desmoralização do estado democrático de direito joga água no moinho do autoritarismo. Estimula o extremismo. Aponta que as instituições estão a serviço de criminosos como Luiz Inácio Lula da Silva. O curioso é que ele conta também com o apoio entusiástico dos partidos chamados conservadores — no sentido brasileiro, não inglês. Basta acompanhar a política na Região Nordeste. Lá o PSD, PP, PMDB, PR, PRB e PSB, entre outros, apoiam entusiasticamente os governos do PT e a possível candidatura Lula. Desejam manter seus feudos provinciais e garantir participação no governo central. Pouco importam os valores democráticos, o cumprimento da Constituição. Não estão nem aí com as instituições. Querem é participar da partilha do poder. Mas não só os coronéis nordestinos que dão as costas ao interesse nacional. E o grande capital? Este comunga da mesma forma de agir dos oligarcas: observa a cena política sempre à procura de lucros, fáceis, preferencialmente. Não tem qualquer contradição antagônica com Lula. Pelo contrário, o veem como um realizador. Os mais entusiasmados o consideram um estadista. Ele representa a ordem — e bons negócios, claro. Não custa recordar que o grande empresariado se omitiu — com raríssimas exceções — na luta pelo impeachment de Dilma Rousseff.
A prisão imediata de Lula — e não faltam razões — não conta com o apoio da elite dirigente. Temem uma comoção popular. Contudo, quando da condução coercitiva, em março de 2016, nada aconteceu. Somando os manifestantes que estavam em frente ao seu apartamento, em São Bernardo do Campo, com aqueles que encontravam-se na sede do Partido dos Trabalhadores e no Aeroporto de Congonhas, ambos em São Paulo, não havia mais que 500 pessoas, isto apesar da ampla cobertura da imprensa. Nas recentes caravanas pelo Brasil, em nenhum local houve ato que tivesse mais que cinco mil pessoas — na verdade, na maior parte deles, o número poderia ser contado em algumas centenas. Portanto, a “resistência popular” não pode ser usada como artifício para justificar a complacência ou, sendo mais direto, a covardia.
A possível homologação da candidatura Lula pela Justiça Eleitoral representará o ápice da desmoralização das instituições. A partir daí, o país poderá entrar em um caminho sem volta. O imprevisível vai tomar conta do país. E nenhuma alternativa política poderá ser descartada.
Marco Antonio Villa
Fora demagogia!
Pior seria ter confiança nos nossos políticos. O brasileiro começa a rejeitar a demagogia e a exigir transparência e honestidadeMiguel Reale Jr
Fome de decência pode minar alianças de 2018
Graças à epidemia de corrupção, o Brasil vive tempos extraordinários. Há cadáveres demais no noticiário político. Em consequência, uma fome de limpeza paira no ar. Alheios à demanda por decência, os partidos se equipam para a sucessão de 2018 de forma ordinária. Costuram-se coligações partidárias sem levar em conta o risco de as candidaturas trançadas de maneira convencional se espatifarem. Considerando-se o prontuário de certos articuladores, espatifar é o termo mais adequado.

Como ocorre às vésperas de toda eleição, o espírito de bazar baixou na política brasileira. Partidos sujos negociam seu tempo de propaganda no rádio e na tevê à luz do dia, na frente das crianças. Há cenas constrangedoras, como a disputa mal disfarçada que Geraldo Alckmin (PSDB) e Henrique Meirelles (PSD) travam pelas vitrines eletrônicas do PMDB e do rebotalho do centrão —PP, PR, PRB, PTB, SD e etc. (Leia aqui notícia do repórter Ranier Bragon sobre o tempo de que dispõe cada legenda.)
Na sucessão de 2014, o grosso dos partidos que orbitam ao redor do governo Temer estavam com Dilma Rousseff. A pupila de Lula tinha a campanha com o maior tempo de propaganda, com mais dinheiro e com mais marquetagem. A megaestrutura foi utilizada para desconstruir adversários, especialmente Marina Silva, não para construir Dilma. O resultado foi um estelionato eleitoral. Reeleita, Dilma adotou o programa econômico de Aécio Neves. Criticada, tornou-se uma gestora caótica. O ciclismo fiscal, a gestão empregocida e a ruína moral custaram-lhe o cargo.
Repete-se agora a mesma pantomima. Um paradoxo aprisiona os candidatos: antes de se venderem no horário eleitoral como protótipos do avanço, eles entregam a alma ao atraso em troca de alguns minutos adicionais de propaganda eleitoral. Com isso, o Brasil vive sob uma crise eterna de compostura. A sociedade é incapaz de enxergar ética nos políticos. E os políticos são incapazes de demonstrá-la.
Alguns candidatos ainda não se deram conta, mas na eleição de 2018 a aversão aos partidos, que leva o eleitorado a buscar novidades, pode transformar as máquinas partidárias e tudo o que elas representam num elemento tóxico. Por mal dos pecados, a grande surpresa da pré-temporada eleitoral chama-se Jair Bolsonaro, cuja estrutura partidária é, por ora, nenhuma. A ascensão de Bolsonaro como alternativa a Lula, um candidato condenado criminalmente, demonstra que, se não for saciada adequadamente, a fome de decência pode levar o eleitorado a mastigar a racionalidade.

Na sucessão de 2014, o grosso dos partidos que orbitam ao redor do governo Temer estavam com Dilma Rousseff. A pupila de Lula tinha a campanha com o maior tempo de propaganda, com mais dinheiro e com mais marquetagem. A megaestrutura foi utilizada para desconstruir adversários, especialmente Marina Silva, não para construir Dilma. O resultado foi um estelionato eleitoral. Reeleita, Dilma adotou o programa econômico de Aécio Neves. Criticada, tornou-se uma gestora caótica. O ciclismo fiscal, a gestão empregocida e a ruína moral custaram-lhe o cargo.
Repete-se agora a mesma pantomima. Um paradoxo aprisiona os candidatos: antes de se venderem no horário eleitoral como protótipos do avanço, eles entregam a alma ao atraso em troca de alguns minutos adicionais de propaganda eleitoral. Com isso, o Brasil vive sob uma crise eterna de compostura. A sociedade é incapaz de enxergar ética nos políticos. E os políticos são incapazes de demonstrá-la.
Alguns candidatos ainda não se deram conta, mas na eleição de 2018 a aversão aos partidos, que leva o eleitorado a buscar novidades, pode transformar as máquinas partidárias e tudo o que elas representam num elemento tóxico. Por mal dos pecados, a grande surpresa da pré-temporada eleitoral chama-se Jair Bolsonaro, cuja estrutura partidária é, por ora, nenhuma. A ascensão de Bolsonaro como alternativa a Lula, um candidato condenado criminalmente, demonstra que, se não for saciada adequadamente, a fome de decência pode levar o eleitorado a mastigar a racionalidade.
Governo eleva número de comissionados mesmo com promessa de corte
Apesar da promessa do governo de enxugar a máquina, o número de indicados a cargos especiais no governo só cresceu e já é maior do que a quantidade de servidores em funções comissionadas no início da gestão de Michel Temer.
Em junho do ano passado, quando o governo assumiu o compromisso de cortar 4 mil cargos, existiam 20.560 DAS, como são chamadas as vagas de Direção e Assessoramento Superiores.
No lugar dos DAS, que quase sempre são pessoas não concursadas, o governo criou as Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE), para quem já é funcionário de carreira. Todos têm um status a mais e ganham mais por isso.
Na soma, hoje há 22.600 pessoas ocupando vagas especiais. Duas mil a mais em ministérios, autarquias e fundações.

Os dados são oficiais, retirados do Painel Estatístico de Pessoal. O economista Gil Castello Branco, da Contas Abertas, diz que nos últimos meses, as contratações de pessoas em cargos do tipo foi mais intensa.
“A redução nunca chegou aos 4 mil prometidos. O governo começou a cortar esses cargos, mas as contrações começaram a crescer novamente nos últimos meses”, afirmou.
Entre junho e outubro deste ano, meses em que as denúncias contra o presidente Michel Temer foram analisadas pelo Congresso, cerca de 335 pessoas, concursadas ou não, foram alocadas em cargos comissionados em diferentes áreas. O que dá uma média de dois cargos por dia ao longo dos cinco meses.
Em diversos órgãos isso tem afetado o clima entre os trabalhadores. Na Funai, por exemplo, servidores protestaram contra o Diretor de Administração, Francisco José Nunes Ferreira, que indicou nomes para o assessoramento dele e realocou verbas de quase R$ 10 milhões, a revelia do grupo técnico da instituição.
Para o presidente da Associação Nacional dos Servidores da Funai, Rogério Oliveira, o problema não é a indicação, mas a qualidade do indicado. “Os atos recentes praticados pelo Diretor de Administração revelam o perigoso processo de disputa política na direção do órgão, com consequências gravíssimas para a instituição, os povos indígenas e os servidores”, afirmou.
A Funai disse que pediu uma investigação da Corregedoria Interna. O Ministério do Planejamento disse que tem conseguido economizar mais de R$ 190 milhões, com cortes em mais de 4.184 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações.
Em junho do ano passado, quando o governo assumiu o compromisso de cortar 4 mil cargos, existiam 20.560 DAS, como são chamadas as vagas de Direção e Assessoramento Superiores.
No lugar dos DAS, que quase sempre são pessoas não concursadas, o governo criou as Funções Comissionadas do Poder Executivo (FCPE), para quem já é funcionário de carreira. Todos têm um status a mais e ganham mais por isso.
Na soma, hoje há 22.600 pessoas ocupando vagas especiais. Duas mil a mais em ministérios, autarquias e fundações.

“A redução nunca chegou aos 4 mil prometidos. O governo começou a cortar esses cargos, mas as contrações começaram a crescer novamente nos últimos meses”, afirmou.
Entre junho e outubro deste ano, meses em que as denúncias contra o presidente Michel Temer foram analisadas pelo Congresso, cerca de 335 pessoas, concursadas ou não, foram alocadas em cargos comissionados em diferentes áreas. O que dá uma média de dois cargos por dia ao longo dos cinco meses.
Em diversos órgãos isso tem afetado o clima entre os trabalhadores. Na Funai, por exemplo, servidores protestaram contra o Diretor de Administração, Francisco José Nunes Ferreira, que indicou nomes para o assessoramento dele e realocou verbas de quase R$ 10 milhões, a revelia do grupo técnico da instituição.
Para o presidente da Associação Nacional dos Servidores da Funai, Rogério Oliveira, o problema não é a indicação, mas a qualidade do indicado. “Os atos recentes praticados pelo Diretor de Administração revelam o perigoso processo de disputa política na direção do órgão, com consequências gravíssimas para a instituição, os povos indígenas e os servidores”, afirmou.
A Funai disse que pediu uma investigação da Corregedoria Interna. O Ministério do Planejamento disse que tem conseguido economizar mais de R$ 190 milhões, com cortes em mais de 4.184 cargos em comissão, funções de confiança e gratificações.
Enxugando gelo
Parece que os governos estão falando para o vento. Falando e agindo. O que não é um sentimento inédito e raro, total é a desconfiança da sociedade nos políticos brasileiros. Mas o tema central é a histórica necessidade de ajuste fiscal em todos os níveis onde (mal) opera o Estado; União, Estados e municípios absolutamente quebrados estão punindo seus servidores de forma intolerável com atrasos na quitação de suas folhas. Os parcelamentos em três pagamentos dos salários mensais já são aceitos com alegria quando propostos pelo pagador público. Desde que sejam cumpridos tais ajustes, o que nem sempre ocorre. Pagamento de fornecedores já não é regular há séculos, daí o sobrepreço em tudo que o poder público compra, sem falar na corrupção, que irriga a seleção dos que vão receber primeiro. A arrecadação cresce, os governos dizem que estão enxugando despesas, mas as demandas também crescem de forma exponencial, como tudo que é ruim no Brasil. Não cresce a imaginação, nem a qualidade da gestão pública, nem a coragem para enfrentar e mudar.

Um sorvedouro de dinheiro público sempre lembrado, mas considerado apenas tangencialmente – e aí empacamos –, é o custeio de nosso sistema penitenciário. Em todo o mundo, ao que se sabe, o detento é tratado com dignidade humana, mas com certo grau de responsabilidade para com seu sustento. Ou prestando serviços internos, ou sendo utilizado no atendimento de interesses ou demandas do Estado, em países desenvolvidos cada preso alguma coisa sempre produz. No Brasil, não. Ele consome, gasta, não produz, como muitas vezes depreda, danifica, corrompe, e muitos ainda ganham auxílio mensal, pago pelo INSS. Claro que é necessário que tenha um histórico de contribuição social, e aqui não se pretende discutir se é ou não justo tal auxílio, mas ele existe e é, em média, de R$ 1.100 por mês. E a Previdência Social paga. Um preso custa diretamente aos cofres públicos, em média, R$ 3.100 por mês, com pequenas variações de uma para outra penitenciária. Com a terceira maior população carcerária do mundo (cerca de 726 mil detentos) e o segundo maior número de presos por 100 mil habitantes (346), o custeio desse sistema é maior do que o Orçamento fiscal de Santa Catarina, que é de R$ 26,4 bilhões, previstos para 2018. O Estado da região Sul tem 7,001 milhões de habitantes. O gasto público com o sistema penitenciário brasileiro, para efeito de comparação, é de R$ 27,007 bilhões/ano.
E o que resultou disso para o país? De 2011 até agora, ocorreram a duplicação da população carcerária e o aumento desenfreado da criminalidade, muito dela acentuado pela formação de facções dentro dos presídios com maior encarceramento. A recuperação de qualquer delinquente preso no sistema está na escala dos milagres. Sem política alguma de reintegração social do detento, não há nas estatísticas registros que afetem minimamente os números de tão falida realidade, que não consegue sequer parir uma solução que gere economia para sua sustentação. Nem sequer para diminuir o percentual de 40% dos presos, sem qualquer julgamento e condenação penal. E o contribuinte, pagando a conta.
Luiz Tito

Um sorvedouro de dinheiro público sempre lembrado, mas considerado apenas tangencialmente – e aí empacamos –, é o custeio de nosso sistema penitenciário. Em todo o mundo, ao que se sabe, o detento é tratado com dignidade humana, mas com certo grau de responsabilidade para com seu sustento. Ou prestando serviços internos, ou sendo utilizado no atendimento de interesses ou demandas do Estado, em países desenvolvidos cada preso alguma coisa sempre produz. No Brasil, não. Ele consome, gasta, não produz, como muitas vezes depreda, danifica, corrompe, e muitos ainda ganham auxílio mensal, pago pelo INSS. Claro que é necessário que tenha um histórico de contribuição social, e aqui não se pretende discutir se é ou não justo tal auxílio, mas ele existe e é, em média, de R$ 1.100 por mês. E a Previdência Social paga. Um preso custa diretamente aos cofres públicos, em média, R$ 3.100 por mês, com pequenas variações de uma para outra penitenciária. Com a terceira maior população carcerária do mundo (cerca de 726 mil detentos) e o segundo maior número de presos por 100 mil habitantes (346), o custeio desse sistema é maior do que o Orçamento fiscal de Santa Catarina, que é de R$ 26,4 bilhões, previstos para 2018. O Estado da região Sul tem 7,001 milhões de habitantes. O gasto público com o sistema penitenciário brasileiro, para efeito de comparação, é de R$ 27,007 bilhões/ano.
E o que resultou disso para o país? De 2011 até agora, ocorreram a duplicação da população carcerária e o aumento desenfreado da criminalidade, muito dela acentuado pela formação de facções dentro dos presídios com maior encarceramento. A recuperação de qualquer delinquente preso no sistema está na escala dos milagres. Sem política alguma de reintegração social do detento, não há nas estatísticas registros que afetem minimamente os números de tão falida realidade, que não consegue sequer parir uma solução que gere economia para sua sustentação. Nem sequer para diminuir o percentual de 40% dos presos, sem qualquer julgamento e condenação penal. E o contribuinte, pagando a conta.
Luiz Tito
A caixa-preta dos partidos
Com aumento de 378% nos recursos públicos para partidos e candidatos, a campanha de 2018 corre o risco de virar um espetáculo caríssimo no escurinho das contas partidárias
Vai ser um volume de dinheiro como nunca se viu, extraído do bolso dos contribuintes diretamente para os cofres dos partidos políticos.
Detalhe relevante: são mínimas as chances de efetivo controle e fiscalização do uso desses recursos públicos, como demonstra o histórico recente das contas partidárias.

Em setembro, quando o Congresso definiu as regras da disputa eleitoral, parlamentares previam um gasto de R$ 2,6 bilhões no financiamento de partidos e candidatos em 2018.
Seriam R$ 900 milhões do atual Fundo Partidário. Outros R$ 1,7 bilhão viriam do recém-criado fundo de campanha.
Significaria um aumento de 188% no fluxo de dinheiro público para 35 organizações, 28 com bancada no Congresso. É dinheiro suficiente para pagar 35% das obras em transportes públicos previstas para o ano que vem.
Agora, às vésperas da aprovação do Orçamento da União para 2017, alguns deputados e senadores percebem que a lei (nº 13.487) foi redigida com um texto maroto. Ela prevê que o fundo de campanha terá valor “ao menos equivalente” a 30% do custo das emendas orçamentárias (individuais e de bancadas) aprovadas.
Com essas três palavras (“ao menos equivalente”) fez-se a alquimia: a previsão de gasto máximo de R$ 1,7 bilhão virou mínimo, ou piso, de despesas com o fundo de campanha.
Em consequência, estima-se que a drenagem de recursos orçamentários para partidos e candidatos alcance R$ 4,3 bilhões em 2018 — extraordinário aumento de 378% em relação a este ano, em meio a uma grave crise fiscal. Pode subir mais, por efeito das trocas de emendas por votos na aprovação da reforma da Previdência.
São rarefeitas as possibilidades de fiscalização e controle desse dinheiro, porque as contas partidárias permanecem como um dos grandes mistérios das finanças públicas brasileiras.
Análise endossada por 19 organizações não governamentais sobre as despesas dos cinco maiores partidos entre 2013 e 2015 mostra que a única certeza possível sobre as contas partidárias é a dúvida a respeito da efetiva realização dos gastos declarados à Justiça Eleitoral.
Não existe sequer padronização contábil. E as indicações de uso do dinheiro público são vagas o suficiente para impedir a checagem, com títulos genéricos como “serviços técnico-profissionais”, “serviços e utilidades” e “manutenção da sede e serviços do partido”.
PMDB, PT, PSDB, PP e PR repassaram R$ 160 milhões às respectivas fundações e institutos, entre 2013 e 2015. A consultoria Pulso Público vasculhou as contas e sites das instituições mas não encontrou dados sobre essas despesas custeadas com recursos públicos.
Em 2015, o PSDB consumiu R$ 41 milhões em “manutenção da sede e serviços do partido”, valor suficiente para aquisição um dúplex de 650 metros quadrados como o anunciado pelo empresário Joesley Batista na Quinta Avenida, em Nova York.
No mesmo ano, o PT gastou R$ 28 milhões no pagamento de “mensalidades a organismos partidários internacionais”. É quase metade do gasto anual do Brasil com a missão de paz no Haiti na última década. O partido declarou ter dissipado outros R$ 45 milhões na sua folha de “despesas com pessoal”.
A campanha de 2018 corre o risco de se transformar num espetáculo caríssimo no escurinho das contas partidárias.
Vai ser um volume de dinheiro como nunca se viu, extraído do bolso dos contribuintes diretamente para os cofres dos partidos políticos.
Detalhe relevante: são mínimas as chances de efetivo controle e fiscalização do uso desses recursos públicos, como demonstra o histórico recente das contas partidárias.

Seriam R$ 900 milhões do atual Fundo Partidário. Outros R$ 1,7 bilhão viriam do recém-criado fundo de campanha.
Significaria um aumento de 188% no fluxo de dinheiro público para 35 organizações, 28 com bancada no Congresso. É dinheiro suficiente para pagar 35% das obras em transportes públicos previstas para o ano que vem.
Agora, às vésperas da aprovação do Orçamento da União para 2017, alguns deputados e senadores percebem que a lei (nº 13.487) foi redigida com um texto maroto. Ela prevê que o fundo de campanha terá valor “ao menos equivalente” a 30% do custo das emendas orçamentárias (individuais e de bancadas) aprovadas.
Com essas três palavras (“ao menos equivalente”) fez-se a alquimia: a previsão de gasto máximo de R$ 1,7 bilhão virou mínimo, ou piso, de despesas com o fundo de campanha.
Em consequência, estima-se que a drenagem de recursos orçamentários para partidos e candidatos alcance R$ 4,3 bilhões em 2018 — extraordinário aumento de 378% em relação a este ano, em meio a uma grave crise fiscal. Pode subir mais, por efeito das trocas de emendas por votos na aprovação da reforma da Previdência.
São rarefeitas as possibilidades de fiscalização e controle desse dinheiro, porque as contas partidárias permanecem como um dos grandes mistérios das finanças públicas brasileiras.
Análise endossada por 19 organizações não governamentais sobre as despesas dos cinco maiores partidos entre 2013 e 2015 mostra que a única certeza possível sobre as contas partidárias é a dúvida a respeito da efetiva realização dos gastos declarados à Justiça Eleitoral.
Não existe sequer padronização contábil. E as indicações de uso do dinheiro público são vagas o suficiente para impedir a checagem, com títulos genéricos como “serviços técnico-profissionais”, “serviços e utilidades” e “manutenção da sede e serviços do partido”.
PMDB, PT, PSDB, PP e PR repassaram R$ 160 milhões às respectivas fundações e institutos, entre 2013 e 2015. A consultoria Pulso Público vasculhou as contas e sites das instituições mas não encontrou dados sobre essas despesas custeadas com recursos públicos.
Em 2015, o PSDB consumiu R$ 41 milhões em “manutenção da sede e serviços do partido”, valor suficiente para aquisição um dúplex de 650 metros quadrados como o anunciado pelo empresário Joesley Batista na Quinta Avenida, em Nova York.
No mesmo ano, o PT gastou R$ 28 milhões no pagamento de “mensalidades a organismos partidários internacionais”. É quase metade do gasto anual do Brasil com a missão de paz no Haiti na última década. O partido declarou ter dissipado outros R$ 45 milhões na sua folha de “despesas com pessoal”.
A campanha de 2018 corre o risco de se transformar num espetáculo caríssimo no escurinho das contas partidárias.
'Estudo' do IPEA omite desemprego, sonegação e fraudes nas contas do INSS
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – reportagem de Geralda Doca, O Globo desta segunda-feira, aponta o envelhecimento da população como a causa principal do déficit registrado na Previdência Social Pública brasileira. Acentua que agora a percentagem dos aposentados e pensionistas atinge 14,2% da população, ou seja, cerca de 29 milhões de pessoas. O IPEA omite uma série de causas que influem para formação do prejuízo: desemprego, sonegação empresarial e fraudes, que têm no episódio como o de Jorgina de Freitas outro fator emblemático. Vale notar um detalhe: o IPEA, como vários órgãos do governo, chama as aposentadorias e pensões de benefícios. Não são benefícios, são direitos decorrentes das contribuições feitas legalmente por empregados e empregadores.
O IPEA esquece também um outro aspecto. Toda vez que os governos anunciam mudanças na Previdência Social em conseqüência, os trabalhadores e trabalhadoras que têm tempo suficiente iniciam uma corrida de maratona para se aposentar. Assim ocorreu nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, assim ocorre agora no desgoverno Michel Temer.
O IPEA esquece também um outro aspecto. Toda vez que os governos anunciam mudanças na Previdência Social em conseqüência, os trabalhadores e trabalhadoras que têm tempo suficiente iniciam uma corrida de maratona para se aposentar. Assim ocorreu nos governos de Fernando Henrique Cardoso e Lula, assim ocorre agora no desgoverno Michel Temer.
Nunca pensei em que a longevidade, meta sempre desejada pelos seres humanos, fosse alguma vez exposta como causa de desequilíbrio financeiro nas contas públicas. Inclusive vale notar uma situação altamente favorável ao INSS, no caso dos celetistas que se aposentam e continuam trabalhando. Eles descontam para a Previdência e nada recebem em troca. Trata-se de um caso explícito de contribuição sem retribuição.
Sensível a essa desigualdade, o então ministro Nascimento Silva, no governo Ernersto Geisel, em 1975, propôs a criaço da conta pecúlio. O Congresso aprovou a matéria e Geisel a transformou em lei. Tratava-se do seguinte. Os aposentados que permaneciam no mercado de trabalho descontavam normalmente para o INSS e quando deixassem definitivamente de trabalhar podiam sacar o pecúlio, corrigido monetariamente nos moldes do sistema do FGTS.
O presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro governo, acabou com a conta pecúlio. Não devolveu o dinheiro capitalizado de 75 a 98. A partir daí, os aposentados que trabalham passaram a ser descontados para nada. O nada permanece até hoje. Lula e Dilma Rousseff nada fizeram para restabelecer o direito suprimido. Muito menos o presidente Michel Temer.
Os aposentados que permanecem na luta diária continuam submersos na injustiça. Como o INSS contabiliza os recursos que recolhem? Uma boa pergunta para o IPEA responder. Quantos são os aposentados que descontam para nada receber em troca? Nem o IPEA, nem o INSS explicam. Talvez nem Freud explique.
O desemprego é mais um fator de bloqueio à receita da Previdência social. Claro. O INSS arrecada sobre a folha de salários. Se esta diminui, evidentemente reduz-se a arrecadação. Não conseguindo evitar a rima, indago sobre a sonegação, principalmente no meio rural. Cálculos de auditores fiscais estimam que ela passe da casa de 1 trilhão de reais. O INSS não consegue cobrar. E o INSS durante longo tempo também não obteve êxito em impedir fraudes como a de Jorgina de Freitas.
Os técnicos do IPEA, autores do estudo, talvez não fossem nascidos na época de Jorgina. Agora eles elaboram trabalhos nos quais não incluem os fatores que cito neste artigo.
Em entrevista a Maria Cristina Frias, Folha de São Paulo de ontem, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que a privatização da holding vai ocorrer entre setembro e dezembro de 2018. Para ele, a coincidência com as urnas do próximo ano não constitui problema. E se a privatização não ocorrer de forma integral, a solução será vender uma a uma das empresas que compõem o sistema, como é o caso de Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul.
Para Wilson Ferreira Júnior a Eletrobrás acusa um déficit anual de 2,5 bilhões de reais. Ele vê problema nesse déficit, não se referiu à dívida da empresa, da ordem de 78 bilhões de reais, como apontou o jornalista Júlio Wiziack, edição de domingo da mesma Folha de São Paulo. Fica o registro.
Sensível a essa desigualdade, o então ministro Nascimento Silva, no governo Ernersto Geisel, em 1975, propôs a criaço da conta pecúlio. O Congresso aprovou a matéria e Geisel a transformou em lei. Tratava-se do seguinte. Os aposentados que permaneciam no mercado de trabalho descontavam normalmente para o INSS e quando deixassem definitivamente de trabalhar podiam sacar o pecúlio, corrigido monetariamente nos moldes do sistema do FGTS.
O presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro governo, acabou com a conta pecúlio. Não devolveu o dinheiro capitalizado de 75 a 98. A partir daí, os aposentados que trabalham passaram a ser descontados para nada. O nada permanece até hoje. Lula e Dilma Rousseff nada fizeram para restabelecer o direito suprimido. Muito menos o presidente Michel Temer.
Os aposentados que permanecem na luta diária continuam submersos na injustiça. Como o INSS contabiliza os recursos que recolhem? Uma boa pergunta para o IPEA responder. Quantos são os aposentados que descontam para nada receber em troca? Nem o IPEA, nem o INSS explicam. Talvez nem Freud explique.
O desemprego é mais um fator de bloqueio à receita da Previdência social. Claro. O INSS arrecada sobre a folha de salários. Se esta diminui, evidentemente reduz-se a arrecadação. Não conseguindo evitar a rima, indago sobre a sonegação, principalmente no meio rural. Cálculos de auditores fiscais estimam que ela passe da casa de 1 trilhão de reais. O INSS não consegue cobrar. E o INSS durante longo tempo também não obteve êxito em impedir fraudes como a de Jorgina de Freitas.
Os técnicos do IPEA, autores do estudo, talvez não fossem nascidos na época de Jorgina. Agora eles elaboram trabalhos nos quais não incluem os fatores que cito neste artigo.
Em entrevista a Maria Cristina Frias, Folha de São Paulo de ontem, o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, afirmou que a privatização da holding vai ocorrer entre setembro e dezembro de 2018. Para ele, a coincidência com as urnas do próximo ano não constitui problema. E se a privatização não ocorrer de forma integral, a solução será vender uma a uma das empresas que compõem o sistema, como é o caso de Furnas, Chesf, Eletronorte e Eletrosul.
Para Wilson Ferreira Júnior a Eletrobrás acusa um déficit anual de 2,5 bilhões de reais. Ele vê problema nesse déficit, não se referiu à dívida da empresa, da ordem de 78 bilhões de reais, como apontou o jornalista Júlio Wiziack, edição de domingo da mesma Folha de São Paulo. Fica o registro.
Senador José Porfírio, Pará, Amazônia: altíssimo risco
O município de Senador José Porfírio é sede do maior projeto de mineração de ouro a céu aberto, proposto por uma corporação canadense, a Belo Sun. É liderado por um prefeito do PSDB, Dirceu Biancardi, que em 29 de novembro trancou professores, alunos e convidados dentro de um auditório da Universidade Federal do Pará, em Belém, impedindo o debate acadêmico e transformando o lugar em palanque para defender a mineradora canadense. De 2013 a 2017, o desmatamento no município aumentou mais de 500%. Parte deste aumento é atribuído por analistas a outro megaempreendimento: a hidrelétrica de Belo Monte. E, para completar este quadro, a atual secretária do Meio Ambiente do município, Zelma Campos, está ameaçada de morte.
A disputa em torno de Belo Sun deveria estar no centro do debate público no Brasil. Mas não está. O que acontece na Amazônia tem efeitos no clima do país e do planeta, mas a Amazônia segue longe demais. Como tão poucos se importam, os violentos se sentem à vontade para agir violentamente, quem discorda é repelido ou mesmo ameaçado e a tensão tornou-se um estado permanente na região.
O que acontece hoje na área que a mineradora Belo Sun quer se instalar e no município de José Porfírio é o retrato de um cotidiano de exceção que vai estendendo raízes cada vez mais longas, a ponto de um prefeito do qual a maioria do Brasil nunca ouvira falar interditar o debate de uma universidade federal na capital do Pará. E também um país em que outras cisões, cuidadosamente articuladas, estão em curso.
O momento é grave e os brasileiros, do sul ao norte, precisam compreender algo que deveria ser ensinado nas escolas: na Amazônia, acontece primeiro.
Em 6 de dezembro, o Tribunal Regional Federal da 1a Região suspendeu por tempo indeterminado o licenciamento de Belo Sun e determinou que os povos indígenas sejam ouvidos como determina a Constituição brasileira e a legislação internacional. Esta foi uma vitória, mas uma vitória que todos os envolvidos sabem que pode ser apenas temporária. Se a mineradora canadense avançar sobre o ouro da Amazônia, a Volta Grande do Xingu será duplamente impactada e ninguém poderá prever o tamanho do efeito na floresta, nos rios e na alteração do clima. É correto afirmar que não se destrói a floresta aqui sem perder qualidade de vida em toda parte.
Hoje, Belo Monte converteu-se numa obra ligada à corrupção, à violência contra os povos da floresta e à devastação da Amazônia. Altamira, a principal afetada pela construção da barragem, tornou-se a cidade (com mais de 100 mil habitantes) mais violenta do Brasil. À Belo Monte já está colado um significado negativo. Mas enquanto ela foi construída, os que denunciavam os acordos e as violações eram chamados de “inimigos do progresso” e a maior parte da população brasileira ou defendeu a hidrelétrica ou se omitiu.
A história hoje se repete com Belo Sun, defendida nos eventos públicos por representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) do Pará, a licenciadora da obra, e pelo prefeito de Senador José Porfírio com ardor igual ou superior aos próprios representantes da mineradora canadense. A ênfase é no dinheiro que entrará para os cofres públicos, no “progresso” para uma região “pobre” e nos supostos empregos. O agravante é que a história se repete num governo dominado pelos que se chamam de “ruralistas”, fiadores de um presidente denunciado duas vezes e salvo duas vezes por um Congresso corrupto. Se os atos de exceção têm se repetido no centro-sul do país, é possível alcançar o tamanho da desenvoltura de grileiros e desmatadores na região amazônica.
Sobre Belo Monte, ainda se podia alegar que era uma obra para produzir um bem público – energia –, embora já estava bastante claro que o objetivo principal era outro. E podia se alegar também que era uma obra do Estado construída por empreiteiras privadas e explorada e administrada por um consórcio de empresas públicas e privadas. E sobre Belo Sun? Qual é o benefício de arrebentar ainda mais a floresta e especialmente uma região que já sofreu grande impacto para que uma empresa canadense possa extrair toneladas de ouro e depois sair do país deixando uma montanha de rejeitos tóxicos? Seria obrigatório que o Canadá, país que posa de bom moço no mundo, se manifestasse sobre o que está sendo feito em seu nome na Amazônia brasileira.
A disputa em torno de Belo Sun, porém, está fora do debate central do país, tomado pela Lava Jato e pela eleição de 2018. Quem faz a principal resistência à implantação de uma mineradora canadense que pretende tirar dezenas de toneladas de ouro de uma floresta que tem impacto sobre o planeta é um punhado de homens e mulheres indígenas, especialmente os corajosos Juruna da aldeia Muratu, Terra Indígena de Paquiçamba, na Volta Grande do Xingu. Mas eles estão sozinhos demais.
Num país com tamanho de continente, parece que poucos além dos indígenas enxergam que a mina é a floresta – e não o ouro que se vai.
A disputa em torno de Belo Sun deveria estar no centro do debate público no Brasil. Mas não está. O que acontece na Amazônia tem efeitos no clima do país e do planeta, mas a Amazônia segue longe demais. Como tão poucos se importam, os violentos se sentem à vontade para agir violentamente, quem discorda é repelido ou mesmo ameaçado e a tensão tornou-se um estado permanente na região.
 |
| Prefeito irceu Biancardi (PSDB): em nome da empresa |
O momento é grave e os brasileiros, do sul ao norte, precisam compreender algo que deveria ser ensinado nas escolas: na Amazônia, acontece primeiro.
Em 6 de dezembro, o Tribunal Regional Federal da 1a Região suspendeu por tempo indeterminado o licenciamento de Belo Sun e determinou que os povos indígenas sejam ouvidos como determina a Constituição brasileira e a legislação internacional. Esta foi uma vitória, mas uma vitória que todos os envolvidos sabem que pode ser apenas temporária. Se a mineradora canadense avançar sobre o ouro da Amazônia, a Volta Grande do Xingu será duplamente impactada e ninguém poderá prever o tamanho do efeito na floresta, nos rios e na alteração do clima. É correto afirmar que não se destrói a floresta aqui sem perder qualidade de vida em toda parte.
Hoje, Belo Monte converteu-se numa obra ligada à corrupção, à violência contra os povos da floresta e à devastação da Amazônia. Altamira, a principal afetada pela construção da barragem, tornou-se a cidade (com mais de 100 mil habitantes) mais violenta do Brasil. À Belo Monte já está colado um significado negativo. Mas enquanto ela foi construída, os que denunciavam os acordos e as violações eram chamados de “inimigos do progresso” e a maior parte da população brasileira ou defendeu a hidrelétrica ou se omitiu.
A história hoje se repete com Belo Sun, defendida nos eventos públicos por representantes da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) do Pará, a licenciadora da obra, e pelo prefeito de Senador José Porfírio com ardor igual ou superior aos próprios representantes da mineradora canadense. A ênfase é no dinheiro que entrará para os cofres públicos, no “progresso” para uma região “pobre” e nos supostos empregos. O agravante é que a história se repete num governo dominado pelos que se chamam de “ruralistas”, fiadores de um presidente denunciado duas vezes e salvo duas vezes por um Congresso corrupto. Se os atos de exceção têm se repetido no centro-sul do país, é possível alcançar o tamanho da desenvoltura de grileiros e desmatadores na região amazônica.
Sobre Belo Monte, ainda se podia alegar que era uma obra para produzir um bem público – energia –, embora já estava bastante claro que o objetivo principal era outro. E podia se alegar também que era uma obra do Estado construída por empreiteiras privadas e explorada e administrada por um consórcio de empresas públicas e privadas. E sobre Belo Sun? Qual é o benefício de arrebentar ainda mais a floresta e especialmente uma região que já sofreu grande impacto para que uma empresa canadense possa extrair toneladas de ouro e depois sair do país deixando uma montanha de rejeitos tóxicos? Seria obrigatório que o Canadá, país que posa de bom moço no mundo, se manifestasse sobre o que está sendo feito em seu nome na Amazônia brasileira.
A disputa em torno de Belo Sun, porém, está fora do debate central do país, tomado pela Lava Jato e pela eleição de 2018. Quem faz a principal resistência à implantação de uma mineradora canadense que pretende tirar dezenas de toneladas de ouro de uma floresta que tem impacto sobre o planeta é um punhado de homens e mulheres indígenas, especialmente os corajosos Juruna da aldeia Muratu, Terra Indígena de Paquiçamba, na Volta Grande do Xingu. Mas eles estão sozinhos demais.
Num país com tamanho de continente, parece que poucos além dos indígenas enxergam que a mina é a floresta – e não o ouro que se vai.
Assinar:
Comentários (Atom)