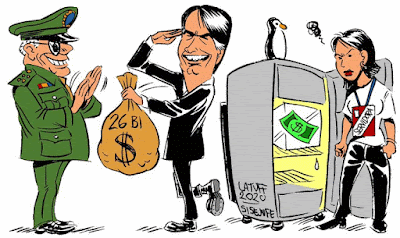Negar a ciência e usar negacionismo em políticas públicas não é falta de informação, é uma mentira e, no caso do Brasil, uma mentira orquestrada pelo governo federal. E essa mentira mata, porque leva pessoas a comportamentos irracionaisNatália Pasternak
sábado, 12 de junho de 2021
Morte no comando
‘Não há crise; Bolsonaro obedece ao Partido Militar’
A candidatura de Jair Bolsonaro em 2018 foi um “cavalo de troia” para os militares tomarem o poder. Agora é importante que o presidente seja tratado como um “estorvo” para que a população clame por uma solução aos generais, embora seja o Exército quem controla de fato o governo.
Quem afirma isso é o coronel da reserva Marcelo Pimentel Jorge de Souza em entrevista à coluna. Pimentel escreveu o artigo “A palavra convence e o exemplo arrasta”, sobre o papel dos militares no governo Bolsonaro, texto que foi publicado no livro “Os Militares e a Crise Brasileira”, organizado pelo professor João Roberto Martins Filho da Universidade Federal de São Carlos.
O coronel, que ficou 38 anos na ativa e foi para reserva em 2018, fez curso na área de inteligência militar e é um grande crítico dos processos de politização dos militares e de militarização da política e da sociedade. Segundo ele, a candidatura de Bolsonaro e o seu governo fazem parte do projeto criado pelo “Partido Militar”, cuja direção seria integrada por generais próximos ao presidente formados na década de 70 na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Para ele, o processo de politização das Forças Armadas decorre das ações das próprias cúpulas dessas instituições, principalmente do Exército, que dão um mau exemplo para as outras camadas hierárquicas ao participarem da política. “O ex-comandante do Exército, general Pujol, e o ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, foram os principais responsáveis pela ida de Pazuello e de outros militares da ativa para o governo”, diz ele.
De acordo com Pimentel, é intenção do Partido Militar fazer crer que há um conflito interno no governo entre duas “alas”, a “racional”, composta pelos militares, e uma “ideológica”, feita pelo chamado “gabinete do ódio” comandado pelos filhos do presidente. Para ele, não haveria risco algum de golpe por parte dos militares porque eles já estão no poder. “Os que sempre deram golpe no Brasil já estão no poder”, afirma.
Pimentel analisa ainda o episódio da não punição do general Pazuello. O fato, segundo ele, serviu para eximir os militares de responsabilidade pela má gestão da pandemia ao atribuir falsamente a Bolsonaro um poder de controle sobre as Forças Armadas, que estariam sendo “humilhadas”, embora sejam elas, especialmente o Exército, que detenham o controle de fato do governo.
O coronel lembra que as suas opiniões estão amparadas pela Lei 7.524/86, que dá ao militar da reserva o direito de livre expressão do pensamento de teor político e ideológico e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. “Se eu citar o nome de algum militar, será sempre no sentido do seu papel público, nunca em caráter pessoal”.
O que seria, na visão do senhor, o ‘Partido Militar’ e qual a relação dele com a candidatura de Bolsonaro e o seu governo?
Essa expressão foi utilizada por cientistas políticos ao longo do século XX para explicar o protagonismo dos militares na política nacional. A utilizei para que se entenda que existe um grupo dentro dos militares que age como se fosse um partido político.
Que grupo é esse? É um grupo bastante coeso, até pela sua natureza militar, com hierarquia, disciplina, alguns traços autoritários e que tem um projeto de poder. Ele é dirigido por generais formados na AMAN na década de 70, a geração na qual se formou Bolsonaro.
Esse partido é quem dá direção e intensidade a dois processos que se alimentam mutuamente: a politização das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e a militarização da política e da sociedade, que se dá através da participação de militares na política e em cargos da administração pública, tanto na direta, que executa as políticas de governo e de Estado, como na indireta, por intermédio de estatais.
Os militares constituem uma “ala” da atual gestão ou são o próprio governo?
O termo “ala” tem sido muito usado pela imprensa, alimentada por fontes militares. Isso é um argumento utilizado por ela para tentar ajudar o Partido Militar a disseminar uma narrativa de que existe no governo uma briga entre pessoas sensatas e moderadas, que seriam os militares, e pessoas desequilibradas e radicais, que seriam a tal “ala ideológica”, movida pelo “gabinete do ódio”, que é coordenado pelos filhos do presidente.
“Ala” é sinônimo de “asa” e, considerando o governo como um avião, através de uma simples observação percebe-se que a cabine de comando (piloto e copiloto) é composta por militares (presidente e vice-presidente). A tripulação, que é aquela que está na administração direta e indireta, é composta por militares espalhados por toda a estrutura hierárquica dos órgãos. O núcleo político duro do governo é totalmente integrado por generais da geração de Bolsonaro e Mourão. Logo, a própria aeronave é militar.
Eu tenho convicção de que isso é simplesmente uma narrativa para que as crises sejam geradas dentro do próprio governo e assim se possa evitar um debate mais profundo com as oposições que trate de questões como “para onde vai o Estado?”, “como será o governo?”, “como vão se dar as reformas estruturais (tributária, administrativa, previdenciária)?”. Portanto, são crises fabricadas e, sempre que o presidente se comportar indevidamente, aparecerá um general ao seu lado para “moderar” o discurso e ser a antítese do presidente.
No entanto, a própria candidatura de Bolsonaro foi uma criação dos generais. Não foi o deputado que decidiu ser presidente de uma hora para outra.
Quando essa candidatura foi criada? Em postagens suas nas redes sociais você fala em 2014.
Não sou eu quem digo isso, é o próprio presidente da República em um vídeo que o seu filho, Carlos Bolsonaro, que é o manejador das redes sociais, colocou no YouTube.
Nele você vê o deputado Bolsonaro, alguns dias depois da reeleição da presidente Dilma, na AMAN, “templo sagrado” da formação do oficial do Exército que deveria ser blindado contra interferência política, lançando a própria candidatura a aspirantes que estavam reunidos na última formação antes de deixar a academia para se tornarem oficiais.
Quando a geração de Bolsonaro chegou ao posto de general, a partir de 2003, 2004, a figura dele dentro do Exército, que era de “estorvo”, um mau exemplo, passou a ser reabilitada.
Como foi possível que Bolsonaro, alguém que quase foi expulso do Exército, tenha se tornado símbolo dessa candidatura do Partido Militar?
O partido não faz sentido se não ganha a eleição e para ganhar o poder ele tem que ter um candidato. Por isso, foi necessário reabilitar a figura de Bolsonaro dentro da instituição. Esse vídeo de 2014 é uma amostra muito clara disso. Mesmo que ele não vencesse, sua candidatura serviria de chamariz para que outros candidatos do Partido ganhassem as eleições, proporcionais e majoritárias.
Quando eu falo “Partido Militar” não falo apenas de militares. Existem outras lideranças civis e personalidades que aderem a ele e servem como chamarizes para que o partido ganhe eleições.
Eu destaco cinco fatos que balizam as causas do surgimento do Partido Militar. O primeiro foi a eleição da presidenta Dilma em 2010 pelo passado que ela tinha de pertencer a um grupo de oposição armada à ditadura. Isso foi um fator que deixou os militares, principalmente da reserva, que haviam participado da repressão nos anos 70, bastante ouriçados e ativos nas redes sociais contra ela.
O segundo fato é a sua reeleição em 2014 (…) esse grupo não esperava isso por conta do que ocorreu em 2013 (manifestações, início do movimento anticorrupção). Entre esses dois acontecimentos houve a “Comissão Nacional da Verdade”, que é o terceiro elemento causal da recidiva do Partido Militar. Ela produziu seu relatório e responsabilizou chefes do Exército por violações de direitos humanos durante a ditadura, colocando inclusive nomes de parentes de generais do Alto Comando como responsáveis por esses crimes.
O quarto elemento foi a participação dos militares na missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti. O Brasil passou mais de dez anos no comando das forças internacionais da ONU até 2017. Esse evento gerou prestígio interno e externo para os militares, além de dar vantagens financeiras para aqueles que participaram da missão, como um acréscimo salarial. Foi de fato a maior mobilização militar, embora não com finalidade bélica, desde a Segunda Guerra Mundial.
Ele deu novas capacidades operacionais, que permitiram melhorar a condição de equipamentos, serviu de motivação e funcionou também como uma espécie de laboratório para tentativas que se fizeram aqui no Brasil de se empregar táticas usadas no Haiti em questão de segurança pública, especialmente na pacificação de comunidades conflagradas e que abrigavam organizações criminosas relacionadas ao narcotráfico, ao contrabando de armas e às milícias.
O quinto fator é o excessivo emprego do Exército em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), principalmente no Rio de Janeiro. Isso expôs muito a instituição, dando a impressão de que a militarização da polícia e do combate ao crime organizado seria um caminho para resolver o grave problema da criminalidade.
É a militarização da sociedade, que começa na militarização da segurança pública. Não é à toa que Bolsonaro tinha sua base eleitoral, como deputado, no Rio de Janeiro.
Qual a ideologia do Partido Militar?
Ela tem origem nos anos 20 e 30 do século XX, na época da eclosão da “Intentona Comunista” de 1935. O comunismo orientava que militares deveriam promover ou participar de uma revolução popular por orientação da União Soviética e por intermédio do capitão do Exército Luís Carlos Prestes. Portanto, ela (a ideologia do Partido Militar) é anticomunista na sua origem.
O golpe de 64 e a ditadura são a concretização dessa base ideológica. Depois, com a redemocratização e principalmente após a debacle do comunismo soviético, esse anticomunismo foi se transformando em um antiesquerdismo genérico. A partir dos anos 90, veio o “antiglobalismo” e um “antipoliticamente correto”. É só ver o livro de memórias do general Villas Bôas, que foi comandante do Exército e que é um dos membros do Partido Militar. Nele, está muito clara essa visão contrária ao “politicamente correto”.
Todo partido que se preze tem uma memória histórica e uma vocação institucional. A memória histórica é evidente, basta abrir um livro de História do Brasil e ver inúmeros eventos protagonizados por militares. A própria fundação da República é um deles. Outro foi a Revolução de 30 e o autogolpe de Getúlio Vargas em 1937 foi mais um.
Com o golpe de 64, temos quatro exemplos claros de intervenções militares na nossa história. Em apenas dois grandes eventos lutamos contra inimigos externos: na Guerra do Paraguai e na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os militares sempre se sentiram com uma missão de salvar o Brasil dos seus inimigos de toda ordem, principalmente dos inimigos internos de ocasião. Essa é a vocação institucional do partido.
Em suas redes sociais, você fala muito do Estatuto dos Militares. Em que sentido a participação dos militares na política o contraria?
Em muitos sentidos, desde o espírito do legislador que o fez. O Estatuto é uma lei de 1980 (Lei 6.880/80), ou seja, foi criado ainda durante a ditadura quando os governos Geisel e Figueiredo tentavam despolitizar as Forças Armadas.
Veja que incrível: a própria ditadura percebeu, principalmente os presidentes Geisel e Figueiredo, que era necessário se afastar da política, que estava entranhada nos quartéis. O Estatuto é um produto disso.
Existem vários exemplos nele que mostram a intenção de desvincular o militar da política. Vou dar um muito simples e que é descumprido todo dia por aqueles que deveriam dar exemplo, que são os generais que ocupam ou ocuparam o Alto Comando do Exército.
O Estatuto, no artigo 28, inciso XVIII, determina que o militar da reserva deve se abster de usar as designações hierárquicas em atividades político-partidárias; para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares; e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração Pública.
Porém, se você verificar o perfil de vários generais da reserva nas redes sociais (Heleno, Santos Cruz, Villas Bôas etc.), eles tratam de temas políticos com o cargo de “general” no nome, alguns inclusive fardados nas fotos.
Se para o militar da reserva existe essa determinação, é obvio que para o da ativa também tem. Não apenas o Estatuto, como o próprio Regulamento Disciplinar do Exército, que prevê como transgressão a manifestação pública do militar da ativa a respeito de assuntos de natureza político-partidária.
O estatuto é desrespeitado porque prevê que deve existir uma muralha entre as Forças Armadas e o cenário político. Mediar e dirigir a governança política do país é uma função que não cabe a nós (militares).
Há algum risco de golpe ou autogolpe no Brasil?
Golpe nada mais é do que a derrubada de um governo por um grupo com força militar e apoio de parcela da sociedade para assumi-lo. Sendo assim, não há que se falar em risco de golpe, porque os que sempre deram golpe no Brasil ou que participaram de rompimentos institucionais de natureza política já estão no poder.
O que se fala com intuito de gerar temor e debate é que o presidente da República teria intenções de fazer um autogolpe como Getúlio Vargas fez em 37. Porém, só quem fala em autogolpe é Bolsonaro e a imprensa vai atrás dessa narrativa artificial.
Aconteceu, em março deste ano, a demissão do então ministro da Defesa (general Fernando Azevedo e Silva) e dos três comandantes das Forças Armadas na época. Surgiram na mídia várias versões para essa demissão inoportuna e a que predominou foi que o presidente estaria com intenções de usar as Forças Armadas para tomar medidas que contrariariam a Constituição.
A primeira coisa que qualquer jornalista deveria ter feito é perguntar para o ministro da Defesa e aos três comandantes se houve alguma sugestão ou ação do presidente de realizar alguma medida inconstitucional. Se houve, caberia a eles denunciar ao procurador-geral da República o que estava havendo. Como não falaram nada, presumimos que o presidente não tenha agido nesse sentido.
Outra narrativa que surgiu é que o presidente estaria querendo politizar as Forças Armadas, como se elas já não estivessem por demais politizadas. Porém, por ação ou omissão, o ex-ministro da Defesa (Fernando Azevedo e Silva) e o ex-comandante do Exército (Edson Pujol) foram os maiores responsáveis pela nomeação do general Pazuello, da ativa, para o ministério da Saúde, por exemplo.
Como eles estavam tentando impedir a interferência do presidente nas Forças Armadas se eles permitiram que o general da ativa fosse para o Ministério da Saúde em abril de 2020? Foi o general Pujol, na época comandante do Exército, que permitiu isso junto com o então ministro da Defesa. Portanto, não há que se falar em “tentativa de impedir politização”, até porque o general Pazuello não foi o primeiro militar da ativa que foi para o governo exercer cargo político.
O Exército não é um “supermercado” onde você pode pegar o que quiser. O decreto 8.798/2016 determina que o comandante do Exército precisa autorizar a ida de um militar da ativa para o governo e mesmo que Bolsonaro tenha usado o decreto 9.794/2019, que possibilita ao presidente realizar nomeações, é razoável e muito lógico que o comandante fosse consultado sobre a nomeação.
Já foi perguntado ao comandante do Exército e ao ministro da Defesa quais foram as razões ou os pareceres que eles deram para o presidente em relação não só ao general da ativa Pazuello, mas quanto à nomeação dos outros generais da ativa (Luiz Eduardo Ramos, Pazuello e Braga Netto, na ativa na época) que saíram de cargos do Exército para serem ministros no governo?
É obvio que o general Pujol e o general Fernando tiveram que dar o parecer. Nenhum desses generais (Ramos, Pazuello, Braga Netto e outros) foram obrigados a exercer cargos. Eles foram voluntários, portanto, são generais da ativa querendo ser políticos.
Por fim, qual é a mensagem que isso passa para a cadeia de comando até o soldado? Que é normal militares quererem participar da política. Isso é muito importante, porque o exemplo vem de cima.
As novas gerações de militares são politizadas como a cúpula?
Muita gente diz que Bolsonaro tenta subverter as Forças Armadas agindo sobre a base da pirâmide hierárquica e que ele estaria politizando essas camadas. No entanto, quem exerce cargos de relevância no governo são generais. São os superiores hierárquicos que se politizaram e foram para o governo. As camadas mais baixas seguem as superiores.
Qual é a solução para esse problema? É a não participação da cúpula em governo nenhum. Isso irá interromper esse processo de politização e regredi-lo. Enquanto essas lideranças não entenderem o seu papel, será necessário que o poder civil as coloque de volta em seus lugares institucionais.
Se não for assim, esse problema vai se agravar, porque o capitão de hoje, que em 2040 será general, vai lembrar que a instituição que ele chefia tem a vocação de salvar o Brasil, de ser uma espécie de “poder moderador”, e vai certamente reeditar uma nova fórmula para essa participação política quando houver uma crise nacional de natureza política ou social.
Muitos se negam a dizer que temos um governo militar porque não estamos numa ditadura. Ora, não precisamos estar numa ditadura para que o governo seja militar. Basta que ele seja composto por militares.
Você afirma nas suas redes sociais que a CPI e um eventual impeachment seriam bons para o Partido Militar. Por quê?
Quando eu digo isso é porque eles facilitam a permanência do partido no poder, com ou sem Bolsonaro. Se a CPI acelerar a saída do presidente, facilitará porque o Mourão vai assumir e poderá concorrer à reeleição tranquilo pela chapa da situação.
Interessa aos militares tratar Bolsonaro como um incendiário, porque assim a sociedade, irritada com ele, clamaria para que eles resolvam a situação, deixando-o inoperante até o final do mandato ou mesmo substituindo-o no caso de processo de impeachment.
No caso do impeachment, seria bom para o partido (militar) porque o Brasil está se acostumando a jogar o voto fora. Sou filho de militar e cresci ouvindo dentro do meu meio que “o brasileiro não sabe votar” e que “a ditadura se fez para que o brasileiro aprendesse a votar”. Nós não vamos aprender a votar nunca se a cada mandato o presidente é afastado devido à perda de apoio parlamentar.
Talvez, por questões absolutamente legais, o impeachment seja inevitável, mas não acho isso saudável para o aperfeiçoamento da nossa democracia. Por outro lado, se não houver o impeachment, ou pelo menos seu início, qualquer outro governante no futuro, por pior que seja, poderá alegar que está sofrendo uma perseguição. Porque, se não fizermos o impeachment de Bolsonaro, o que motivará o próximo pedido? Vai desmoralizar a própria figura do impeachment. Então estamos em um nó. Não fazer o impeachment o desvaloriza como um instrumento de controle, mas fazer o impeachment enfraquece o voto.
Nas suas postagens, você afirma que o Partido Militar poderia sair como “oposição” e “situação” ao mesmo tempo nas eleições de 2022. Você acredita que os militares vão compor chapas presidenciais?
Está parecendo. Os militares pautam a imprensa e permanecem sendo protagonistas dos acontecimentos, e o Brasil está se acostumando com isso, o que é muito ruim.
Eles estão manobrando para aturem em duas frentes em 2022, como “situação”, com Bolsonaro muito fraco e Mourão forte, ou com Santos Cruz apoiando uma “frente ampla”, funcionando como se fosse dissidente, mas sem ser, pois é integrante do Partido Militar e o partido é mais importante do que suas eventuais lideranças. O Bolsonaro já foi importante como líder, “cavalo de troia”, para permitir que o partido assumisse o poder, mas agora é importante para ele que o presidente seja tratado como um “estorvo” para que a população clame por uma solução aos generais.
No entanto, eles criaram o problema e, portanto, não podem resolvê-lo. Se mentiram em 2018 e disseram que o “estorvo”, que conheciam há décadas, era um “mito”, eles podem mentir novamente em 2022.
Na sua avaliação, por que o Exército decidiu não punir o general Pazuello pela participação em ato a favor do governo?
O ex-ministro da Saúde Nelson Teich entrou no ministério com prazo para sair. Provavelmente ele não sabia, mas foi usado pelos militares. O Exército colocou Pazuello para ser secretário-executivo da pasta para que ele assumisse após Teich.
Os militares observavam que, naquela época, a curva de contaminação da covid-19 começava a se estabilizar fora do Brasil e eles acreditaram que em alguns meses isso ocorreria por aqui. Ninguém imaginava ainda uma segunda onda.
Diante disso, colocaram Pazuello e outros militares em secretarias do ministério para que, quando esse momento de estabilização chegasse ao país, eles tivessem um ministério totalmente militarizado e com um general da ativa como ministro para mostrar à sociedade que os militares da ativa sabem resolver problemas.
Porém, a curva não baixou aqui e em agosto já começava uma segunda onda fora do Brasil. Pazuello então não podia sair, “abandonar a missão”, com a curva lá em cima. Diante disso, Pazuello passou a ser a pessoa que ajudaria a “queimar” o presidente. O Exército também não podia sair tendo fabricado cloroquina e estando com seus estoques cheios.
Aquela frase “um manda, o outro obedece” fazia parte da encenação, com a participação de Bolsonaro, para deixar claro à sociedade que ali estava um general “humilhado” e para atribuir ao presidente, com o seu aval, toda a responsabilidade pela má condução da pandemia.
A não punição do Pazuello tem a finalidade de continuar construindo o papel de “estorvo” do presidente e, ao mesmo tempo, reforçar a candidatura Mourão à sucessão presidencial pela situação (veja que o general declarou que Pazuello deveria ser punido) e a candidatura Santos Cruz pela “oposição”; continuar mantendo a narrativa de que “Bolsonaro estragou as Forças Armadas” e de que o “Exército é humilhado” porque o presidente teria feito o “comandante se ajoelhar à sua vontade”; e garantir uma “cortina de fumaça” sobre a CPI para disfarçar a responsabilidade do próprio Exército – entenda-se Edson Pujol e Fernando Azevedo e Silva – pela nomeação de dezenas de militares da ativa para cargos políticos no governo, o que os caracteriza como uns dos principais promotores dessa politização dos militares.Esse “apagamento de rastro” evita que responsabilidades pela péssima gestão da pandemia pela equipe de Pazuello, repleta de oficiais da ativa, no Ministério da Saúde sejam transferidas para o comandante do Exército. Claro que, a par dessas finalidades e objetivos do Partido Militar para se manter no poder, está o péssimo exemplo que a impunidade cristalizará em relação à politização de militares.
Quem afirma isso é o coronel da reserva Marcelo Pimentel Jorge de Souza em entrevista à coluna. Pimentel escreveu o artigo “A palavra convence e o exemplo arrasta”, sobre o papel dos militares no governo Bolsonaro, texto que foi publicado no livro “Os Militares e a Crise Brasileira”, organizado pelo professor João Roberto Martins Filho da Universidade Federal de São Carlos.
O coronel, que ficou 38 anos na ativa e foi para reserva em 2018, fez curso na área de inteligência militar e é um grande crítico dos processos de politização dos militares e de militarização da política e da sociedade. Segundo ele, a candidatura de Bolsonaro e o seu governo fazem parte do projeto criado pelo “Partido Militar”, cuja direção seria integrada por generais próximos ao presidente formados na década de 70 na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN).
Para ele, o processo de politização das Forças Armadas decorre das ações das próprias cúpulas dessas instituições, principalmente do Exército, que dão um mau exemplo para as outras camadas hierárquicas ao participarem da política. “O ex-comandante do Exército, general Pujol, e o ex-ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, foram os principais responsáveis pela ida de Pazuello e de outros militares da ativa para o governo”, diz ele.
De acordo com Pimentel, é intenção do Partido Militar fazer crer que há um conflito interno no governo entre duas “alas”, a “racional”, composta pelos militares, e uma “ideológica”, feita pelo chamado “gabinete do ódio” comandado pelos filhos do presidente. Para ele, não haveria risco algum de golpe por parte dos militares porque eles já estão no poder. “Os que sempre deram golpe no Brasil já estão no poder”, afirma.
Ele defende que os militares não deveriam participar da política de acordo com o próprio Estatuto dos Militares (Lei 6.880/80), violado constantemente por muitos dos generais que fizeram parte do governo. O coronel afirma também que o Exército é uma instituição politizada cuja mentalidade foi formada com base no anticomunismo e no combate principalmente a “inimigos internos do Brasil”.
Pimentel analisa ainda o episódio da não punição do general Pazuello. O fato, segundo ele, serviu para eximir os militares de responsabilidade pela má gestão da pandemia ao atribuir falsamente a Bolsonaro um poder de controle sobre as Forças Armadas, que estariam sendo “humilhadas”, embora sejam elas, especialmente o Exército, que detenham o controle de fato do governo.
O coronel lembra que as suas opiniões estão amparadas pela Lei 7.524/86, que dá ao militar da reserva o direito de livre expressão do pensamento de teor político e ideológico e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. “Se eu citar o nome de algum militar, será sempre no sentido do seu papel público, nunca em caráter pessoal”.
O que seria, na visão do senhor, o ‘Partido Militar’ e qual a relação dele com a candidatura de Bolsonaro e o seu governo?
Essa expressão foi utilizada por cientistas políticos ao longo do século XX para explicar o protagonismo dos militares na política nacional. A utilizei para que se entenda que existe um grupo dentro dos militares que age como se fosse um partido político.
Que grupo é esse? É um grupo bastante coeso, até pela sua natureza militar, com hierarquia, disciplina, alguns traços autoritários e que tem um projeto de poder. Ele é dirigido por generais formados na AMAN na década de 70, a geração na qual se formou Bolsonaro.
Esse partido é quem dá direção e intensidade a dois processos que se alimentam mutuamente: a politização das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) e a militarização da política e da sociedade, que se dá através da participação de militares na política e em cargos da administração pública, tanto na direta, que executa as políticas de governo e de Estado, como na indireta, por intermédio de estatais.
Os militares constituem uma “ala” da atual gestão ou são o próprio governo?
O termo “ala” tem sido muito usado pela imprensa, alimentada por fontes militares. Isso é um argumento utilizado por ela para tentar ajudar o Partido Militar a disseminar uma narrativa de que existe no governo uma briga entre pessoas sensatas e moderadas, que seriam os militares, e pessoas desequilibradas e radicais, que seriam a tal “ala ideológica”, movida pelo “gabinete do ódio”, que é coordenado pelos filhos do presidente.
“Ala” é sinônimo de “asa” e, considerando o governo como um avião, através de uma simples observação percebe-se que a cabine de comando (piloto e copiloto) é composta por militares (presidente e vice-presidente). A tripulação, que é aquela que está na administração direta e indireta, é composta por militares espalhados por toda a estrutura hierárquica dos órgãos. O núcleo político duro do governo é totalmente integrado por generais da geração de Bolsonaro e Mourão. Logo, a própria aeronave é militar.
Eu tenho convicção de que isso é simplesmente uma narrativa para que as crises sejam geradas dentro do próprio governo e assim se possa evitar um debate mais profundo com as oposições que trate de questões como “para onde vai o Estado?”, “como será o governo?”, “como vão se dar as reformas estruturais (tributária, administrativa, previdenciária)?”. Portanto, são crises fabricadas e, sempre que o presidente se comportar indevidamente, aparecerá um general ao seu lado para “moderar” o discurso e ser a antítese do presidente.
No entanto, a própria candidatura de Bolsonaro foi uma criação dos generais. Não foi o deputado que decidiu ser presidente de uma hora para outra.
Quando essa candidatura foi criada? Em postagens suas nas redes sociais você fala em 2014.
Não sou eu quem digo isso, é o próprio presidente da República em um vídeo que o seu filho, Carlos Bolsonaro, que é o manejador das redes sociais, colocou no YouTube.
Nele você vê o deputado Bolsonaro, alguns dias depois da reeleição da presidente Dilma, na AMAN, “templo sagrado” da formação do oficial do Exército que deveria ser blindado contra interferência política, lançando a própria candidatura a aspirantes que estavam reunidos na última formação antes de deixar a academia para se tornarem oficiais.
Quando a geração de Bolsonaro chegou ao posto de general, a partir de 2003, 2004, a figura dele dentro do Exército, que era de “estorvo”, um mau exemplo, passou a ser reabilitada.
Como foi possível que Bolsonaro, alguém que quase foi expulso do Exército, tenha se tornado símbolo dessa candidatura do Partido Militar?
O partido não faz sentido se não ganha a eleição e para ganhar o poder ele tem que ter um candidato. Por isso, foi necessário reabilitar a figura de Bolsonaro dentro da instituição. Esse vídeo de 2014 é uma amostra muito clara disso. Mesmo que ele não vencesse, sua candidatura serviria de chamariz para que outros candidatos do Partido ganhassem as eleições, proporcionais e majoritárias.
Quando eu falo “Partido Militar” não falo apenas de militares. Existem outras lideranças civis e personalidades que aderem a ele e servem como chamarizes para que o partido ganhe eleições.
Eu destaco cinco fatos que balizam as causas do surgimento do Partido Militar. O primeiro foi a eleição da presidenta Dilma em 2010 pelo passado que ela tinha de pertencer a um grupo de oposição armada à ditadura. Isso foi um fator que deixou os militares, principalmente da reserva, que haviam participado da repressão nos anos 70, bastante ouriçados e ativos nas redes sociais contra ela.
O segundo fato é a sua reeleição em 2014 (…) esse grupo não esperava isso por conta do que ocorreu em 2013 (manifestações, início do movimento anticorrupção). Entre esses dois acontecimentos houve a “Comissão Nacional da Verdade”, que é o terceiro elemento causal da recidiva do Partido Militar. Ela produziu seu relatório e responsabilizou chefes do Exército por violações de direitos humanos durante a ditadura, colocando inclusive nomes de parentes de generais do Alto Comando como responsáveis por esses crimes.
O quarto elemento foi a participação dos militares na missão das Nações Unidas para estabilização do Haiti. O Brasil passou mais de dez anos no comando das forças internacionais da ONU até 2017. Esse evento gerou prestígio interno e externo para os militares, além de dar vantagens financeiras para aqueles que participaram da missão, como um acréscimo salarial. Foi de fato a maior mobilização militar, embora não com finalidade bélica, desde a Segunda Guerra Mundial.
Ele deu novas capacidades operacionais, que permitiram melhorar a condição de equipamentos, serviu de motivação e funcionou também como uma espécie de laboratório para tentativas que se fizeram aqui no Brasil de se empregar táticas usadas no Haiti em questão de segurança pública, especialmente na pacificação de comunidades conflagradas e que abrigavam organizações criminosas relacionadas ao narcotráfico, ao contrabando de armas e às milícias.
O quinto fator é o excessivo emprego do Exército em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), principalmente no Rio de Janeiro. Isso expôs muito a instituição, dando a impressão de que a militarização da polícia e do combate ao crime organizado seria um caminho para resolver o grave problema da criminalidade.
É a militarização da sociedade, que começa na militarização da segurança pública. Não é à toa que Bolsonaro tinha sua base eleitoral, como deputado, no Rio de Janeiro.
Qual a ideologia do Partido Militar?
Ela tem origem nos anos 20 e 30 do século XX, na época da eclosão da “Intentona Comunista” de 1935. O comunismo orientava que militares deveriam promover ou participar de uma revolução popular por orientação da União Soviética e por intermédio do capitão do Exército Luís Carlos Prestes. Portanto, ela (a ideologia do Partido Militar) é anticomunista na sua origem.
O golpe de 64 e a ditadura são a concretização dessa base ideológica. Depois, com a redemocratização e principalmente após a debacle do comunismo soviético, esse anticomunismo foi se transformando em um antiesquerdismo genérico. A partir dos anos 90, veio o “antiglobalismo” e um “antipoliticamente correto”. É só ver o livro de memórias do general Villas Bôas, que foi comandante do Exército e que é um dos membros do Partido Militar. Nele, está muito clara essa visão contrária ao “politicamente correto”.
Todo partido que se preze tem uma memória histórica e uma vocação institucional. A memória histórica é evidente, basta abrir um livro de História do Brasil e ver inúmeros eventos protagonizados por militares. A própria fundação da República é um deles. Outro foi a Revolução de 30 e o autogolpe de Getúlio Vargas em 1937 foi mais um.
Com o golpe de 64, temos quatro exemplos claros de intervenções militares na nossa história. Em apenas dois grandes eventos lutamos contra inimigos externos: na Guerra do Paraguai e na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os militares sempre se sentiram com uma missão de salvar o Brasil dos seus inimigos de toda ordem, principalmente dos inimigos internos de ocasião. Essa é a vocação institucional do partido.
Em suas redes sociais, você fala muito do Estatuto dos Militares. Em que sentido a participação dos militares na política o contraria?
Em muitos sentidos, desde o espírito do legislador que o fez. O Estatuto é uma lei de 1980 (Lei 6.880/80), ou seja, foi criado ainda durante a ditadura quando os governos Geisel e Figueiredo tentavam despolitizar as Forças Armadas.
Veja que incrível: a própria ditadura percebeu, principalmente os presidentes Geisel e Figueiredo, que era necessário se afastar da política, que estava entranhada nos quartéis. O Estatuto é um produto disso.
Existem vários exemplos nele que mostram a intenção de desvincular o militar da política. Vou dar um muito simples e que é descumprido todo dia por aqueles que deveriam dar exemplo, que são os generais que ocupam ou ocuparam o Alto Comando do Exército.
O Estatuto, no artigo 28, inciso XVIII, determina que o militar da reserva deve se abster de usar as designações hierárquicas em atividades político-partidárias; para discutir ou provocar discussões pela imprensa a respeito de assuntos políticos ou militares; e no exercício de cargo ou função de natureza civil, mesmo que seja da Administração Pública.
Porém, se você verificar o perfil de vários generais da reserva nas redes sociais (Heleno, Santos Cruz, Villas Bôas etc.), eles tratam de temas políticos com o cargo de “general” no nome, alguns inclusive fardados nas fotos.
Se para o militar da reserva existe essa determinação, é obvio que para o da ativa também tem. Não apenas o Estatuto, como o próprio Regulamento Disciplinar do Exército, que prevê como transgressão a manifestação pública do militar da ativa a respeito de assuntos de natureza político-partidária.
O estatuto é desrespeitado porque prevê que deve existir uma muralha entre as Forças Armadas e o cenário político. Mediar e dirigir a governança política do país é uma função que não cabe a nós (militares).
Há algum risco de golpe ou autogolpe no Brasil?
Golpe nada mais é do que a derrubada de um governo por um grupo com força militar e apoio de parcela da sociedade para assumi-lo. Sendo assim, não há que se falar em risco de golpe, porque os que sempre deram golpe no Brasil ou que participaram de rompimentos institucionais de natureza política já estão no poder.
O que se fala com intuito de gerar temor e debate é que o presidente da República teria intenções de fazer um autogolpe como Getúlio Vargas fez em 37. Porém, só quem fala em autogolpe é Bolsonaro e a imprensa vai atrás dessa narrativa artificial.
Aconteceu, em março deste ano, a demissão do então ministro da Defesa (general Fernando Azevedo e Silva) e dos três comandantes das Forças Armadas na época. Surgiram na mídia várias versões para essa demissão inoportuna e a que predominou foi que o presidente estaria com intenções de usar as Forças Armadas para tomar medidas que contrariariam a Constituição.
A primeira coisa que qualquer jornalista deveria ter feito é perguntar para o ministro da Defesa e aos três comandantes se houve alguma sugestão ou ação do presidente de realizar alguma medida inconstitucional. Se houve, caberia a eles denunciar ao procurador-geral da República o que estava havendo. Como não falaram nada, presumimos que o presidente não tenha agido nesse sentido.
Outra narrativa que surgiu é que o presidente estaria querendo politizar as Forças Armadas, como se elas já não estivessem por demais politizadas. Porém, por ação ou omissão, o ex-ministro da Defesa (Fernando Azevedo e Silva) e o ex-comandante do Exército (Edson Pujol) foram os maiores responsáveis pela nomeação do general Pazuello, da ativa, para o ministério da Saúde, por exemplo.
Como eles estavam tentando impedir a interferência do presidente nas Forças Armadas se eles permitiram que o general da ativa fosse para o Ministério da Saúde em abril de 2020? Foi o general Pujol, na época comandante do Exército, que permitiu isso junto com o então ministro da Defesa. Portanto, não há que se falar em “tentativa de impedir politização”, até porque o general Pazuello não foi o primeiro militar da ativa que foi para o governo exercer cargo político.
O Exército não é um “supermercado” onde você pode pegar o que quiser. O decreto 8.798/2016 determina que o comandante do Exército precisa autorizar a ida de um militar da ativa para o governo e mesmo que Bolsonaro tenha usado o decreto 9.794/2019, que possibilita ao presidente realizar nomeações, é razoável e muito lógico que o comandante fosse consultado sobre a nomeação.
Já foi perguntado ao comandante do Exército e ao ministro da Defesa quais foram as razões ou os pareceres que eles deram para o presidente em relação não só ao general da ativa Pazuello, mas quanto à nomeação dos outros generais da ativa (Luiz Eduardo Ramos, Pazuello e Braga Netto, na ativa na época) que saíram de cargos do Exército para serem ministros no governo?
É obvio que o general Pujol e o general Fernando tiveram que dar o parecer. Nenhum desses generais (Ramos, Pazuello, Braga Netto e outros) foram obrigados a exercer cargos. Eles foram voluntários, portanto, são generais da ativa querendo ser políticos.
Por fim, qual é a mensagem que isso passa para a cadeia de comando até o soldado? Que é normal militares quererem participar da política. Isso é muito importante, porque o exemplo vem de cima.
As novas gerações de militares são politizadas como a cúpula?
Muita gente diz que Bolsonaro tenta subverter as Forças Armadas agindo sobre a base da pirâmide hierárquica e que ele estaria politizando essas camadas. No entanto, quem exerce cargos de relevância no governo são generais. São os superiores hierárquicos que se politizaram e foram para o governo. As camadas mais baixas seguem as superiores.
Qual é a solução para esse problema? É a não participação da cúpula em governo nenhum. Isso irá interromper esse processo de politização e regredi-lo. Enquanto essas lideranças não entenderem o seu papel, será necessário que o poder civil as coloque de volta em seus lugares institucionais.
Se não for assim, esse problema vai se agravar, porque o capitão de hoje, que em 2040 será general, vai lembrar que a instituição que ele chefia tem a vocação de salvar o Brasil, de ser uma espécie de “poder moderador”, e vai certamente reeditar uma nova fórmula para essa participação política quando houver uma crise nacional de natureza política ou social.
Muitos se negam a dizer que temos um governo militar porque não estamos numa ditadura. Ora, não precisamos estar numa ditadura para que o governo seja militar. Basta que ele seja composto por militares.
Você afirma nas suas redes sociais que a CPI e um eventual impeachment seriam bons para o Partido Militar. Por quê?
Quando eu digo isso é porque eles facilitam a permanência do partido no poder, com ou sem Bolsonaro. Se a CPI acelerar a saída do presidente, facilitará porque o Mourão vai assumir e poderá concorrer à reeleição tranquilo pela chapa da situação.
Interessa aos militares tratar Bolsonaro como um incendiário, porque assim a sociedade, irritada com ele, clamaria para que eles resolvam a situação, deixando-o inoperante até o final do mandato ou mesmo substituindo-o no caso de processo de impeachment.
No caso do impeachment, seria bom para o partido (militar) porque o Brasil está se acostumando a jogar o voto fora. Sou filho de militar e cresci ouvindo dentro do meu meio que “o brasileiro não sabe votar” e que “a ditadura se fez para que o brasileiro aprendesse a votar”. Nós não vamos aprender a votar nunca se a cada mandato o presidente é afastado devido à perda de apoio parlamentar.
Talvez, por questões absolutamente legais, o impeachment seja inevitável, mas não acho isso saudável para o aperfeiçoamento da nossa democracia. Por outro lado, se não houver o impeachment, ou pelo menos seu início, qualquer outro governante no futuro, por pior que seja, poderá alegar que está sofrendo uma perseguição. Porque, se não fizermos o impeachment de Bolsonaro, o que motivará o próximo pedido? Vai desmoralizar a própria figura do impeachment. Então estamos em um nó. Não fazer o impeachment o desvaloriza como um instrumento de controle, mas fazer o impeachment enfraquece o voto.
Nas suas postagens, você afirma que o Partido Militar poderia sair como “oposição” e “situação” ao mesmo tempo nas eleições de 2022. Você acredita que os militares vão compor chapas presidenciais?
Está parecendo. Os militares pautam a imprensa e permanecem sendo protagonistas dos acontecimentos, e o Brasil está se acostumando com isso, o que é muito ruim.
Eles estão manobrando para aturem em duas frentes em 2022, como “situação”, com Bolsonaro muito fraco e Mourão forte, ou com Santos Cruz apoiando uma “frente ampla”, funcionando como se fosse dissidente, mas sem ser, pois é integrante do Partido Militar e o partido é mais importante do que suas eventuais lideranças. O Bolsonaro já foi importante como líder, “cavalo de troia”, para permitir que o partido assumisse o poder, mas agora é importante para ele que o presidente seja tratado como um “estorvo” para que a população clame por uma solução aos generais.
No entanto, eles criaram o problema e, portanto, não podem resolvê-lo. Se mentiram em 2018 e disseram que o “estorvo”, que conheciam há décadas, era um “mito”, eles podem mentir novamente em 2022.
Na sua avaliação, por que o Exército decidiu não punir o general Pazuello pela participação em ato a favor do governo?
O ex-ministro da Saúde Nelson Teich entrou no ministério com prazo para sair. Provavelmente ele não sabia, mas foi usado pelos militares. O Exército colocou Pazuello para ser secretário-executivo da pasta para que ele assumisse após Teich.
Os militares observavam que, naquela época, a curva de contaminação da covid-19 começava a se estabilizar fora do Brasil e eles acreditaram que em alguns meses isso ocorreria por aqui. Ninguém imaginava ainda uma segunda onda.
Diante disso, colocaram Pazuello e outros militares em secretarias do ministério para que, quando esse momento de estabilização chegasse ao país, eles tivessem um ministério totalmente militarizado e com um general da ativa como ministro para mostrar à sociedade que os militares da ativa sabem resolver problemas.
Porém, a curva não baixou aqui e em agosto já começava uma segunda onda fora do Brasil. Pazuello então não podia sair, “abandonar a missão”, com a curva lá em cima. Diante disso, Pazuello passou a ser a pessoa que ajudaria a “queimar” o presidente. O Exército também não podia sair tendo fabricado cloroquina e estando com seus estoques cheios.
Aquela frase “um manda, o outro obedece” fazia parte da encenação, com a participação de Bolsonaro, para deixar claro à sociedade que ali estava um general “humilhado” e para atribuir ao presidente, com o seu aval, toda a responsabilidade pela má condução da pandemia.
A não punição do Pazuello tem a finalidade de continuar construindo o papel de “estorvo” do presidente e, ao mesmo tempo, reforçar a candidatura Mourão à sucessão presidencial pela situação (veja que o general declarou que Pazuello deveria ser punido) e a candidatura Santos Cruz pela “oposição”; continuar mantendo a narrativa de que “Bolsonaro estragou as Forças Armadas” e de que o “Exército é humilhado” porque o presidente teria feito o “comandante se ajoelhar à sua vontade”; e garantir uma “cortina de fumaça” sobre a CPI para disfarçar a responsabilidade do próprio Exército – entenda-se Edson Pujol e Fernando Azevedo e Silva – pela nomeação de dezenas de militares da ativa para cargos políticos no governo, o que os caracteriza como uns dos principais promotores dessa politização dos militares.Esse “apagamento de rastro” evita que responsabilidades pela péssima gestão da pandemia pela equipe de Pazuello, repleta de oficiais da ativa, no Ministério da Saúde sejam transferidas para o comandante do Exército. Claro que, a par dessas finalidades e objetivos do Partido Militar para se manter no poder, está o péssimo exemplo que a impunidade cristalizará em relação à politização de militares.
O espírito do bolsonarismo
O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, disse que “vai chegar uma hora” em que as decisões judiciais não serão cumpridas pelo Executivo.
“O Judiciário vai ter que se acomodar nesse avançar nas prerrogativas do Executivo e do Legislativo. Vai chegar uma hora em que vamos dizer que simplesmente não vamos cumprir mais. Vocês cuidam dos seus que eu cuido do nosso, não dá mais simplesmente para cumprir as decisões porque elas não têm nenhum fundamento, nenhum sentido, nenhum senso prático”, declarou o parlamentar em evento promovido pelo jornal Correio Braziliense e pela Confederação Nacional da Indústria.
A afirmação de Ricardo Barros não é isolada. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já ameaçou não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Bem menos polido que seu líder na Câmara, Bolsonaro, em maio do ano passado, declarou, aos gritos, que “ordens absurdas não se cumprem e nós temos que botar um limite nessas questões”. Era uma referência a uma operação da Polícia Federal contra bolsonaristas no âmbito de um inquérito do Supremo sobre a produção de fake news.
Na mesma ocasião, depois que o então ministro do STF Celso de Mello seguiu a praxe e encaminhou à Procuradoria-Geral da República um requerimento de partidos de oposição para que o celular do presidente fosse apreendido, como parte da investigação sobre sua suposta tentativa de interferir politicamente na Polícia Federal, Bolsonaro foi afrontoso: “Me desculpe, senhor ministro Celso de Mello. Retire seu pedido, que meu telefone não será entregue”.
Para completar, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, declarou em nota que o encaminhamento dado pelo ministro Celso de Mello ao caso, cumprindo mera formalidade, constituía “afronta à autoridade máxima do Executivo”, com “consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”.
Ou seja, o deputado Barros está muito à vontade para dizer, em outras palavras, que cabe ao Executivo escolher as decisões judiciais que cumprirá, em nome da “autoridade” do presidente e da “estabilidade nacional”. O caso que Barros comentou dizia respeito à determinação do Supremo para que o governo realize o Censo Demográfico no ano que vem. O Censo deveria ter sido feito em 2020 e foi sendo postergado em razão da pandemia e de cortes orçamentários. Para o líder do governo, trata-se de decisão judicial sem “nenhum fundamento”, que ademais “avança nas prerrogativas do Executivo”, e isso seria suficiente para torná-la sem efeito.
A declaração do deputado Ricardo Barros, como a do próprio Bolsonaro antes dele, constitui ameaça explícita de desobediência civil. É um padrão bolsonarista. Esse desafio à ordem constitucional, de clara natureza golpista, é parte do processo de deterioração da democracia deflagrado por Bolsonaro desde sua posse. Ao avisarem que não pretendem acatar ordens judiciais, a não ser as que considerem “fundamentadas”, os bolsonaristas expõem com clareza sua estratégia de desmoralizar as instituições da República para submetê-las a seus propósitos liberticidas.
Nesse sentido, as infames ameaças feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, contra o Supremo, ainda durante a campanha eleitoral, não eram mera bravata, mas um aviso. Recorde-se que o parlamentar disse que, se o Supremo resolvesse impugnar a candidatura do pai, teria que “pagar para ver”. Acrescentou que, “se quiser fechar o STF”, bastariam “um soldado e um cabo”.
É diante desse ânimo antidemocrático que as instituições devem se impor. Fez bem o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que reagiu imediatamente às declarações do deputado Ricardo Barros, dizendo que “o respeito a decisões judiciais é pressuposto do Estado Democrático de Direito”. E convém lembrar das palavras do ministro Celso de Mello a propósito das invectivas de Bolsonaro no ano passado: para o decano do Supremo, quem ameaça descumprir decisão judicial, afrontando a Constituição, é “traidor da Constituição” e, como tal, “traidor da Pátria”.
“O Judiciário vai ter que se acomodar nesse avançar nas prerrogativas do Executivo e do Legislativo. Vai chegar uma hora em que vamos dizer que simplesmente não vamos cumprir mais. Vocês cuidam dos seus que eu cuido do nosso, não dá mais simplesmente para cumprir as decisões porque elas não têm nenhum fundamento, nenhum sentido, nenhum senso prático”, declarou o parlamentar em evento promovido pelo jornal Correio Braziliense e pela Confederação Nacional da Indústria.
A afirmação de Ricardo Barros não é isolada. O próprio presidente da República, Jair Bolsonaro, já ameaçou não cumprir decisões do Supremo Tribunal Federal (STF). Bem menos polido que seu líder na Câmara, Bolsonaro, em maio do ano passado, declarou, aos gritos, que “ordens absurdas não se cumprem e nós temos que botar um limite nessas questões”. Era uma referência a uma operação da Polícia Federal contra bolsonaristas no âmbito de um inquérito do Supremo sobre a produção de fake news.
Na mesma ocasião, depois que o então ministro do STF Celso de Mello seguiu a praxe e encaminhou à Procuradoria-Geral da República um requerimento de partidos de oposição para que o celular do presidente fosse apreendido, como parte da investigação sobre sua suposta tentativa de interferir politicamente na Polícia Federal, Bolsonaro foi afrontoso: “Me desculpe, senhor ministro Celso de Mello. Retire seu pedido, que meu telefone não será entregue”.
Para completar, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, declarou em nota que o encaminhamento dado pelo ministro Celso de Mello ao caso, cumprindo mera formalidade, constituía “afronta à autoridade máxima do Executivo”, com “consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional”.
Ou seja, o deputado Barros está muito à vontade para dizer, em outras palavras, que cabe ao Executivo escolher as decisões judiciais que cumprirá, em nome da “autoridade” do presidente e da “estabilidade nacional”. O caso que Barros comentou dizia respeito à determinação do Supremo para que o governo realize o Censo Demográfico no ano que vem. O Censo deveria ter sido feito em 2020 e foi sendo postergado em razão da pandemia e de cortes orçamentários. Para o líder do governo, trata-se de decisão judicial sem “nenhum fundamento”, que ademais “avança nas prerrogativas do Executivo”, e isso seria suficiente para torná-la sem efeito.
A declaração do deputado Ricardo Barros, como a do próprio Bolsonaro antes dele, constitui ameaça explícita de desobediência civil. É um padrão bolsonarista. Esse desafio à ordem constitucional, de clara natureza golpista, é parte do processo de deterioração da democracia deflagrado por Bolsonaro desde sua posse. Ao avisarem que não pretendem acatar ordens judiciais, a não ser as que considerem “fundamentadas”, os bolsonaristas expõem com clareza sua estratégia de desmoralizar as instituições da República para submetê-las a seus propósitos liberticidas.
Nesse sentido, as infames ameaças feitas pelo deputado Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do presidente, contra o Supremo, ainda durante a campanha eleitoral, não eram mera bravata, mas um aviso. Recorde-se que o parlamentar disse que, se o Supremo resolvesse impugnar a candidatura do pai, teria que “pagar para ver”. Acrescentou que, “se quiser fechar o STF”, bastariam “um soldado e um cabo”.
É diante desse ânimo antidemocrático que as instituições devem se impor. Fez bem o presidente do Supremo, ministro Luiz Fux, que reagiu imediatamente às declarações do deputado Ricardo Barros, dizendo que “o respeito a decisões judiciais é pressuposto do Estado Democrático de Direito”. E convém lembrar das palavras do ministro Celso de Mello a propósito das invectivas de Bolsonaro no ano passado: para o decano do Supremo, quem ameaça descumprir decisão judicial, afrontando a Constituição, é “traidor da Constituição” e, como tal, “traidor da Pátria”.
Assinar:
Comentários (Atom)