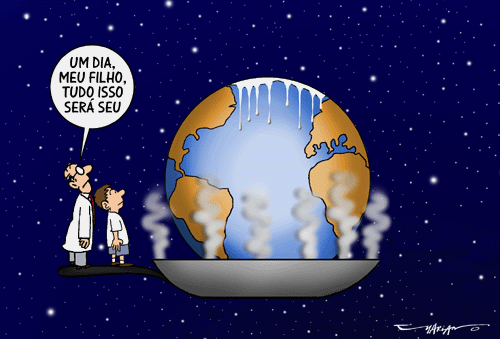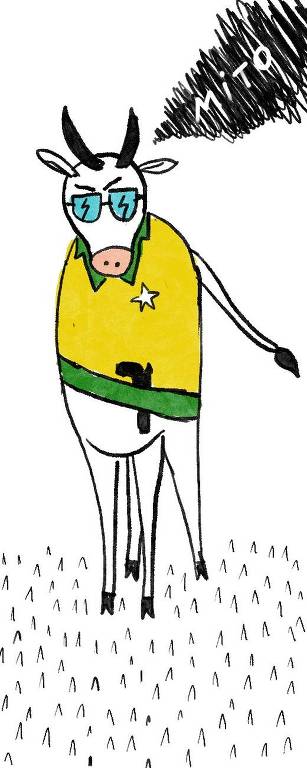Com receio de não se reeleger, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, antecipou, enquanto tomava um sorvete em Nova Iorque, que a guerra Israel x Hamas poderá ser suspensa até o início da próxima semana.
Horas depois, Israel e o Hamas anunciaram que não é bem assim. Disseram a mesma coisa o governo do Catar, mediador de qualquer tipo de acordo, e um porta-voz da Casa Branca.
Biden vive a ser corrigido pelos que o cercam. A idade produz estragos na sua imagem. Outro dia, chamou Vladimir Putin, o presidente russo, de um grande “filho da puta maluco”. A Casa Branca informou que não era isso o que ele quis dizer.
No início da guerra, depois que o Hamas o invadiu, Israel mandou que os palestinos do Norte da Faixa de Gaza se mudassem para o Sul, sob pena de serem bombardeados e mortos. Foram bombardeados mesmo assim.
Metade dos palestinos mudou-se correndo para o Sul. Destruída grande parte do Norte de Gaza, agora Israel manda que os palestinos que se mudaram para o Sul voltem às pressas para o Norte. Por quê?
Porque Israel está pronto para invadir o Sul. Mas por que não invadiu o Sul primeiro? Porque o Sul da Faixa de Gaza sempre foi reduto eleitoral de líderes do governo de extrema direita de Israel, comandado por Benjamin Netanyahu.
Era preciso dar algum tempo para que os colonos israelenses estabelecidos no Sul de Gaza dali pudessem sair, ou proteger-se. Voto não tem preço. Vale mais do que vidas, se for o caso.

Quando Lula diz que Israel comete um genocídio, está certo. Genocídio é a eliminação de um povo, ou a tentativa de. Foi o que fez com os judeus durante a 2ª Guerra Mundial a Alemanha nazista de Hitler.
Lula não usou a expressão Holocausto, mas foi como se tivesse usado. Quem mandou dizer:
“O que está acontecendo na Faixa de Gaza com o povo palestino não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu. Quando Hitler resolveu matar os judeus”.
O número de palestinos mortos na atual guerra, e até aqui, já ultrapassou a casa dos 30 mil, a maioria mulheres e crianças. Sem contar os mortos soterrados sob escombros de imóveis.
Não entra um caminhão com ajuda humanitária na Faixa de Gaza sem autorização do governo israelense. Em certo período, mais de 500 entravam por dia. Hoje, só 50 ou 60. Dá para nada.
Os caminhões levam comida, água, remédios e combustível. A ONU adverte que o mundo assiste a uma tragédia que não tem data para acabar. Israel diz que não tem mesmo data para a guerra acabar.
Por causa de sua política externa excessivamente pró-Israel, Biden arrisca-se a perder o voto árabe e o voto dos jovens indignados na difícil parada que tem pela frente para derrotar o ensandecido Donald Trump.
Thomas L. Friedman, um dos principais colunistas de opinião do New York Times, o mais importante jornal do mundo, escreve:
“Passei os últimos dias viajando de Nova Delhi para Dubai e Amã e tenho uma mensagem urgente a transmitir ao presidente Biden e ao povo israelense: estou vendo a erosão cada vez mais rápida da posição de Israel entre as nações amigas – um nível de aceitação e legitimidade que foram meticulosamente construídas ao longo de décadas. E se Biden não tomar cuidado, a posição global da América irá despencar juntamente com a de Israel.
Não creio que os israelitas ou a administração Biden compreendam plenamente a raiva que borbulha em todo o mundo, alimentada pelas mortes de tantos milhares de civis palestinos, especialmente crianças, com armas fornecidas pelos Estados Unidos. O Hamas tem muito a responder por essa tragédia humana, mas Israel e os Estados Unidos são vistos agora como impulsionadores dos acontecimentos e recebem a maior parte da culpa”.
Quando se trata de guerra — de violência e fúria que fulminam pessoas e formas de vida —, todo comentário é discutível e potencialmente ofensivo. Feita a primeira vítima, fica difícil chegar à última.
Nas razões convocadas pela guerra, quando ela emerge como um sujeito — uma instituição com direitos tão profundos quanto justos e desumanos do agredido ou do agressor —, o conflito armado tem enorme vigor. Isso porque ele chama a promessa de finalização de uma injúria ou etapa histórica. Quem não se lembra daquela guerra que acabaria com todas as guerras?
Se o mundo fica melhor sem judeus, muçulmanos, católicos, puritanos, materialistas, índios... — eu esgotaria um volume com exemplos —, então há o remédio de tomar Jerusalém, exterminar subversivos e catequizar índios e todos os que não são como nós. Se não admitimos o outro como alternativa e classificamos as alternativas como erros, ignorância, pecado, primitivismo, doença ou deformação, legitimamos seu extermínio porque, nesse caso, o aniquilamento é cura, livramento e progresso. Algo, valha-me Deus, que está na base de todo etnocentrismo e dos anacronismos.

Todo conflito desvenda exclusivismos que não podem ser tomados como modelos absolutos. Ao equiparar a reação de Israel ao que o povo judeu sofreu, Lula fez mais do que cometer um engano. Tocou num tabu. O tabu do “povo eleito” sujeito justamente por ser, como anotou a antropóloga Mary Douglas, o “Cordeiro de Deus”, vítima de todas as infâmias. Como ela desvenda, há uma dialética apurada entre pureza e perigo.
Nada é mais dilacerante do que o terrorismo, que na área da comunicação surge como uma diarreia de fake news e lembra a bruxaria dos povos tidos como primitivos. O terror é uma pavorosa metáfora das desmedidas diferenças de riqueza e poder entre povos. Num sentido preciso, o terror é uma expressão extremada do “poder dos fracos”, um tipo de força dos que perderam até mesmo seu espaço de vida, como é o caso das duas guerras que testemunhamos e estão na base do mal-estar globalizado.
O mal-estar atual é mais atroz do que o freudiano. Para Freud, a questão era o embate dos instintos contra o etos civilizatório; ao passo que o nosso resulta do ajustamento entre uma consciência global (que demanda igualdade) e a perspectiva das nações imperiais.
O paradigma pejorativo do “West and the rest” mudou porque o “West” corre o risco de também pertencer a esse “resto” condenado à marginalidade. O global torna mais difícil manter hierarquias geopolíticas. Nosso mal-estar não diz respeito somente a rivalidades entre nações, religiões, línguas e culturas. Hoje, tem como foco uma referência implacável: a Terra.
Um planeta que, se o estilo de vida dos países hegemônicos for globalizado, pode se exaurir ou — mais apavorante que isso — explodir num conflito nuclear deflagrado por algum Doutor Fantástico que já deixou o cinema.
Violência gera violência que só pode ser mitigada pelo bom senso capaz de deter os drones que matam pelo computador sem nenhuma piedade. Antigamente existiam “campos de batalha”. Nos antigos tempos modernos, essas zonas eram as fronteiras entre países que passavam de vizinhos e parceiros a inimigos. As trocas de bens, serviços e palavras realizadas entre fronteiras são substituídas pelos fuzis dos soldados. A Guerra de 1914-18 teve esse perfil e, embora brutal, nela ainda havia um elemento de cruel humanidade, porque os inimigos se enxergavam e viam suas bravuras e temores.
Hoje, estamos perdidos pelo excesso de comunicação e pelos diabólicos poderes da tecnologia aplicada a ganhar poder e dinheiro. Desse tanto falar sem escutar que, já advertia Lévi-Strauss, faz perna com a intriga, o terrorismo e o golpe. Do mesmo modo que o esquecer denuncia a ausência de diálogo consigo mesmo.
Muitas críticas justas já se fizeram ao capitalismo, de um ponto de vista ético, em sua tendência de produzir pobreza e concentrar riqueza. Mas raramente se fala sobre o capitalismo como um sistema autodestrutivo que, para existir e gozar de boa saúde, tem de estar num processo de crescimento constante: mais empregos, mais trabalho, mais devastação da natureza, mais monóxido de carbono no ar, mais lixo – seis bilhões de quilos de lixo por dia! –, mais exploração dos recursos naturais, mais florestas cortadas, mais poluição dos mananciais… Até quando a frágil bolha suportará?Rubem Alves
“Agora o negacionismo climático se tornou uma espécie de tatuagem tribal da extrema direita.” A frase é do jornalista Claudio Angelo, coordenador de política climática do Observatório do Clima, rede com mais de 90 organizações no Brasil com essa agenda. O OC, como a organização é carinhosamente chamada, foi uma das vozes mais críticas à política de desmonte do sistema nacional de meio ambiente promovida nos anos de governo Bolsonaro.
A metáfora de Angelo pode ser transposta a três inquietações contemporâneas. A primeira diz que os sacrifícios exigidos pela descarbonização da economia abrirão oportunidades e novos empregos, mas também deixarão gente sem renda e perspectiva, e, por isso mesmo, pesam nas urnas.
A pauta verde não costuma eleger políticos. A crise climática é complexa e difícil de comunicar. Enfrenta discursos negacionistas sem compromisso com a verdade e de gente que habita Terras planas. “Não é simples um político se levantar para essas questões. Esses temas, de fato, não dão muita visibilidade e muitos estão apanhando por conta de hastear bandeiras de diversidade, inclusão e meio ambiente”, concorda Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil.
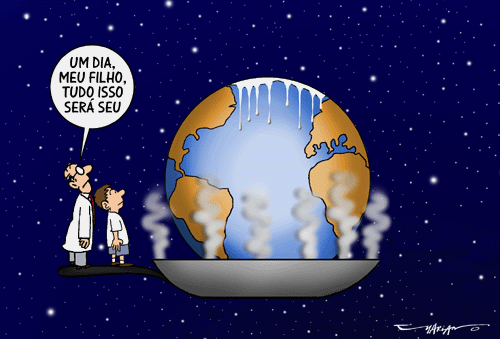
Na sua visão, contudo, trata-se de um dos vários espinhos da transição e, como tal, vai transmutar. “Há uma questão geracional muito forte, e entendo que este é o último fôlego de um conservadorismo para muitos destes temas.”
Pereira constata que, ao que parece, o Acordo de Livre-Comércio UE-Mercosul “acabou de ser implodido, muito devido aos agricultores europeus. Estamos em uma fase forte de protecionismo dos países, pela crise e inflação”, reforça. A mudança é difícil de acontecer quando eleitores sentem que suas necessidades básicas estão sendo, em alguma medida, ameaçadas. “Vimos o adiamento de algumas legislações. É de fato um momento sensível.”
No início de fevereiro a União Europeia derrubou metas ambientais mais ambiciosas. A Comissão Europeia, braço executivo do bloco, recuou para atender a protestos de agricultores disseminados pelo continente no início do ano, com longos comboios de tratores circulando pelas capitais europeias.
Assim foi deixado de lado, ao menos provisoriamente, o plano para reduzir pela metade a utilização de agrotóxicos em 2030. “Tornou-se um símbolo da polarização”, reconheceu Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. “Nossos agricultores merecem ser ouvidos”, reforçou. “Muitos se sentem encurralados em um canto”. No mesmo dia também foi descartada a meta recomendada para cortar emissões agrícolas de gases-estufa. Ursula von der Leyen reconheceu que a agricultura europeia tem que transitar para um modelo mais sustentável de produção. Fez uma autocrítica: “Talvez não tenhamos defendido esse ponto de vista de forma convincente”.
A retirada desses dois pontos da pauta tinha endereço e data: a eleição do Parlamento Europeu, em junho. Pesquisas de opinião indicam que a extrema direita pode conquistar muitos assentos e se tornar uma força política importante em grandes economias do bloco. A eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos tem o republicano Donald Trump, que retirou os EUA do Acordo de Paris, como nome forte. Em 2024, pelo menos quatro bilhões de pessoas em mais de 40 países irão eleger líderes - é o ano eleitoral mais importante do século, porque ocorre em um momento crucial para o mundo enfrentar a crise climática. “ Com eventos climáticos cada vez mais extremos e frequentes, não há como a população não perceber que, cada vez mais, os eventos afetam sua própria existência. Isso irá se reverter como uma demanda à classe política”, diz Pereira. É como se diz: a mudança virá, pelo amor ou pela dor.
A frase do início da coluna toca em uma segunda preocupação global, a que o multilateralismo anda a passos lentos enquanto a crise climática cresce exponencialmente. O mundo se compromete a distanciar dos combustíveis fósseis - a grande mensagem da COP28, a conferência do clima da ONU que aconteceu em Dubai, em dezembro -, depois de 31 anos de regime climático internacional. A promessa é feita sem prazos, arrancada nos malabarismos da linguagem diplomática, enquanto empresas de petróleo planejam abrir novas frentes de exploração.
O terceiro ponto é menos pragmático: o capitalismo consegue responder à crise do clima? A reunião dos ministros de finanças do G20 nesta semana, em São Paulo, procura encontrar soluções e direcionar fluxos financeiros para alvos menos danosos ao ambiente.
O mundo, contudo, segue mais desigual do que nunca e são os mais pobres quem mais sofrem com a crise climática. Em 2023, os investimentos mundiais em descarbonização somaram US$ 1,3 trilhão, mas só 6% desse valor foi destinado à América Latina, disse Mark Carney, enviado especial da ONU para Ambições Climáticas e Soluções durante a primeira edição do Fórum Brasileiro de Finanças Climáticas, em São Paulo. O grande volume de recursos foi investido na China, nos EUA e na União Europeia. O dinheiro que promove a nova economia global é gasto em países ricos ou na maior (e muito atenta) potência emergente do mundo.
É quase irresistível não fazer piada sobre os participantes da manifestação convocada por Jair Bolsonaro. Tudo tão caricato, mas o que vimos é mais alarmante do que cômico. Em público, integrantes do governo Lula ironizaram, enquanto o presidente reconheceu que foi "grande". Pelo menos temos um adulto na presidência.
Tanto faz se foram 185 ou 700 mil, era gente para dedéu na rua, sem falar de lives que reuniram mais de 200 mil pessoas e da mobilização nas redes, na quantidade de artigos, muitos desmerecendo o significado do ato, além dos que se lambuzaram em etarismo, racismo e elitismo. Por mais engraçado que seja, as senhoras que entoam Geraldo Vandré devem acreditar que lutam pela democracia e talvez estejam dispostas a pegar em armas para defendê-la da ditadura em que acreditam viver. O nível de dissonância cognitiva é grande, mas produzir meme não dissolve essa massa antidemocrática.
Tratar o bolsonarismo como um movimento de elite em 2024 é puro elitismo. Mais fácil personificar a extrema-direita como a velha loira botocada do que reconhecer que Bolsonaro conquistou o voto de gente preta e pobre, que deu as caras na Paulista. Tratá-los como coadjuvantes, numa manifestação em que os endinheirados só participaram porque não querem voltar a dividir o avião com os menos afortunados, é classismo. É enxergá-los apenas como massa de manobra e não como cidadãos atuantes na política. O Brasil é conservador e se encontra muito mais nas bandeiras autoritárias do bolsonarismo do que nas pautas de gente que desfila sua Birken em Santa Cecília.
Não sei se a esquerda morreu como esquerda, como afirma o filósofo Vladimir Saflate, mas anda muito distraída e ensimesmada com o fato de ter voltado ao poder, sem reconhecer que venceu uma eleição dificílima e que talvez o verdadeiro segundo turno seja o de 2026. Como vimos em 2018, gente ignorante e caricata ganha eleição.