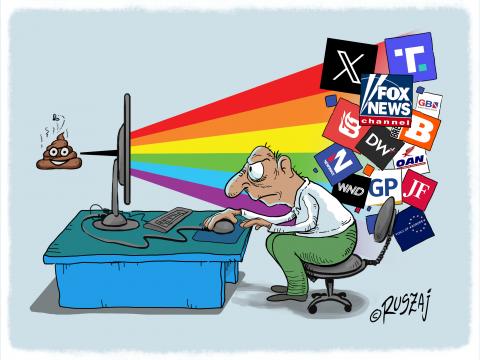domingo, 1 de fevereiro de 2026
Todos os que fingem não ver são culpados
Desço a rua em direção ao Rato. Passo, como tantas vezes, por aquele edifício cor de salmão, com a tinta a esboroar-se nas paredes, as portadas antigas de madeira gasta, o toldo azul-escuro carregado de pó que a chuva tornou lama e lhe dá um tom acinzentado. Desço a rua, como tantas vezes. Mas, desta vez, detenho-me. O passo suspende-se, num sobressalto. Olho para aquelas paredes gastas e vêm-me à cabeça as cenas que li sobre o que se passava para lá delas, dentro daquela esquadra de polícia onde até aí teria entrado a correr se achasse precisar de ajuda. A mulher espancada, amarrada a uma cadeira como se estivesse num crucifixo, o homem a quem obrigaram a beijar as botas dos agentes, o que foi sodomizado com o pau de uma vassoura, os ciganos que, segundo uma testemunha, terão sido obrigados a praticar sexo oral.
A descrição destes horrores está numa acusação do Ministério Público. E a investigação foi aberta graças a uma denúncia encaminhada pela Direção Nacional da PSP. E talvez isso devesse sossegar-me. Mas não sossega. Leio nas notícias que, além dos dois detidos, há dez agentes “investigados pelas agressões de extrema violência cometidas contra detidos e pessoas vulneráveis” que continuam a trabalhar. E que os vídeos das torturas e dos abusos sexuais foram partilhados em grupos de WhatsApp com 70 participantes, acredita-se que muitos deles polícias, que recebiam as imagens com comentários jocosos e racistas.
Enquanto desço a rua, penso em Renee Good, uma mulher de 37 anos, mãe de três filhos, sem registo criminal, que foi baleada, depois de, vendo-se rodeada de agentes do ICE (a polícia anti-imigração de Trump), tentar afastar-se no carro onde seguia antes de parar para ver o aparato policial. Os vídeos que circulam na internet mostram-na a olhar de frente para o agente que ia matá-la. “Não estou zangada consigo”, foram as suas últimas palavras. A sua cara não mostra raiva nem medo. Mas é difícil acreditar que os homens armados que a rodeavam não a tenham intimidado.
Depois de ser atingida a tiro várias vezes, continuou viva durante oito minutos. Um vizinho, médico, tentou aproximar-se do corpo para lhe prestar auxílio. Foi impedido pelos agentes do ICE. O carro de Renee estava cheio dos peluches do filho mais novo e a mulher não tinha sequer um passado de ativismo político. Mas isso não impediu a Administração Trump de a culpar da sua própria morte, acusando-a de tentar atropelar os agentes que a mataram, apesar de se ver nas imagens que o carro só seguiu já depois dos primeiros tiros. A verdade não importa. E o que não falta é gente disposta a acreditar que “quem não deve não teme” e a aceitar que qualquer desobediência a um agente da lei (real ou imaginada) pode ser punida com a pena de morte.
Tenho o Instagram cheio de fotografias e vídeos dos horrores do ICE. Um menino de 5 anos, com uma mochila do Homem-Aranha às costas, a ser detido. Um bebé de 6 meses com os olhos inchados depois de ser gaseado com gás pimenta. Um pai a ter um ataque de epilepsia, com um bebé de 1 ano ao colo, enquanto é arrancado à força do carro pelos agentes. Uma mulher deficiente arrastada pelo chão. Uma menina de 6 anos cujo pai foi detido e que ficou sozinha a deambular pela rua. Uma mãe com um bebé, forçada a deixá-lo a um estranho, enquanto a arrastam para dentro de uma carrinha. Há de tudo nestas imagens: homens e mulheres, brancos, negros e latinos, alguns até cidadãos americanos. Nada importa. Ninguém está a salvo. E essa é que é grande mensagem política.
O medo é a nova política. A força é a nova lei. Não há espaço para o “quem não deve não teme” dos mais ingénuos ou simplesmente dos que se acham imunes a tudo porque só se metem na sua vidinha. Que ninguém diga que não sabia, que não viu, que não percebeu o que estava a acontecer. Não há ninguém que não tenha visto a fome e a morte a abater-se sobre Gaza. Não há ninguém que não tenha visto os campos de concentração em El Salvador para onde são enviados homens apanhados ao acaso nas ruas dos EUA, por serem latinos ou estarem tatuados, sem direito a julgamento nem defesa. Não há ninguém que não tenha ouvido Trump a anunciar como iria apoderar-se do petróleo da Venezuela depois de ter sequestrado um Presidente ou como iria “adquirir” território na Dinamarca.
Todos os que fingem que nada se passa são culpados. E ninguém ficará a salvo. Nem o mais servil colaboracionista. Porque a onda de terror, de depredação dos recursos naturais, de exploração dos mais fracos e de humilhação dos que se lhe opõem fará de todos vítimas, mais cedo ou mais tarde.
As 12 pessoas mais ricas do mundo têm hoje mais dinheiro do que a metade mais pobre da Humanidade. É um nível de desigualdade nunca antes visto, que significa apenas uma coisa: existem 12 predadores no planeta. Todos os outros são suas presas. Mesmo os que se acham a salvo por serem mais brancos, mais homens, mais ricos, mais poderosos. Qualquer um deles pode ser esmagado por um destes 12. E a velocidade a que serão esmagados está em aceleração. Segundo um relatório divulgado na semana passada pela Oxfam, “em 2025, a riqueza dos multimilionários cresceu mais de 16%, um ritmo três vezes superior à média dos últimos cinco anos”.
Os polícias que agora torturam e humilham fazem-no porque podem. Porque se sentem esmagados e humilhados por um sistema que se serve deles e os despreza, condenando-os a uma vida miserável. Vingam-se com crueldade não dos que os oprimem, mas daqueles que não podem fazer-lhes frente. E podem fazê-lo, porque o sistema os tolera, beneficia deles até, mantendo um nível de medo que evita a revolta dos que são explorados.
E qual é a nossa força perante tudo isto? É que somos muitos. Somos muitos mais. Eles sabem-no. E por isso querem-nos sonolentos, apáticos, de ombros encolhidos ou tolhidos pelo medo. Se começarmos a abrir os olhos, se não nos vergarmos à injustiça, se pararmos de fingir que não vemos, se perdermos o medo, podemos ganhar.
Não podem matar-nos a todos, não há prisões no mundo suficientes para nos prender. O mal só se instalará pela nossa inação. O mal só vencerá se aceitarmos participar na sua farsa, fingindo que se trata da lei ou de uma inevitabilidade.
A descrição destes horrores está numa acusação do Ministério Público. E a investigação foi aberta graças a uma denúncia encaminhada pela Direção Nacional da PSP. E talvez isso devesse sossegar-me. Mas não sossega. Leio nas notícias que, além dos dois detidos, há dez agentes “investigados pelas agressões de extrema violência cometidas contra detidos e pessoas vulneráveis” que continuam a trabalhar. E que os vídeos das torturas e dos abusos sexuais foram partilhados em grupos de WhatsApp com 70 participantes, acredita-se que muitos deles polícias, que recebiam as imagens com comentários jocosos e racistas.
Enquanto desço a rua, penso em Renee Good, uma mulher de 37 anos, mãe de três filhos, sem registo criminal, que foi baleada, depois de, vendo-se rodeada de agentes do ICE (a polícia anti-imigração de Trump), tentar afastar-se no carro onde seguia antes de parar para ver o aparato policial. Os vídeos que circulam na internet mostram-na a olhar de frente para o agente que ia matá-la. “Não estou zangada consigo”, foram as suas últimas palavras. A sua cara não mostra raiva nem medo. Mas é difícil acreditar que os homens armados que a rodeavam não a tenham intimidado.
Depois de ser atingida a tiro várias vezes, continuou viva durante oito minutos. Um vizinho, médico, tentou aproximar-se do corpo para lhe prestar auxílio. Foi impedido pelos agentes do ICE. O carro de Renee estava cheio dos peluches do filho mais novo e a mulher não tinha sequer um passado de ativismo político. Mas isso não impediu a Administração Trump de a culpar da sua própria morte, acusando-a de tentar atropelar os agentes que a mataram, apesar de se ver nas imagens que o carro só seguiu já depois dos primeiros tiros. A verdade não importa. E o que não falta é gente disposta a acreditar que “quem não deve não teme” e a aceitar que qualquer desobediência a um agente da lei (real ou imaginada) pode ser punida com a pena de morte.
Tenho o Instagram cheio de fotografias e vídeos dos horrores do ICE. Um menino de 5 anos, com uma mochila do Homem-Aranha às costas, a ser detido. Um bebé de 6 meses com os olhos inchados depois de ser gaseado com gás pimenta. Um pai a ter um ataque de epilepsia, com um bebé de 1 ano ao colo, enquanto é arrancado à força do carro pelos agentes. Uma mulher deficiente arrastada pelo chão. Uma menina de 6 anos cujo pai foi detido e que ficou sozinha a deambular pela rua. Uma mãe com um bebé, forçada a deixá-lo a um estranho, enquanto a arrastam para dentro de uma carrinha. Há de tudo nestas imagens: homens e mulheres, brancos, negros e latinos, alguns até cidadãos americanos. Nada importa. Ninguém está a salvo. E essa é que é grande mensagem política.
O medo é a nova política. A força é a nova lei. Não há espaço para o “quem não deve não teme” dos mais ingénuos ou simplesmente dos que se acham imunes a tudo porque só se metem na sua vidinha. Que ninguém diga que não sabia, que não viu, que não percebeu o que estava a acontecer. Não há ninguém que não tenha visto a fome e a morte a abater-se sobre Gaza. Não há ninguém que não tenha visto os campos de concentração em El Salvador para onde são enviados homens apanhados ao acaso nas ruas dos EUA, por serem latinos ou estarem tatuados, sem direito a julgamento nem defesa. Não há ninguém que não tenha ouvido Trump a anunciar como iria apoderar-se do petróleo da Venezuela depois de ter sequestrado um Presidente ou como iria “adquirir” território na Dinamarca.
Todos os que fingem que nada se passa são culpados. E ninguém ficará a salvo. Nem o mais servil colaboracionista. Porque a onda de terror, de depredação dos recursos naturais, de exploração dos mais fracos e de humilhação dos que se lhe opõem fará de todos vítimas, mais cedo ou mais tarde.
As 12 pessoas mais ricas do mundo têm hoje mais dinheiro do que a metade mais pobre da Humanidade. É um nível de desigualdade nunca antes visto, que significa apenas uma coisa: existem 12 predadores no planeta. Todos os outros são suas presas. Mesmo os que se acham a salvo por serem mais brancos, mais homens, mais ricos, mais poderosos. Qualquer um deles pode ser esmagado por um destes 12. E a velocidade a que serão esmagados está em aceleração. Segundo um relatório divulgado na semana passada pela Oxfam, “em 2025, a riqueza dos multimilionários cresceu mais de 16%, um ritmo três vezes superior à média dos últimos cinco anos”.
Os polícias que agora torturam e humilham fazem-no porque podem. Porque se sentem esmagados e humilhados por um sistema que se serve deles e os despreza, condenando-os a uma vida miserável. Vingam-se com crueldade não dos que os oprimem, mas daqueles que não podem fazer-lhes frente. E podem fazê-lo, porque o sistema os tolera, beneficia deles até, mantendo um nível de medo que evita a revolta dos que são explorados.
E qual é a nossa força perante tudo isto? É que somos muitos. Somos muitos mais. Eles sabem-no. E por isso querem-nos sonolentos, apáticos, de ombros encolhidos ou tolhidos pelo medo. Se começarmos a abrir os olhos, se não nos vergarmos à injustiça, se pararmos de fingir que não vemos, se perdermos o medo, podemos ganhar.
Não podem matar-nos a todos, não há prisões no mundo suficientes para nos prender. O mal só se instalará pela nossa inação. O mal só vencerá se aceitarmos participar na sua farsa, fingindo que se trata da lei ou de uma inevitabilidade.
O silêncio de Auschwitz
Na gelada madrugada de 27 de janeiro de 1945, o soldado soviético Ivan Martynushkin avançava cautelosamente entre edifícios cinzentos cercados por arame farpado. Esperava resistência alemã, minas, armadilhas, um potencial ataque. Em vez disso, encontrou silêncio. Um silêncio pesado e fantasmagórico. À sua frente surgiram figuras humanas que pareciam sombras. Homens e mulheres de olhar vazio, envoltos em farrapos, demasiado fracos para celebrar a libertação. Algumas crianças observavam sem chorar, como se o choro tivesse sido engolido algures entre a fome e o medo. Auschwitz tinha sido libertado. E o mundo, finalmente, via.
É esse dia concreto — 27 de janeiro de 1945 — que o mundo agora assinala como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Trata-se de um dia de ancoragem histórica que nos remete para um momento em que as portas se abriram e a extensão do horror deixou de poder ser negada. Nesse dia, os soldados encontraram mais de sete mil sobreviventes, toneladas de cabelo humano, malas com nomes escritos à pressa, sapatos de crianças. Provas materiais de um crime que desafiava qualquer linguagem conhecida.
O Holocausto, contudo, não se revelou nesse dia, apenas se confirmou. O que ali se tornou visível foi o resultado de anos de perseguição sistemática, planeada, burocratizada. Auschwitz era apenas um dos centros de um mecanismo de extermínio que assassinou cerca de seis milhões de judeus, para além de pessoas de etnia cigana, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos e outros considerados “indesejáveis”. A libertação não apagou o crime — apenas impediu que ele continuasse naquele lugar.
A primeira lição do Holocausto é que ele não começou nos campos. Começou muito antes, em palavras de desumanização, em caricaturas que ridicularizavam grupos específicos, em leis que separavam, numa insidiosa e crescente “banalização do mal”. Começou quando a diferença passou a ser apresentada como ameaça e o vizinho como inimigo. Assim, o extermínio foi o ponto final de um processo gradual, aceite passo a passo por uma sociedade que se habituou a ceder princípios em troca de conforto ou medo.
Por isso, a memória deste dia não pode ser apenas cerimonial ou meramente simbólica, mas antes deverá constituir pretexto para nos deixarmos inquietar, reconhecendo que a civilização, então como agora, não é imune à barbárie. De facto, convém notar que Alemanha nazi não era um deserto cultural; era uma sociedade moderna, instruída e organizada. O Holocausto prova, por isso, que o progresso técnico e intelectual, sem ética, pode servir o mal com uma eficiência devastadora.
Nos dias de hoje, esta lição torna-se novamente urgente. Assistimos ao regresso de discursos que dividem o mundo em perigosas polarizações e que simplificam a complexidade humana em rótulos hostis. O racismo, a xenofobia e o desprezo por minorias ganham novamente espaço público, legitimados por linguagem agressiva e pela normalização do insulto. A acrescer, verifica-se que o maior perigo não reside apenas nos extremismos declarados, mas igualmente na erosão lenta do limite do aceitável. Quando se começa a tolerar a humilhação do outro, quando se relativiza a dignidade humana em nome da segurança, da identidade ou da maioria, entra-se num terreno perigosamente conhecido. O Holocausto ensina-nos que a indiferença é fértil e que nela o mal cresce sem resistência.
Por tudo isto, o desafio que este dia nos coloca para o futuro é talvez o mais difícil. As testemunhas diretas estão a desaparecer e, em breve, não haverá sobreviventes que possam dizer o que viram na primeira pessoa. A memória passará a depender exclusivamente da nossa responsabilidade coletiva, do rigor histórico contra a negação e o revisionismo, da educação contra a ignorância e da empatia contra o cinismo.
Recordar o Holocausto é também um compromisso para com os vivos. Com aqueles que hoje são marginalizados, perseguidos ou silenciados. Não porque a História se repita de forma mecânica, mas porque os seus mecanismos são reconhecíveis. O “nunca mais” não é uma garantia automática, mas antes uma tarefa permanente que exige vigilância, coragem cívica e a recusa clara de qualquer hierarquia de humanidade.
Quando Ivan Martynushkin saiu de Auschwitz, anos mais tarde diria que nunca conseguiu esquecer aqueles olhos que o olhavam em silêncio. Esse olhar atravessa o tempo e chega até nós. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto existe para que não desviemos o olhar, porque lembrar não é um gesto passivo: é uma escolha moral. E dessa escolha depende, ainda hoje, o futuro da nossa humanidade.
É esse dia concreto — 27 de janeiro de 1945 — que o mundo agora assinala como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Trata-se de um dia de ancoragem histórica que nos remete para um momento em que as portas se abriram e a extensão do horror deixou de poder ser negada. Nesse dia, os soldados encontraram mais de sete mil sobreviventes, toneladas de cabelo humano, malas com nomes escritos à pressa, sapatos de crianças. Provas materiais de um crime que desafiava qualquer linguagem conhecida.
O Holocausto, contudo, não se revelou nesse dia, apenas se confirmou. O que ali se tornou visível foi o resultado de anos de perseguição sistemática, planeada, burocratizada. Auschwitz era apenas um dos centros de um mecanismo de extermínio que assassinou cerca de seis milhões de judeus, para além de pessoas de etnia cigana, pessoas com deficiência, homossexuais, opositores políticos e outros considerados “indesejáveis”. A libertação não apagou o crime — apenas impediu que ele continuasse naquele lugar.
Por isso, evocar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é como regressar a esse silêncio inicial. Um silêncio que não é vazio, mas saturado de perguntas. Como foi possível? Quem sabia? Quem escolheu não saber? E, talvez a pergunta mais incómoda: o que faríamos nós, colocados nas mesmas circunstâncias?
A primeira lição do Holocausto é que ele não começou nos campos. Começou muito antes, em palavras de desumanização, em caricaturas que ridicularizavam grupos específicos, em leis que separavam, numa insidiosa e crescente “banalização do mal”. Começou quando a diferença passou a ser apresentada como ameaça e o vizinho como inimigo. Assim, o extermínio foi o ponto final de um processo gradual, aceite passo a passo por uma sociedade que se habituou a ceder princípios em troca de conforto ou medo.
Por isso, a memória deste dia não pode ser apenas cerimonial ou meramente simbólica, mas antes deverá constituir pretexto para nos deixarmos inquietar, reconhecendo que a civilização, então como agora, não é imune à barbárie. De facto, convém notar que Alemanha nazi não era um deserto cultural; era uma sociedade moderna, instruída e organizada. O Holocausto prova, por isso, que o progresso técnico e intelectual, sem ética, pode servir o mal com uma eficiência devastadora.
Nos dias de hoje, esta lição torna-se novamente urgente. Assistimos ao regresso de discursos que dividem o mundo em perigosas polarizações e que simplificam a complexidade humana em rótulos hostis. O racismo, a xenofobia e o desprezo por minorias ganham novamente espaço público, legitimados por linguagem agressiva e pela normalização do insulto. A acrescer, verifica-se que o maior perigo não reside apenas nos extremismos declarados, mas igualmente na erosão lenta do limite do aceitável. Quando se começa a tolerar a humilhação do outro, quando se relativiza a dignidade humana em nome da segurança, da identidade ou da maioria, entra-se num terreno perigosamente conhecido. O Holocausto ensina-nos que a indiferença é fértil e que nela o mal cresce sem resistência.
Por tudo isto, o desafio que este dia nos coloca para o futuro é talvez o mais difícil. As testemunhas diretas estão a desaparecer e, em breve, não haverá sobreviventes que possam dizer o que viram na primeira pessoa. A memória passará a depender exclusivamente da nossa responsabilidade coletiva, do rigor histórico contra a negação e o revisionismo, da educação contra a ignorância e da empatia contra o cinismo.
Recordar o Holocausto é também um compromisso para com os vivos. Com aqueles que hoje são marginalizados, perseguidos ou silenciados. Não porque a História se repita de forma mecânica, mas porque os seus mecanismos são reconhecíveis. O “nunca mais” não é uma garantia automática, mas antes uma tarefa permanente que exige vigilância, coragem cívica e a recusa clara de qualquer hierarquia de humanidade.
Quando Ivan Martynushkin saiu de Auschwitz, anos mais tarde diria que nunca conseguiu esquecer aqueles olhos que o olhavam em silêncio. Esse olhar atravessa o tempo e chega até nós. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto existe para que não desviemos o olhar, porque lembrar não é um gesto passivo: é uma escolha moral. E dessa escolha depende, ainda hoje, o futuro da nossa humanidade.
A guerra de Trump contra os EUA
Em "Doze Homens e uma Sentença" (1957), filme de Sidney Lumet, um jurado (Henry Fonda) consegue reverter a decisão de seus dez colegas dispostos a condenar um jovem acusado de matar o pai. Fonda, o jurado nº 8, não está convencido da culpa do rapaz e apresenta objeções que vão dobrando, uma a uma, a certeza de cada um. No fim, todos votam pela absolvição do garoto. São 95 minutos num cenário único, a sala de reunião do júri, e uma esgrima de diálogos em busca da verdade e da justiça.
Em "Matar ou Morrer" (1952), de Fred Zinnemann, um xerife (Will Kane, interpretado por Gary Cooper) é avisado pelo telégrafo de que um assassino que ele prendeu anos antes foi posto em liberdade e cavalga rumo à cidade, com mais três pistoleiros, para se vingar. Serão quatro contra um. Kane, a quem a cidade devia a paz em que vivia, pede ajuda aos cidadãos e todos têm motivo para recusar. Deixado sozinho, ele encara e mata os quatro (um deles, com a ajuda de sua noiva quaker Grace Kelly), Quando a cidade vai festejá-lo, Kane tira a estrelinha do colete, atira-a ao chão e vai embora.
Em "O Vento Será Tua Herança" (1960), de Stanley Kramer, um advogado (Spencer Tracy) enfrenta uma cidadezinha maciçamente evangélica e criacionista decidida a silenciar um jovem professor adepto da ciência e do evolucionismo. O filme mostra o julgamento, um duelo de argumentos entre Tracy e outro poderoso advogado (Fredric March) sobre Darwin e a Bíblia —o darwinismo era então crime no estado. O professor acaba condenado, mas a uma multa ridícula, que não o impedirá de lecionar.
Eram esses os EUA que, apesar de todas as sujeiras em política internacional, éramos levados a admirar. O país em que, pela bravura e correção, um indivíduo conseguia se impor a uma maioria hostil. Hoje é o contrário: um ferrabrás se impõe pelo poder e hostiliza e esmaga a maioria. Donald Trump parece estar declarando guerra aos próprios EUA.
E os americanos já não têm um Henry Fonda, um Gary Cooper e um Spencer Tracy que os defendam.
Em "Matar ou Morrer" (1952), de Fred Zinnemann, um xerife (Will Kane, interpretado por Gary Cooper) é avisado pelo telégrafo de que um assassino que ele prendeu anos antes foi posto em liberdade e cavalga rumo à cidade, com mais três pistoleiros, para se vingar. Serão quatro contra um. Kane, a quem a cidade devia a paz em que vivia, pede ajuda aos cidadãos e todos têm motivo para recusar. Deixado sozinho, ele encara e mata os quatro (um deles, com a ajuda de sua noiva quaker Grace Kelly), Quando a cidade vai festejá-lo, Kane tira a estrelinha do colete, atira-a ao chão e vai embora.
Em "O Vento Será Tua Herança" (1960), de Stanley Kramer, um advogado (Spencer Tracy) enfrenta uma cidadezinha maciçamente evangélica e criacionista decidida a silenciar um jovem professor adepto da ciência e do evolucionismo. O filme mostra o julgamento, um duelo de argumentos entre Tracy e outro poderoso advogado (Fredric March) sobre Darwin e a Bíblia —o darwinismo era então crime no estado. O professor acaba condenado, mas a uma multa ridícula, que não o impedirá de lecionar.
Eram esses os EUA que, apesar de todas as sujeiras em política internacional, éramos levados a admirar. O país em que, pela bravura e correção, um indivíduo conseguia se impor a uma maioria hostil. Hoje é o contrário: um ferrabrás se impõe pelo poder e hostiliza e esmaga a maioria. Donald Trump parece estar declarando guerra aos próprios EUA.
E os americanos já não têm um Henry Fonda, um Gary Cooper e um Spencer Tracy que os defendam.
'Cuidado com os leões'
Há poucas semanas visitei uma praia belíssima, em Moçambique, a poucos quilômetros de um parque nacional. Lá chegados, convidei a minha filha mais nova, Kianda, de 7 anos, a acompanhar-me numa trilha aberta na falésia, junto ao mar. Já avançara alguns metros quando ela me chamou, gritando, muito assustada, ao mesmo tempo que apontava para um aviso colocado à entrada da trilha:
— Cuidado, papá! Os leões!
— Leões?!
— Aqui está escrito “Cuidado com os leões”!
Juntei-me a ela, surpreso e, confesso, também eu um pouco inquieto. Ocorreu-me que estando nós tão próximos da reserva natural talvez fosse mesmo possível surgirem leões. Olhei para todos os lados, imaginando o que aconteceria caso aparecesse uma fera, mostrando os dentes, rugindo. Como poderíamos fugir? Correndo para a água? Será que os leões sabem nadar?
Então, li o cartaz. Dizia: “Cuidado com as lesões! Não nos responsabilizamos por eventuais quedas!”
Expliquei à menina que não eram leões, e sim lesões. Aquela palavra estranha queria dizer ferimentos, arranhões, ossos quebrados. Ela escutou-me com atenção, assentiu, e depois proclamou, definitiva:
— Ah. Então está mal escrito.
Perguntei-lhe por quê.
— Porque assim como está assusta as pessoas.
Enquanto avançávamos na trilha eu pensava no cartaz. Não no erro de leitura, mas na correção moral da interpretação. O aviso não nos alertava para o perigo — protegia quem o colocou. Não dizia apenas tenham cuidado. Dizia: se acontecer algo, o problema é vosso.
O equívoco pode ser lido como um pequeno retrato deste nosso tempo. Vivemos cercados de avisos que não avisam, de comunicados que não informam, de discursos cujo verdadeiro objetivo não é tanto proteger os cidadãos, e sim resguardar as instituições. Nos últimos anos assistimos à multiplicação de cartazes invisíveis. Estão nas redes sociais, nos discursos políticos, nos comunicados oficiais, nos contratos que aceitamos sem ler. Dizem-nos, todos os dias, que a responsabilidade é dos outros. Que os danos são colaterais. Que as vítimas são inevitáveis. Que os erros são técnicos. Que ninguém sabia. Que ninguém viu. Que ninguém tem culpa. Chamam a isto pragmatismo. Boa gestão. Realismo.
As crianças, com o bom senso ainda intacto, dão-lhe o nome adequado — leões!
Talvez por isso o mundo contemporâneo seja tão difícil de explicar a uma criança — e, ao mesmo tempo, tão fácil de explicar por uma criança. Quando nós escutamos “danos aceitáveis”, elas ouvem feras à solta. Onde nós invocamos cláusulas, elas perguntam: quem vai ser comido?
Sempre que um governante alerta para “o pequeno desconforto” de certas medidas, há leões escondidos na frase. Quando uma empresa pede desculpa “se alguém se sentiu ofendido”, há leões passeando entre as palavras. Quando se fala de guerras “cirúrgicas”, de migrações “ilegais”, de mortes “inevitáveis”, os leões estão lá — sentados no afável crepúsculo dos seus cadeirões de couro, de terno elegante, gravata a condizer, e óculos escuros.
Completamos a trilha, eu e Kianda, e regressamos sem lesões — e sem ter visto leões —, com os olhos cheios da bela luz do Índico.
— Cuidado, papá! Os leões!
— Leões?!
— Aqui está escrito “Cuidado com os leões”!
Juntei-me a ela, surpreso e, confesso, também eu um pouco inquieto. Ocorreu-me que estando nós tão próximos da reserva natural talvez fosse mesmo possível surgirem leões. Olhei para todos os lados, imaginando o que aconteceria caso aparecesse uma fera, mostrando os dentes, rugindo. Como poderíamos fugir? Correndo para a água? Será que os leões sabem nadar?
Então, li o cartaz. Dizia: “Cuidado com as lesões! Não nos responsabilizamos por eventuais quedas!”
Expliquei à menina que não eram leões, e sim lesões. Aquela palavra estranha queria dizer ferimentos, arranhões, ossos quebrados. Ela escutou-me com atenção, assentiu, e depois proclamou, definitiva:
— Ah. Então está mal escrito.
Perguntei-lhe por quê.
— Porque assim como está assusta as pessoas.
Enquanto avançávamos na trilha eu pensava no cartaz. Não no erro de leitura, mas na correção moral da interpretação. O aviso não nos alertava para o perigo — protegia quem o colocou. Não dizia apenas tenham cuidado. Dizia: se acontecer algo, o problema é vosso.
O equívoco pode ser lido como um pequeno retrato deste nosso tempo. Vivemos cercados de avisos que não avisam, de comunicados que não informam, de discursos cujo verdadeiro objetivo não é tanto proteger os cidadãos, e sim resguardar as instituições. Nos últimos anos assistimos à multiplicação de cartazes invisíveis. Estão nas redes sociais, nos discursos políticos, nos comunicados oficiais, nos contratos que aceitamos sem ler. Dizem-nos, todos os dias, que a responsabilidade é dos outros. Que os danos são colaterais. Que as vítimas são inevitáveis. Que os erros são técnicos. Que ninguém sabia. Que ninguém viu. Que ninguém tem culpa. Chamam a isto pragmatismo. Boa gestão. Realismo.
As crianças, com o bom senso ainda intacto, dão-lhe o nome adequado — leões!
Talvez por isso o mundo contemporâneo seja tão difícil de explicar a uma criança — e, ao mesmo tempo, tão fácil de explicar por uma criança. Quando nós escutamos “danos aceitáveis”, elas ouvem feras à solta. Onde nós invocamos cláusulas, elas perguntam: quem vai ser comido?
Sempre que um governante alerta para “o pequeno desconforto” de certas medidas, há leões escondidos na frase. Quando uma empresa pede desculpa “se alguém se sentiu ofendido”, há leões passeando entre as palavras. Quando se fala de guerras “cirúrgicas”, de migrações “ilegais”, de mortes “inevitáveis”, os leões estão lá — sentados no afável crepúsculo dos seus cadeirões de couro, de terno elegante, gravata a condizer, e óculos escuros.
Completamos a trilha, eu e Kianda, e regressamos sem lesões — e sem ter visto leões —, com os olhos cheios da bela luz do Índico.
Imperialismo e a crise da imaginação
Os acontecimentos recentes envolvendo Estados Unidos e Venezuela reativaram, no debate público e acadêmico, a defesa do armamento nuclear como resposta à instabilidade internacional. Volta a circular a ideia de que a proliferação de armas atômicas seria um instrumento racional de equilíbrio, inclusive para países do Sul Global. Trata-se de uma formulação conhecida, reiterada em análises estratégicas, colunas de opinião e tradições consolidadas das Relações Internacionais, segundo a qual a ameaça mútua de destruição total funcionaria como garantia de paz. Se todos estiverem armados até os dentes, ninguém ousará atacar. Essa proposta revela uma crise da imaginação. O aumento contínuo dos gastos militares, que bate recordes ano após ano, não produziu um mundo mais seguro. A expansão do aparato militar convive com a incapacidade de reduzir desigualdades globais ou enfrentar crises sistêmicas como o colapso ambiental.
A dificuldade de conceber outras formas de organização do mundo que escapem à lógica do sistema interestatal moderno e à reprodução do capitalismo global gera pânico. Esse terror se manifesta em demandas por respostas rápidas e soluções supostamente técnicas e racionais. É nesse terreno que os ideais clássicos do realismo em Relações Internacionais recuperam força, com a proposta, aparentemente pragmática, de que países do Sul Global deveriam desenvolver arsenais nucleares como estratégia de dissuasão, reproduzindo a lógica de poder das grandes potências globais. Essa formulação ignora que o imperialismo, conforme elaborado por Lênin, não é atributo de determinados Estados, mas uma fase estrutural do capitalismo. Portanto, é um erro achar que a atuação imperial se restringe aos Estados Unidos ou mesmo ao Ocidente. Não obstante, reduzir o problema à distribuição de capacidades militares entre Estados desloca o foco das relações sociais que sustentam a acumulação global. A consequência dessa leitura é a substituição da crítica ao imperialismo por uma disputa entre projetos armamentistas concorrentes.
A lógica que defende o armamentismo estatal desconsidera o imperialismo como forma precária de extrativismo, isto é, superexploração econômica e o reduz a um problema de poder bélico ou demonstração de força. A proliferação de armas nucleares não interrompe as diversas e novas formas de violência demandadas pela acumulação de capital. É necessário recolocar os interesses de classe no centro da análise. Historicamente, enquanto saúde, educação, literatura e artes permanecem subfinanciadas, os gastos com militarização e estratégias de defesa nacional atingem patamares exorbitantes. Em vez de sustentar que Venezuela, Colômbia ou Brasil devam desenvolver arsenais nucleares, o debate deveria se concentrar na construção de autogoverno, na organização da classe trabalhadora e na solidariedade internacional.
A mesma crise do pensamento opera no debate ambiental quando soluções capitalistas e individualizadas são apresentadas como resposta a problemas estruturais. A aposta nos veículos elétricos ilustra esse deslocamento, pois são vendidos como alternativa ecológica, enquanto preservam o núcleo do problema ao manter intacto o modelo de mobilidade baseado no transporte individual, na expansão urbana desigual e na dependência de cadeias globais de extração mineral. A questão não deveria ser quem detém o direito de explorar a natureza, se o petróleo deve ser nosso ou se o comprador será Estados Unidos, China ou Rússia. Como lembra Sabrina Fernandes, há caminhos possíveis para a superação dos combustíveis fósseis, pois impossível é um mundo habitável pautado no consumo vigente. Soluções capitalistas para problemas capitalistas apenas deslocam o impasse. O colapso ambiental é tratado como falha tecnológica a ser corrigida por escolhas individuais de consumo, enquanto permanecem fora do debate a precariedade da mobilidade urbana, o colapso do transporte público, o abandono da malha ferroviária e a subordinação das políticas urbanas aos interesses do capital automobilístico. Há grupos que lucram com a exploração do petróleo, com a expansão do armamento nuclear e com respostas simplificadoras; certamente, não se trata de nossa classe, a maioria da população.
Kelvin Araújo da Nóbrega Dias
A dificuldade de conceber outras formas de organização do mundo que escapem à lógica do sistema interestatal moderno e à reprodução do capitalismo global gera pânico. Esse terror se manifesta em demandas por respostas rápidas e soluções supostamente técnicas e racionais. É nesse terreno que os ideais clássicos do realismo em Relações Internacionais recuperam força, com a proposta, aparentemente pragmática, de que países do Sul Global deveriam desenvolver arsenais nucleares como estratégia de dissuasão, reproduzindo a lógica de poder das grandes potências globais. Essa formulação ignora que o imperialismo, conforme elaborado por Lênin, não é atributo de determinados Estados, mas uma fase estrutural do capitalismo. Portanto, é um erro achar que a atuação imperial se restringe aos Estados Unidos ou mesmo ao Ocidente. Não obstante, reduzir o problema à distribuição de capacidades militares entre Estados desloca o foco das relações sociais que sustentam a acumulação global. A consequência dessa leitura é a substituição da crítica ao imperialismo por uma disputa entre projetos armamentistas concorrentes.
A lógica que defende o armamentismo estatal desconsidera o imperialismo como forma precária de extrativismo, isto é, superexploração econômica e o reduz a um problema de poder bélico ou demonstração de força. A proliferação de armas nucleares não interrompe as diversas e novas formas de violência demandadas pela acumulação de capital. É necessário recolocar os interesses de classe no centro da análise. Historicamente, enquanto saúde, educação, literatura e artes permanecem subfinanciadas, os gastos com militarização e estratégias de defesa nacional atingem patamares exorbitantes. Em vez de sustentar que Venezuela, Colômbia ou Brasil devam desenvolver arsenais nucleares, o debate deveria se concentrar na construção de autogoverno, na organização da classe trabalhadora e na solidariedade internacional.
A mesma crise do pensamento opera no debate ambiental quando soluções capitalistas e individualizadas são apresentadas como resposta a problemas estruturais. A aposta nos veículos elétricos ilustra esse deslocamento, pois são vendidos como alternativa ecológica, enquanto preservam o núcleo do problema ao manter intacto o modelo de mobilidade baseado no transporte individual, na expansão urbana desigual e na dependência de cadeias globais de extração mineral. A questão não deveria ser quem detém o direito de explorar a natureza, se o petróleo deve ser nosso ou se o comprador será Estados Unidos, China ou Rússia. Como lembra Sabrina Fernandes, há caminhos possíveis para a superação dos combustíveis fósseis, pois impossível é um mundo habitável pautado no consumo vigente. Soluções capitalistas para problemas capitalistas apenas deslocam o impasse. O colapso ambiental é tratado como falha tecnológica a ser corrigida por escolhas individuais de consumo, enquanto permanecem fora do debate a precariedade da mobilidade urbana, o colapso do transporte público, o abandono da malha ferroviária e a subordinação das políticas urbanas aos interesses do capital automobilístico. Há grupos que lucram com a exploração do petróleo, com a expansão do armamento nuclear e com respostas simplificadoras; certamente, não se trata de nossa classe, a maioria da população.
Kelvin Araújo da Nóbrega Dias
O mundo sagrado da Amazônia
Da varanda do meu apartamento no décimo pavimento de um prédio na Avenida Floriano Peixoto, em frente ao exuberante Rio Negro, de suntuosa beleza, vejo o sol nascer e se pôr ao final do dia. Inaugurado em 1951, modernista, o edifício se transformou em um ícone da arquitetura e da história de Manaus. Embora o sol nasça sempre no oriente e se ponha no ocidente, nenhum dia é exatamente igual ao outro. A profusão de nuvens que navegam livres na vastidão do céu, maior ainda do que o já monumental rio, me surpreende a cada dia com um espetáculo único e sempre magnífico. Às vezes o sol mal consegue lugar no horizonte, coberto por poderosas nuvens, e sai por aí, procurando brechas, aqui e acolá, para impor a sua majestosa soberania.
Da varanda do meu apartamento, vejo também as inúmeras embarcações ancoradas e, igualmente, uma profusão de barcos, lanchas e canoas que, de diversos tamanhos e formas, com sonoros apitos, chegam e partem do flutuante Porto de Manaus, levando – sinto receio em pôr isso no papel, com risco de cometer sacrilégio – o que, pela distância, me parecem sonhos, sonhos meus, talvez dos tripulantes, talvez dos passageiros. Então, quase que peço licença para adentrar esse terreno sagrado que me desperta tantas emoções contraditórias.
Enquanto me sirvo de uma fatia de abacaxi, aperto uma pacovã (banana da terra), para me certificar se ela já está no ponto de fritar. Preparo meu café e a tapioca de goma do norte e me dirijo à varanda para apreciar o estonteante espetáculo que tenho à minha frente. Posso também substituir a goma pela farinha d’água, que hidrato previamente para preservar os meus dentes (amarela, baguda e dura, ela é mesmo conhecida como quebra-dentes; hidratada, ela quadruplica de volume), ou pelo açaí com farinha de tapioca na forma de pequenos flocos, batata doce, macaxeira, pupunha…
Em visita ou trabalhando em Belém do Pará, o gracejo era marcar encontro depois da chuva do final da tarde. Também costumávamos dizer que chovia todo dia, quando não chovia o dia todo (floresta tropical, em inglês, é chamada de rainforest). Andando pelas ruas desta Ma-ná-os empobrecida e abandonada, em várias ocasiões o céu já desabou sobre a minha cabeça. Da varanda, mesmo quando o céu está aberto, às vezes vejo uma nuvem, escura e comprida, que acompanha o Rio Negro, fazendo sombra e tornando o rio tenebroso, mais negro do que já é (nestes casos, nas margens, o céu permanece claro, brilhante).
No Porto do Ceasa, a pouca distância rio abaixo, começa a polêmica Rodovia BR-319 – começa com a travessia para o Município de Careiro da Várzea, por balsa. E na balsa estão o ônibus, o motorista e os passageiros que acabaram de embarcar na Rodoviária de Manaus com destino a Porto Velho, capital de Rondônia (900 km, 11 horas de automóvel e 24 horas de ônibus). Ou seja, mesmo só parcialmente asfaltada, com trechos críticos de chão batido, intransitáveis na chuva, travessias por balsas e poucos postos de gasolina, a BR-319 continua cortando uma das últimas grandes áreas de floresta intacta da Amazônia. A polêmica atinge os outdoors da cidade.
No conforto do meu apartamento em frente ao Parque Augusta, na região central da pauliceia desvairada, havia escrito, em Um país em busca de sua identidade, que entre todos os crimes contra os povos da floresta, desequilíbrios ecológicos e desastres ambientais em curso – invasão de reservas indígenas e extrativistas, desmatamento, garimpo, mineração, poluição do solo e das águas –, a recuperação e pavimentação da Rodovia BR-319 da Ditadura Militar, entre Manaus e Porto Velho, só não foi ainda implementada por falta de recursos. Durante a pandemia do coronavírus, o governador do Estado do Amazonas se lamentou pela impossibilidade de vacinar os moradores da região da BR-319, como se a rodovia, caso recuperada, não fosse, por excelência, a porta principal de entrada do vírus e como se a exposição de seus habitantes aos ávidos forasteiros não fosse mais danosa do que o próprio vírus. “Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávidos: minério, fogo, serragem, fim.” (O fim que se aproxima, do poeta manauara Milton Hatoum)
Me recuso a fazer passeios turísticos, falsos como uma nota de três. No início dos anos 1970, percorri o trecho Manaus a Belém a bordo do navio da ENASA, que na época era a única companhia que fazia esse percurso regularmente. Em toda a Amazônia, o transporte continua sendo essencialmente fluvial. Inúmeras embarcações transportam passageiros e cargas em todas as direções e para todos os confins. Belém, no Amazonas, é acessível em aproximadamente 4 dias; São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, em 3 dias; Porto Velho, no Madeira, em 4 dias; e Tabatinga, no Solimões, na fronteira com a Colômbia e o Peru, em 6 dias de viagem (lanchas rápidas conseguem reduzir para quase um terço o tempo de viagem).
Atravessei de balsa os rios Negro e Solimões de Manaus a Careiro da Várzea. Fui de lancha de linha até Manacapuru, no Solimões, a 100 km de Manaus. O porto flutuante da cidade abriga, interligados por tábuas, o cais, casas comerciais e restaurantes, que sobem e descem, acompanhando o nível da água do rio. Catalão, uma comunidade no Município de Iranduba, em frente a Manaus, agrega mais de 100 casas flutuantes, que se adaptam às cheias e às vazantes. A comunidade flutuante de Manaus, com mais de 2 mil casas e 12 mil moradores, foi desativada em meados dos anos 1960.
Manacapuru, com 100 mil habitantes, é também acessível por terra e é um porto de partida para vários povoados, Solimões acima. Entrei em um pequeno barco rústico, repleto de redes de dormir armadas por ribeirinhos, e tive vontade de seguir viagem… um sonho – mas não embarquei. Não quero fazer folclore. Digamos que a floresta não é o meu habitat natural e que meus olhos não brilham ao me servir de um tucumã. Admiro a cultura dos povos da Amazônia, mas conheço os limites da minha cultura forasteira. Escritores russos narraram os desastres perpetrados por românticos “civilizados” que tentaram viver entre “selvagens” ciganos (Pushkin) e cossacos (Tolstoy). No final de Os ciganos, o velho expulsa o russo que matou a sua filha por ciúmes – “Deixe-nos em paz, homem orgulhoso! Somos selvagens, não temos leis… Mas não queremos viver com um assassino… Você não nasceu para a vida selvagem.”
Para conhecer a cultura dos povoados, achei por bem me dirigir ao Centro Cultural Povos da Amazônia em Manaus, que reúne fotos, vídeos e coleções riquíssimas de arte e artefatos. Também assisti ao histórico documentário mudo, lançado em 1922, No paiz das Amazonas de Silvino Santos. Falei com alguns indígenas idosos que me contaram que preferiam ficar sob os “cuidados” da descompromissada FUNAI do que sob a tutela dos dedicados padres e freiras das missões religiosas, empenhados em civilizar o índio, salvar sua alma, enquanto o despersonalizava, destruindo língua, tradições, cultura, história, ou seja, sua identidade e sua humanidade. Estive com missionários salesianos, que se defendiam dizendo que protegiam os índios para que não fossem escravizados ou meramente exterminados pelos brancos que cobiçam suas terras. Bem, parece que sempre pode ser pior; mas, também, sempre pode ser melhor.
Manaus, com 11 km2, ocupa menos de 1% da área total do Estado do Amazonas, mas seus 2,3 milhões de habitantes representam mais da metade da população. Itacoatiara, Manacapuru – ambos da Região Metropolitana de Manaus – e Parintins têm 100 mil habitantes; nenhum outro município do Estado atinge este número. A densidade de Manaus é de 202 habitantes por km2.
No extremo oposto, o Município de São Gabriel da Cachoeira, com 109.181 km2 (a título de comparação, Portugal ocupa uma área de 92.230 km2), agrega 52 mil habitantes, uma densidade de 0,5 habitante por km2. Hoje, o prefeito, 12 dos 13 vereadores e nove a cada dez habitantes de São Gabriel são indígenas – de mais de 20 diferentes etnias: Arapaço, Baniwa, Barasana, Baré, Desana, Hupda, Karapanã, Kubeo, Kuripako, Makuna, Miriti-tapuya, Nadob, Pira-tapuya, Siriano, Tariano, Tukano, Tuyuka, Yanomami, Wanana, Werekena…
Barcelos, no Médio Rio Negro, ocupa 122.452 km2 e Altamira, no Xingu, 159.533 km2 – com densidades de 0,2 e 0,8 hab/km2, respectivamente. A densidade no Município de São Paulo é de 7.528 hab/km2. Os forasteiros diriam: “Muita terra para pouco índio; eles são os habitantes mais ricos do planeta!” São mesmo, mas o conceito de riqueza desses guardiões da floresta não é o mesmo que o utilizado pelos selvagens europeus que, sem visto de entrada, invadiram o continente, exterminaram e subjugaram as populações nativas da região – e a festa continua.
Desde 1992, a Universidade Federal do Amazonas – UFAM promove cursos universitários presenciais em São Gabriel da Cachoeira. Em 2022, o reitor da universidade se aventurou pelas matas e rios, percorreu longas distâncias em pequenas embarcações, atravessando corredeiras e se protegendo de galhos ao furar os igarapés, para alcançar longínquos povoados e participar das cerimônias de titulação dos indígenas. Em 2023 foi criada a primeira turma de mestrado e em 2026 a primeira turma de doutorado em São Gabriel, onde um novo campus da UFAM está sendo construído.
O Governo Federal está empenhado em criar a Universidade Federal Indígena – UNIND, com sede em Brasília e início das atividades em 2027. Mas Ailton Krenak, cético em relação ao modelo ocidental de educação e universidade, é crítico a essa iniciativa, que visa inserir os indígenas no mundo dos brancos. Krenak defende o princípio de autodeterminação, que reserva aos povos nativos da floresta o direito de assumir o seu próprio destino ancestral e não ficar sujeito ao “progresso” e à modernidade distópica.
Embora a Constituição de 1988 reconheça os indígenas como cidadãos plenos, a ideologia do ultrapassado Estatuto do Índio permanece impregnada no imaginário popular – indivíduos relativamente incapazes, sujeitos à tutela do Estado encarregado de promover a sua assimilação e integração à sociedade nacional. A Constituição reserva aos povos indígenas o direito de se manterem isolados e preservarem o seu modo de vida tradicional. Além disso, o Estado assumiu o dever de protegê-los, evitando contatos forçados e garantindo a sua integridade física, cultural e territorial – coisa que está longe de cumprir.
Eu acharia por bem criar uma nação indígena soberana na Sagrada Amazônia, que possa se relacionar com as demais nações do mundo, preservando a sua cultura, cosmovisão, relação com a natureza e integridade dos povos nativos, juntando partes do Equador, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, com capital em São Gabriel da Cachoeira, que já é oficialmente multilíngue.
Na contramão, enquanto traço essas linhas no início de janeiro de 2026, acompanho apreensivo as manchetes dos diários de notícias de todo o mundo sobre os desdobramentos da investida de Trump na Venezuela, não muito longe da minha varanda em frente ao Rio Negro.
Samuel Kilsztajn
Da varanda do meu apartamento, vejo também as inúmeras embarcações ancoradas e, igualmente, uma profusão de barcos, lanchas e canoas que, de diversos tamanhos e formas, com sonoros apitos, chegam e partem do flutuante Porto de Manaus, levando – sinto receio em pôr isso no papel, com risco de cometer sacrilégio – o que, pela distância, me parecem sonhos, sonhos meus, talvez dos tripulantes, talvez dos passageiros. Então, quase que peço licença para adentrar esse terreno sagrado que me desperta tantas emoções contraditórias.
Enquanto me sirvo de uma fatia de abacaxi, aperto uma pacovã (banana da terra), para me certificar se ela já está no ponto de fritar. Preparo meu café e a tapioca de goma do norte e me dirijo à varanda para apreciar o estonteante espetáculo que tenho à minha frente. Posso também substituir a goma pela farinha d’água, que hidrato previamente para preservar os meus dentes (amarela, baguda e dura, ela é mesmo conhecida como quebra-dentes; hidratada, ela quadruplica de volume), ou pelo açaí com farinha de tapioca na forma de pequenos flocos, batata doce, macaxeira, pupunha…
Em visita ou trabalhando em Belém do Pará, o gracejo era marcar encontro depois da chuva do final da tarde. Também costumávamos dizer que chovia todo dia, quando não chovia o dia todo (floresta tropical, em inglês, é chamada de rainforest). Andando pelas ruas desta Ma-ná-os empobrecida e abandonada, em várias ocasiões o céu já desabou sobre a minha cabeça. Da varanda, mesmo quando o céu está aberto, às vezes vejo uma nuvem, escura e comprida, que acompanha o Rio Negro, fazendo sombra e tornando o rio tenebroso, mais negro do que já é (nestes casos, nas margens, o céu permanece claro, brilhante).
No Porto do Ceasa, a pouca distância rio abaixo, começa a polêmica Rodovia BR-319 – começa com a travessia para o Município de Careiro da Várzea, por balsa. E na balsa estão o ônibus, o motorista e os passageiros que acabaram de embarcar na Rodoviária de Manaus com destino a Porto Velho, capital de Rondônia (900 km, 11 horas de automóvel e 24 horas de ônibus). Ou seja, mesmo só parcialmente asfaltada, com trechos críticos de chão batido, intransitáveis na chuva, travessias por balsas e poucos postos de gasolina, a BR-319 continua cortando uma das últimas grandes áreas de floresta intacta da Amazônia. A polêmica atinge os outdoors da cidade.
No conforto do meu apartamento em frente ao Parque Augusta, na região central da pauliceia desvairada, havia escrito, em Um país em busca de sua identidade, que entre todos os crimes contra os povos da floresta, desequilíbrios ecológicos e desastres ambientais em curso – invasão de reservas indígenas e extrativistas, desmatamento, garimpo, mineração, poluição do solo e das águas –, a recuperação e pavimentação da Rodovia BR-319 da Ditadura Militar, entre Manaus e Porto Velho, só não foi ainda implementada por falta de recursos. Durante a pandemia do coronavírus, o governador do Estado do Amazonas se lamentou pela impossibilidade de vacinar os moradores da região da BR-319, como se a rodovia, caso recuperada, não fosse, por excelência, a porta principal de entrada do vírus e como se a exposição de seus habitantes aos ávidos forasteiros não fosse mais danosa do que o próprio vírus. “Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávidos: minério, fogo, serragem, fim.” (O fim que se aproxima, do poeta manauara Milton Hatoum)
Me recuso a fazer passeios turísticos, falsos como uma nota de três. No início dos anos 1970, percorri o trecho Manaus a Belém a bordo do navio da ENASA, que na época era a única companhia que fazia esse percurso regularmente. Em toda a Amazônia, o transporte continua sendo essencialmente fluvial. Inúmeras embarcações transportam passageiros e cargas em todas as direções e para todos os confins. Belém, no Amazonas, é acessível em aproximadamente 4 dias; São Gabriel da Cachoeira, no Alto Rio Negro, em 3 dias; Porto Velho, no Madeira, em 4 dias; e Tabatinga, no Solimões, na fronteira com a Colômbia e o Peru, em 6 dias de viagem (lanchas rápidas conseguem reduzir para quase um terço o tempo de viagem).
Atravessei de balsa os rios Negro e Solimões de Manaus a Careiro da Várzea. Fui de lancha de linha até Manacapuru, no Solimões, a 100 km de Manaus. O porto flutuante da cidade abriga, interligados por tábuas, o cais, casas comerciais e restaurantes, que sobem e descem, acompanhando o nível da água do rio. Catalão, uma comunidade no Município de Iranduba, em frente a Manaus, agrega mais de 100 casas flutuantes, que se adaptam às cheias e às vazantes. A comunidade flutuante de Manaus, com mais de 2 mil casas e 12 mil moradores, foi desativada em meados dos anos 1960.
Manacapuru, com 100 mil habitantes, é também acessível por terra e é um porto de partida para vários povoados, Solimões acima. Entrei em um pequeno barco rústico, repleto de redes de dormir armadas por ribeirinhos, e tive vontade de seguir viagem… um sonho – mas não embarquei. Não quero fazer folclore. Digamos que a floresta não é o meu habitat natural e que meus olhos não brilham ao me servir de um tucumã. Admiro a cultura dos povos da Amazônia, mas conheço os limites da minha cultura forasteira. Escritores russos narraram os desastres perpetrados por românticos “civilizados” que tentaram viver entre “selvagens” ciganos (Pushkin) e cossacos (Tolstoy). No final de Os ciganos, o velho expulsa o russo que matou a sua filha por ciúmes – “Deixe-nos em paz, homem orgulhoso! Somos selvagens, não temos leis… Mas não queremos viver com um assassino… Você não nasceu para a vida selvagem.”
Para conhecer a cultura dos povoados, achei por bem me dirigir ao Centro Cultural Povos da Amazônia em Manaus, que reúne fotos, vídeos e coleções riquíssimas de arte e artefatos. Também assisti ao histórico documentário mudo, lançado em 1922, No paiz das Amazonas de Silvino Santos. Falei com alguns indígenas idosos que me contaram que preferiam ficar sob os “cuidados” da descompromissada FUNAI do que sob a tutela dos dedicados padres e freiras das missões religiosas, empenhados em civilizar o índio, salvar sua alma, enquanto o despersonalizava, destruindo língua, tradições, cultura, história, ou seja, sua identidade e sua humanidade. Estive com missionários salesianos, que se defendiam dizendo que protegiam os índios para que não fossem escravizados ou meramente exterminados pelos brancos que cobiçam suas terras. Bem, parece que sempre pode ser pior; mas, também, sempre pode ser melhor.
Manaus, com 11 km2, ocupa menos de 1% da área total do Estado do Amazonas, mas seus 2,3 milhões de habitantes representam mais da metade da população. Itacoatiara, Manacapuru – ambos da Região Metropolitana de Manaus – e Parintins têm 100 mil habitantes; nenhum outro município do Estado atinge este número. A densidade de Manaus é de 202 habitantes por km2.
No extremo oposto, o Município de São Gabriel da Cachoeira, com 109.181 km2 (a título de comparação, Portugal ocupa uma área de 92.230 km2), agrega 52 mil habitantes, uma densidade de 0,5 habitante por km2. Hoje, o prefeito, 12 dos 13 vereadores e nove a cada dez habitantes de São Gabriel são indígenas – de mais de 20 diferentes etnias: Arapaço, Baniwa, Barasana, Baré, Desana, Hupda, Karapanã, Kubeo, Kuripako, Makuna, Miriti-tapuya, Nadob, Pira-tapuya, Siriano, Tariano, Tukano, Tuyuka, Yanomami, Wanana, Werekena…
Barcelos, no Médio Rio Negro, ocupa 122.452 km2 e Altamira, no Xingu, 159.533 km2 – com densidades de 0,2 e 0,8 hab/km2, respectivamente. A densidade no Município de São Paulo é de 7.528 hab/km2. Os forasteiros diriam: “Muita terra para pouco índio; eles são os habitantes mais ricos do planeta!” São mesmo, mas o conceito de riqueza desses guardiões da floresta não é o mesmo que o utilizado pelos selvagens europeus que, sem visto de entrada, invadiram o continente, exterminaram e subjugaram as populações nativas da região – e a festa continua.
Desde 1992, a Universidade Federal do Amazonas – UFAM promove cursos universitários presenciais em São Gabriel da Cachoeira. Em 2022, o reitor da universidade se aventurou pelas matas e rios, percorreu longas distâncias em pequenas embarcações, atravessando corredeiras e se protegendo de galhos ao furar os igarapés, para alcançar longínquos povoados e participar das cerimônias de titulação dos indígenas. Em 2023 foi criada a primeira turma de mestrado e em 2026 a primeira turma de doutorado em São Gabriel, onde um novo campus da UFAM está sendo construído.
O Governo Federal está empenhado em criar a Universidade Federal Indígena – UNIND, com sede em Brasília e início das atividades em 2027. Mas Ailton Krenak, cético em relação ao modelo ocidental de educação e universidade, é crítico a essa iniciativa, que visa inserir os indígenas no mundo dos brancos. Krenak defende o princípio de autodeterminação, que reserva aos povos nativos da floresta o direito de assumir o seu próprio destino ancestral e não ficar sujeito ao “progresso” e à modernidade distópica.
Embora a Constituição de 1988 reconheça os indígenas como cidadãos plenos, a ideologia do ultrapassado Estatuto do Índio permanece impregnada no imaginário popular – indivíduos relativamente incapazes, sujeitos à tutela do Estado encarregado de promover a sua assimilação e integração à sociedade nacional. A Constituição reserva aos povos indígenas o direito de se manterem isolados e preservarem o seu modo de vida tradicional. Além disso, o Estado assumiu o dever de protegê-los, evitando contatos forçados e garantindo a sua integridade física, cultural e territorial – coisa que está longe de cumprir.
Eu acharia por bem criar uma nação indígena soberana na Sagrada Amazônia, que possa se relacionar com as demais nações do mundo, preservando a sua cultura, cosmovisão, relação com a natureza e integridade dos povos nativos, juntando partes do Equador, Colômbia, Venezuela, Peru, Bolívia, Brasil, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, com capital em São Gabriel da Cachoeira, que já é oficialmente multilíngue.
Na contramão, enquanto traço essas linhas no início de janeiro de 2026, acompanho apreensivo as manchetes dos diários de notícias de todo o mundo sobre os desdobramentos da investida de Trump na Venezuela, não muito longe da minha varanda em frente ao Rio Negro.
Samuel Kilsztajn
Assinar:
Comentários (Atom)