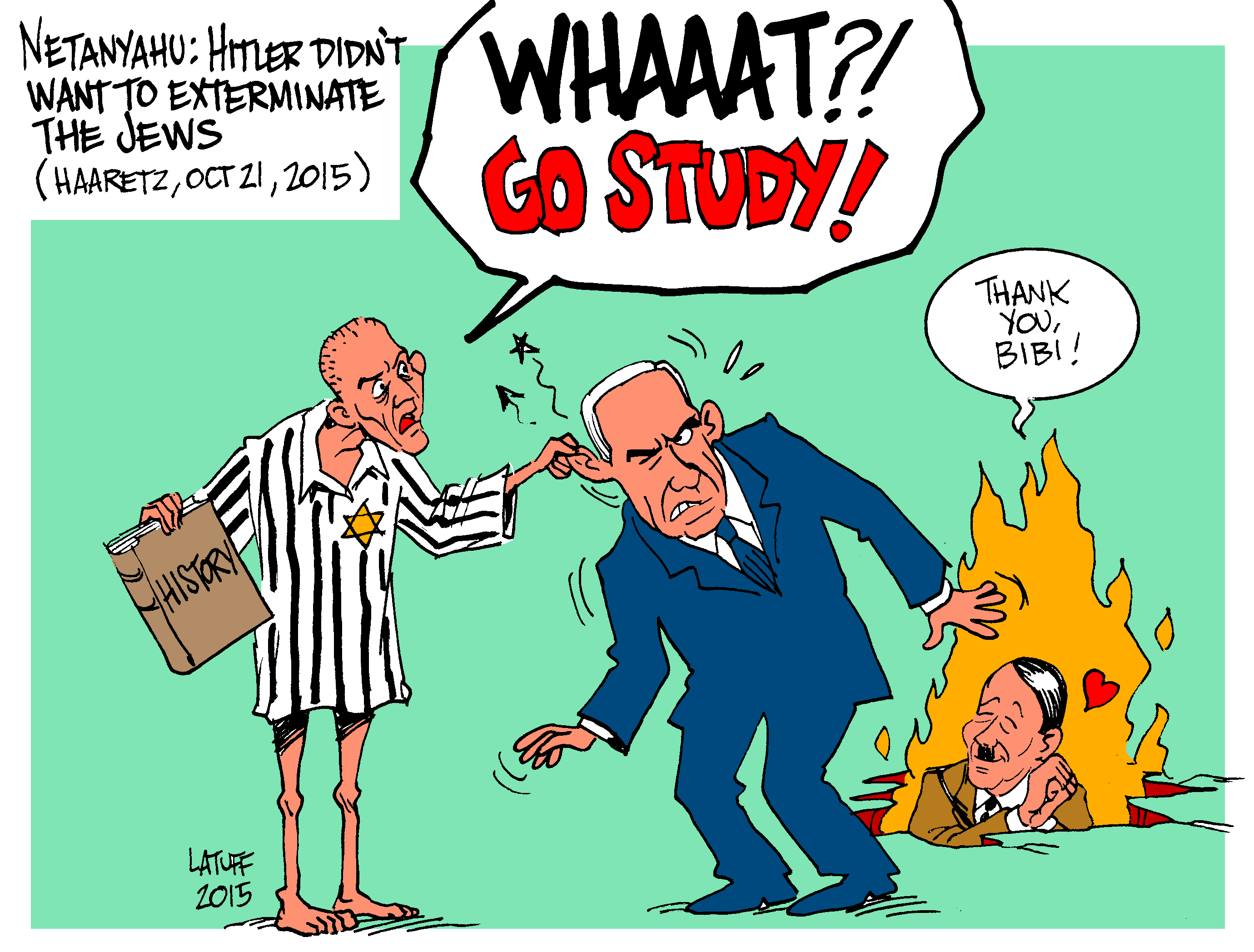sábado, 24 de fevereiro de 2024
'Orgulho' de sangue
 |
| Cemitério de Gaza em ruínas pelos tanques israelenses |
Estou pessoalmente orgulhosa das ruínas em Gaza. Que daqui a 80 anos todos os bebês possam contar aos seus netos o que os judeus fizeram quando assassinaram suas famílias, os estupraram e sequestraram seus cidadãos!
May Golan, ministra da Igualdade Social de Israel
Vidas interrompidas
Roberto Bolaño publicou um estranho livro (A literatura nazista na América, Companhia das Letras), que não é “sobre” literatura (é “pura” literatura), não versa sobre nazismo (é bem mais complexo que isso), não trata somente de tipos literários – naquele sentido do típico de György Lukács – mas de situações análogas ao conservadorismo e ao nazifascismo, com escritores imaginários e títulos inventados. O livro é, de certa forma, uma metáfora dos nossos tempos de fascismo, manipulação ideológica e de cansaço da democracia liberal, provocado pelo domínio das redes com os monstros que ressurgem no fim das utopias.
Eis alguns de Roberto Bolaño: Luz Mendiluce, que “afundada no desespero tem aventuras com personagens portenhos da pior espécie”, publica um corajoso poema “Com Hitler fui Feliz”; o escritor brasileiro (inventado) Amado Couto, que escrevia contos “que nenhuma editora aceitava, depois foi trabalhar nos esquadrões da morte”; a incrível poetisa Daniela Montecristo, que descreve um IV Reich feminino com sede em Buenos Aires e campos de treinamento na Patagônia, que desfilam inverossímeis, mas críveis, quando desperta na nossa memória.
Quando a realidade é dura demais os sonhos fenecem, as utopias cansam. As paisagens se tornam só molduras de recuperação da história que não se revela. A realidade – dura demais – é um tormento que ora se torna uma reportagem insensata do espírito, ora uma obra de arte pendente de uma cumplicidade do leitor com o autor. Estes às vezes não se conectam, pois compõem um elo idêntico ao que viceja entre um comprador atônito pelos preços e um vendedor desesperado por uma saída na sua vida sem rumo.
Certa vez um amigo aleatório me disse que o fascismo, no plano da pura subjetividade, era o tormento que conjugava bilhões de irritações que paulatinamente corroíam o espírito humano e instalavam uma espécie de antivírus, que imunizava as pessoas, tanto para receberem, como para darem solidariedade e empatia. Javier Milei e Benjamin Netanyahu, propagadores desse antivírus, são neoliberais, populistas e violentos, dotados de um ódio extremo ao humanismo das Luzes.
Basta lembrar – por exemplo – que Javier Milei é contra a educação pública gratuita e que não se importa de, não só semear a pobreza e a ignorância, mas também de matar as pessoas de fome, para salvar o “mercado” e o “ajuste”. Basta lembrar também que Benjamin Netanyahu afirmou, com todas as letras, que “Hitler não pretendia matar os judeus” e também se comprometeu de fazer (e faz) uma chacina em Gaza e que – compromisso cumprido – vai ser lembrada por muitas gerações.
Além disso, Benjamin Netanyahu usou, demagogicamente, o Museu do Holocausto para tentar exercer o monopólio da dor de todo um povo, num gesto especial de provocação extremista, visando encobrir – na atenção da imprensa mundial – os crimes de guerra que vem cometendo contra a comunidade Palestina em Gaza. E mais: o fez querendo dizer que Lula não se importava com a barbárie do Holocausto. Mentiroso, fascista e manipulador.
Alega a chancelaria israelense que as expressões usadas por Lula para se referir ao Holocausto ofenderam a sensibilidade judaica no mundo inteiro, o que pode ser verdade, mas como as palavras podem ser interpretadas por dentro das dores adquiridas na história de quem disse – como Benjamin Netanyhau – que Hitler “não queria matar os judeus”, deveria, ser mais comedido para respeitar o luto coletivo de Gaza e as dores do seu próprio povo.
Os assassinatos da ação terrorista de 7 de outubro contra Israel seriam – para a direita israelense – a motivação dos assassinatos em massa na Faixa de Gaza, mas o que pretende a violência desmedida do Estado de Israel é a legitimação da expansão colonial-imperial, que se sucedeu – processualmente – após os Acordos de Oslo “sob os olhos do ocidente.”
A tese de Enzo Traverso em “Las nuevas caras de la derecha” (Clave Intelectual, Siglo Veinteuno, p. 33) sustenta que classificar alguém como “populista” diz mais a respeito a quem utiliza o conceito do que aquele que é imputado como tal. É que a palavra se tornou uma “casca vazia”, mais propriamente uma gigantesca “máscara” de manipulação política e de exercício de dominação mental.
A categoria política populismo, diz Enzo Traverso, passou a ser uma arma de combate político que é apontada para estigmatizar aversários. Dizer que alguém é populista é o mesmo que dizer que esta pessoa não pode desvendar o conceito que está por trás do massacre social do neoliberalismo. Já foram classificados como populistas, Nicolas Sarkozy, Lula, Bernie Sanders, Hugo Chavez, os Kirchner, Donald Trump, Matteo Salvini, Melanchón, Evo Morales e Jair Bolsonaro, o que no fundo – prossegue Enzo Traverso – indica que, mais além da “elasticidade e ambiguidade”, o conceito que é usado sem nenhum critério deve ser atentado – em especial – para o sentido do seu uso.
Já é muito evidente que quem usa a “ofensa” contida na palavra “populismo” pretende, preliminarmente, dizer o seguinte, independentemente de quem for o adverso: estou longe da social-democracia, acho o Estado Social uma besteira e o humanismo democrático – que pode verter, ou não, por dentro de uma política populista – não pode ser respeitado como “política pública”. O anátema do populismo funciona então como um esconderijo de quem não quer ou não sabe que ele já se tornou uma barreira oportunista da ignorância.
Observemos como os comentaristas neoliberais da grande imprensa fazem este jogo, que requer, ao mesmo, tempo aproximação e distanciamento de figuras de centro como o Lula, e toleram – muitos deles – também Jair Bolsonaro como um ex-chefe de Estado que errou, mas quis o bem do país. Observem que eles não aceitam chamar Benjamin Netanyahu de criminoso de guerra ou de “assassino em série”, ou de populista sanguinário operando na política internacional do globalismo militarizado.
Mas existe uma máscara elementar da razão para o mercado, que está na base deste comportamento atrabiliário dos que usam o populismo por dentro do rastro do ódio do fascismo militante. Aldous Huxley afirmava que “a máscara é a essência” como “casca vazia” como desinformação ou como atestado de preguiça mental que dispensa fundamentação: quem usa a palavra populismo contra outrem – pensam os seus usuários – apenas defende a modernidade e a “liberdade” e quem sofre “acusação”, está excluído de ser ouvido sobre o futuro.
Uso a palavra populismo, neste texto, para emitir juízos sobre quem – para atacar adversários ou inimigos – manipula palavras, recursos e situações históricas, para conquistar de forma irracional as mentes do seu povo, visando exercer o poder pela guerra em nome da falsificação da nação.
O uso das palavras ou a sua supressão, num debate de grande envergadura moral e política, como na recente polêmica sobre as palavras de Lula sobre os crimes de guerra que estão sendo cometidos pelo governo de Israel – em nome de seu Estado – não fez em nenhum momento que Benjamin Netanyahu fosse apontado como um perigoso assassino em série, nem como um chefe de Estado populista que preza a guerra, não a paz.
William Faulkner estava vivendo em Nova Orleans quando conheceu Sherwood Anderson (1876-1871), que foi trabalhador braçal – militar que entrou em guerra – funcionário de editoras e depois de agências de publicidade, que se tornou um dos grandes mestres do conto americano. Romancista e poeta, foi paradigma de toda uma geração de escritores que se projetaram na literatura americana do Século XX.
Nas ruas em longas caminhadas, o escritor “maduro” que era Sherwood Anderson, sem o saber conversava com quem seria uma figura exponencial da literatura mundial e que iria se tornar um escritor mais imponente do que Anderson: este escrevia duramente pela manhã para depois conversar, caminhar e beber, com o então obscuro William Faulkner. As caminhadas um dia cessaram, o que gerou um episódio magno do acaso e da ironia, já contado como paródia do nascimento de um romancista.
Um dia Sherwood passa pela residência de Faulkner – que se ausentara há alguns dias dos passeios conjuntos – para perguntar por que ele, William Faulkner, desaparecera, quando ouviu dele uma resposta inesperada: “Estou escrevendo um livro”. “Meu Deus!“ – disse Sherwood Anderson e foi embora. A Sra. Anderson alguns dias depois encontra Faulkner na rua e lhe dá um recado, sobre o dito livro (Soldier’s Pay) – em produção: “ele disse que se não tiver que ler o manuscrito dirá ao seu editor para aceitá-lo”. “Feito!”, disse o futuro Prêmio Nobel de Literatura, que assim se assumiu como escritor profissional. Vida e imaginação.
“A vida desprovida de imaginação não oferece histórias para contar” (…), sem ela os tempos difíceis não encontram as palavras capazes de despertá-los do passado sonolento”, escreve Maria Rita Kehl, apresentando um belo livro de contos e memórias de Flávio Aguiar (Crônicas do mundo ao revés, Boitempo). Num dos melhores momentos da obra o personagem, como se fosse o autor conversa com um vendedor em Abidjan, na Costa do Marfim, que quer lhe vender algo. Surpresa.
Não se trata, como parecia, de uma ampola de vidro e um caco de espelho, mas do que residia na intimidade destes objetos: uma história de amor e de destino, que acompanhava o “caco” e a “ampola” que se instalariam no canal da memória do escritor, prometendo um pequeno vínculo com a história.
Nestes fragmentos da história não estão os vírus do fascismo, nem o fim da imaginação. Não são fragmentos, como as falas de Benjamin Netanyahu, que geram os ódios às utopias e desatam as tormentas do mal. Estas não estão no livro de Roberto Bolaño ou nas conversas simples entre William Faulkner e Sherwood Anderson. Não estão no fim da história, mas no tecido do seu recomeço permanente, que vai mais além das armas e dos ritos assassinos do poder dos que – viciados em guerras e mentiras – querem normalizar as vidas interrompidas.
Como disse William Faulkner, quando recebeu o Prêmio Nobel em 10 de novembro de 1950: “Considero que o homem não só haverá de resistir, mas também de prevalecer. E é imortal não por ser o único entre os animais que está dotado de uma voz inextinguível, mas pelo fato de possuir uma alma, um espírito capaz de compaixão sacrifício e resistência”. Neste momento é onde está Lula contra a guerra de extermínio e pela compaixão de William Faulkner.
Eis alguns de Roberto Bolaño: Luz Mendiluce, que “afundada no desespero tem aventuras com personagens portenhos da pior espécie”, publica um corajoso poema “Com Hitler fui Feliz”; o escritor brasileiro (inventado) Amado Couto, que escrevia contos “que nenhuma editora aceitava, depois foi trabalhar nos esquadrões da morte”; a incrível poetisa Daniela Montecristo, que descreve um IV Reich feminino com sede em Buenos Aires e campos de treinamento na Patagônia, que desfilam inverossímeis, mas críveis, quando desperta na nossa memória.
Quando a realidade é dura demais os sonhos fenecem, as utopias cansam. As paisagens se tornam só molduras de recuperação da história que não se revela. A realidade – dura demais – é um tormento que ora se torna uma reportagem insensata do espírito, ora uma obra de arte pendente de uma cumplicidade do leitor com o autor. Estes às vezes não se conectam, pois compõem um elo idêntico ao que viceja entre um comprador atônito pelos preços e um vendedor desesperado por uma saída na sua vida sem rumo.
Certa vez um amigo aleatório me disse que o fascismo, no plano da pura subjetividade, era o tormento que conjugava bilhões de irritações que paulatinamente corroíam o espírito humano e instalavam uma espécie de antivírus, que imunizava as pessoas, tanto para receberem, como para darem solidariedade e empatia. Javier Milei e Benjamin Netanyahu, propagadores desse antivírus, são neoliberais, populistas e violentos, dotados de um ódio extremo ao humanismo das Luzes.
Basta lembrar – por exemplo – que Javier Milei é contra a educação pública gratuita e que não se importa de, não só semear a pobreza e a ignorância, mas também de matar as pessoas de fome, para salvar o “mercado” e o “ajuste”. Basta lembrar também que Benjamin Netanyahu afirmou, com todas as letras, que “Hitler não pretendia matar os judeus” e também se comprometeu de fazer (e faz) uma chacina em Gaza e que – compromisso cumprido – vai ser lembrada por muitas gerações.
Além disso, Benjamin Netanyahu usou, demagogicamente, o Museu do Holocausto para tentar exercer o monopólio da dor de todo um povo, num gesto especial de provocação extremista, visando encobrir – na atenção da imprensa mundial – os crimes de guerra que vem cometendo contra a comunidade Palestina em Gaza. E mais: o fez querendo dizer que Lula não se importava com a barbárie do Holocausto. Mentiroso, fascista e manipulador.
Alega a chancelaria israelense que as expressões usadas por Lula para se referir ao Holocausto ofenderam a sensibilidade judaica no mundo inteiro, o que pode ser verdade, mas como as palavras podem ser interpretadas por dentro das dores adquiridas na história de quem disse – como Benjamin Netanyhau – que Hitler “não queria matar os judeus”, deveria, ser mais comedido para respeitar o luto coletivo de Gaza e as dores do seu próprio povo.
Os assassinatos da ação terrorista de 7 de outubro contra Israel seriam – para a direita israelense – a motivação dos assassinatos em massa na Faixa de Gaza, mas o que pretende a violência desmedida do Estado de Israel é a legitimação da expansão colonial-imperial, que se sucedeu – processualmente – após os Acordos de Oslo “sob os olhos do ocidente.”
A tese de Enzo Traverso em “Las nuevas caras de la derecha” (Clave Intelectual, Siglo Veinteuno, p. 33) sustenta que classificar alguém como “populista” diz mais a respeito a quem utiliza o conceito do que aquele que é imputado como tal. É que a palavra se tornou uma “casca vazia”, mais propriamente uma gigantesca “máscara” de manipulação política e de exercício de dominação mental.
A categoria política populismo, diz Enzo Traverso, passou a ser uma arma de combate político que é apontada para estigmatizar aversários. Dizer que alguém é populista é o mesmo que dizer que esta pessoa não pode desvendar o conceito que está por trás do massacre social do neoliberalismo. Já foram classificados como populistas, Nicolas Sarkozy, Lula, Bernie Sanders, Hugo Chavez, os Kirchner, Donald Trump, Matteo Salvini, Melanchón, Evo Morales e Jair Bolsonaro, o que no fundo – prossegue Enzo Traverso – indica que, mais além da “elasticidade e ambiguidade”, o conceito que é usado sem nenhum critério deve ser atentado – em especial – para o sentido do seu uso.
Já é muito evidente que quem usa a “ofensa” contida na palavra “populismo” pretende, preliminarmente, dizer o seguinte, independentemente de quem for o adverso: estou longe da social-democracia, acho o Estado Social uma besteira e o humanismo democrático – que pode verter, ou não, por dentro de uma política populista – não pode ser respeitado como “política pública”. O anátema do populismo funciona então como um esconderijo de quem não quer ou não sabe que ele já se tornou uma barreira oportunista da ignorância.
Observemos como os comentaristas neoliberais da grande imprensa fazem este jogo, que requer, ao mesmo, tempo aproximação e distanciamento de figuras de centro como o Lula, e toleram – muitos deles – também Jair Bolsonaro como um ex-chefe de Estado que errou, mas quis o bem do país. Observem que eles não aceitam chamar Benjamin Netanyahu de criminoso de guerra ou de “assassino em série”, ou de populista sanguinário operando na política internacional do globalismo militarizado.
Mas existe uma máscara elementar da razão para o mercado, que está na base deste comportamento atrabiliário dos que usam o populismo por dentro do rastro do ódio do fascismo militante. Aldous Huxley afirmava que “a máscara é a essência” como “casca vazia” como desinformação ou como atestado de preguiça mental que dispensa fundamentação: quem usa a palavra populismo contra outrem – pensam os seus usuários – apenas defende a modernidade e a “liberdade” e quem sofre “acusação”, está excluído de ser ouvido sobre o futuro.
Uso a palavra populismo, neste texto, para emitir juízos sobre quem – para atacar adversários ou inimigos – manipula palavras, recursos e situações históricas, para conquistar de forma irracional as mentes do seu povo, visando exercer o poder pela guerra em nome da falsificação da nação.
O uso das palavras ou a sua supressão, num debate de grande envergadura moral e política, como na recente polêmica sobre as palavras de Lula sobre os crimes de guerra que estão sendo cometidos pelo governo de Israel – em nome de seu Estado – não fez em nenhum momento que Benjamin Netanyahu fosse apontado como um perigoso assassino em série, nem como um chefe de Estado populista que preza a guerra, não a paz.
William Faulkner estava vivendo em Nova Orleans quando conheceu Sherwood Anderson (1876-1871), que foi trabalhador braçal – militar que entrou em guerra – funcionário de editoras e depois de agências de publicidade, que se tornou um dos grandes mestres do conto americano. Romancista e poeta, foi paradigma de toda uma geração de escritores que se projetaram na literatura americana do Século XX.
Nas ruas em longas caminhadas, o escritor “maduro” que era Sherwood Anderson, sem o saber conversava com quem seria uma figura exponencial da literatura mundial e que iria se tornar um escritor mais imponente do que Anderson: este escrevia duramente pela manhã para depois conversar, caminhar e beber, com o então obscuro William Faulkner. As caminhadas um dia cessaram, o que gerou um episódio magno do acaso e da ironia, já contado como paródia do nascimento de um romancista.
Um dia Sherwood passa pela residência de Faulkner – que se ausentara há alguns dias dos passeios conjuntos – para perguntar por que ele, William Faulkner, desaparecera, quando ouviu dele uma resposta inesperada: “Estou escrevendo um livro”. “Meu Deus!“ – disse Sherwood Anderson e foi embora. A Sra. Anderson alguns dias depois encontra Faulkner na rua e lhe dá um recado, sobre o dito livro (Soldier’s Pay) – em produção: “ele disse que se não tiver que ler o manuscrito dirá ao seu editor para aceitá-lo”. “Feito!”, disse o futuro Prêmio Nobel de Literatura, que assim se assumiu como escritor profissional. Vida e imaginação.
“A vida desprovida de imaginação não oferece histórias para contar” (…), sem ela os tempos difíceis não encontram as palavras capazes de despertá-los do passado sonolento”, escreve Maria Rita Kehl, apresentando um belo livro de contos e memórias de Flávio Aguiar (Crônicas do mundo ao revés, Boitempo). Num dos melhores momentos da obra o personagem, como se fosse o autor conversa com um vendedor em Abidjan, na Costa do Marfim, que quer lhe vender algo. Surpresa.
Não se trata, como parecia, de uma ampola de vidro e um caco de espelho, mas do que residia na intimidade destes objetos: uma história de amor e de destino, que acompanhava o “caco” e a “ampola” que se instalariam no canal da memória do escritor, prometendo um pequeno vínculo com a história.
Nestes fragmentos da história não estão os vírus do fascismo, nem o fim da imaginação. Não são fragmentos, como as falas de Benjamin Netanyahu, que geram os ódios às utopias e desatam as tormentas do mal. Estas não estão no livro de Roberto Bolaño ou nas conversas simples entre William Faulkner e Sherwood Anderson. Não estão no fim da história, mas no tecido do seu recomeço permanente, que vai mais além das armas e dos ritos assassinos do poder dos que – viciados em guerras e mentiras – querem normalizar as vidas interrompidas.
Como disse William Faulkner, quando recebeu o Prêmio Nobel em 10 de novembro de 1950: “Considero que o homem não só haverá de resistir, mas também de prevalecer. E é imortal não por ser o único entre os animais que está dotado de uma voz inextinguível, mas pelo fato de possuir uma alma, um espírito capaz de compaixão sacrifício e resistência”. Neste momento é onde está Lula contra a guerra de extermínio e pela compaixão de William Faulkner.
Lula e Netanyahu
Matéria no Jornal “The Guardian” cita que, em 1982, depois de assistir cenas do bombardeio de Beirute, o presidente Ronald Reagan, dos Estados Unidos, ligou para o primeiro-ministro Menachem Begin, de Israel, e disse: “Isto é um Holocausto”. Duas horas depois, segundo o jornal, o bombardeio estava suspenso. Do ponto de vista histórico, Reagan, tanto quanto Lula, podem ter exagerado na dose, não na essência política.
Há quatro meses, o governo de Benjamin Netanyahu despreza estatísticas e imagens que mostram a mortalidade e a destruição em Gaza. Arrogantemente ignoraria fala do Lula repetindo a condenação ao Hamas e alertando para a tragedia humanitária dos constantes bombardeios, invasão e assassinatos de civis, crianças, mulheres.
Ao forçar a dose, por descuido linguístico ou por cálculo político, Lula conseguiu incomodar o governo Netanyahu, chamar a atenção para o fato de que a brutalidade militar pode ser comparada a gestos cometidos pelos nazistas. O presidente acertaria plenamente se comparasse o tratamento aos palestinos em Gaza com o tratamento dado nos guetos aos judeus pelos nazistas. Mas esta comparação não incomodaria ao governo de Israel. Foi ao criticar de forma tão enfática que Lula conseguiu abalar a arrogância e a prepotência desumana do senhor Netanyahu.
Há quatro meses, o governo de Benjamin Netanyahu despreza estatísticas e imagens que mostram a mortalidade e a destruição em Gaza. Arrogantemente ignoraria fala do Lula repetindo a condenação ao Hamas e alertando para a tragedia humanitária dos constantes bombardeios, invasão e assassinatos de civis, crianças, mulheres.
Ao forçar a dose, por descuido linguístico ou por cálculo político, Lula conseguiu incomodar o governo Netanyahu, chamar a atenção para o fato de que a brutalidade militar pode ser comparada a gestos cometidos pelos nazistas. O presidente acertaria plenamente se comparasse o tratamento aos palestinos em Gaza com o tratamento dado nos guetos aos judeus pelos nazistas. Mas esta comparação não incomodaria ao governo de Israel. Foi ao criticar de forma tão enfática que Lula conseguiu abalar a arrogância e a prepotência desumana do senhor Netanyahu.
Como político, Lula explicitou mais uma vez sua repulsa ao terrorismo do Hamas, e carimbou enfaticamente o que o atual governo de Israel está promovendo sobre a população de Gaza. Na essência, chamou atenção ao fato de que os métodos usados pelo governo Netanyahu para impor sofrimento imposto ao povo palestino tem semelhança com alguns usados pelos nazistas contra o povo judeu.
O que é feito em Gaza não deve ser comparado filosófica e historicamente com a totalidade do holocausto, mas pode ser comparado politicamente com operações do nazismo, tal como seus guetos contra judeus e o bombardeio contra todos os habitantes de Lídice, na Tchecoslováquia. Lula não negou o holocausto, não acusou o povo de Israel, apenas comparou os atos de Netanyahu, cujo governo foi salvo pelo Hamas, com atos do nazismo. Nisto ele não errou. Seria um erro responsabilizar Israel, ainda mais aos judeus, como também seria errado responsabilizar aos alemães pelos crimes de Hitler, ou aos brasileiros pelos crimes dos ditadores. Os crimes de Hitler foram de Hitler, os de Netanyahu são de Netanyahu. Por isto, tratar o Lula e todos que o apoiam neste momento como antissemita é uma manipulação.
A declaração do presidente Lula citando o holocausto deveria servir de alerta aos que justificam a morte de milhares de crianças, a fome, o desespero. Por pior que sejam os gestos israelenses em Gaza, nada deve nos fazer cair no antissemitismo, da mesma maneira que por pior que fossem os gestos terroristas palestinos em Israel, nada deve justificar o massacre do povo em Gaza, executado por um governo que não teria sobrevivido sem o brutal ato terrorista do Hamas, matando e sequestrando. Lula verbalizou isto ao denunciar o terrorismo do Hamas e o barbarismo não menor do governo de Israel usando e degradando a imagem moral e a credibilidade técnica das Forças Armadas de Israel, tão admiradas no passado.
A corajosa declaração de Lula deixa-o ao lado dos humanistas contra a desumanidade. Mais sintonizado com os grandes pensadores judeus, do que estão os fundamentalistas do atual governo de Israel.
No futuro, quando forem escritos livros e feitos documentários cinematográficos sobre esta guerra, a fala de Lula prevalecerá como a voz que não silenciou e incomodou Netanyahu, ao usar palavra forte para despertar aqueles que a arrogância cegou e ensurdeceu. Lula, fez o mesmo que Reagan 40 anos atrás, pena que o Brasil não tem a força dos Estados Unidos, nem o governo Netanyahu a solidez do governo Begin. Sua fala não tem a força para parar a guerra, mas dará uma contribuição para isto, ao ter abalado a arrogância fria e desumana do governo de Israel.
Lula ficará na história como quem estava do lado certo, Netanyahu como quem estava do lado errado por ter traído a história do pensamento humanista dos judeus e permitido que o mundo, não apenas o presidente Lula, compare seus gestos com gestos do maldito governo nazista.
Políticas para jovens são urgentes
Tem sido muito raro construir consensos no sistema político brasileiro atual. As relações entre o Executivo e o Legislativo se tornaram mais complicadas desde o segundo governo Dilma, os congressistas estão em constante embate com o STF e a sociedade está fortemente polarizada. Mesmo assim, em determinados temas o conflito dá lugar à cooperação. Esse é o caso da aprovação da poupança para alunos mais pobres do ensino médio público.
Intitulado Pé de Meia, é um programa fundamental para um grupo essencial para o presente e o futuro do país: a juventude. Trata-se de uma excelente notícia, mas ao mesmo tempo revela uma carência perigosa de ações à população mais jovem.
Não faltam prioridades num país tão complexo e desigual como o Brasil. Mas há temáticas que deveriam merecer mais atenção por conta de quatro fatores. O primeiro diz respeito ao número de pessoas de um determinado grupo que estão numa situação social complicada.
Além disso, deve-se levar em consideração o impacto sistêmico desse problema. Isto é, os vários males causados pela não resolução de determinada questão. Um terceiro ponto também é central: como este tema faz a ponte entre o presente e o futuro do país? Por fim, um aspecto prioritário é aquele que pode modificar a forma de se ver e conduzir a política, gerando um efeito bola de neve na agenda pública.
Segundo dados do IBGE, o número de jovens de 15 a 29 anos que nem estuda nem trabalha é de quase 11 milhões, totalizando cerca de 22% desse grupo populacional (mais de um quinto da população jovem). Num estudo recente da OCDE, o Brasil era o segundo país com mais jovens nem-nem entre 37 nações analisadas. A situação é muito ruim em ambos os gêneros, mas a maior parte dos nem-nem é composta por mulheres e, do ponto de vista social, pelo contingente mais pobre da população.
Esse retrato já é suficiente para apontar o tamanho do problema da juventude brasileira. É verdade que já foi pior, e a melhora teve a ver, nas últimas décadas, com a maior inclusão de jovens no sistema educacional. Mesmo assim, cerca de 35% dos jovens de 15 a 18 anos estão fora da escola, sendo o principal momento da evasão escolar brasileira.
Por que os jovens abandonam a escola? Por que essa faixa etária é aquela com as maiores taxas de desemprego e informalidade? Essas perguntas deveriam ser urgentemente enfrentadas, pois o efeito sistêmico desse problema é muito danoso à sociedade. Mais jovens fora da escola e do trabalho significa aumentar a mão de obra disponível à criminalidade - e o crescimento estrondoso do crime organizado nas últimas décadas tem muito a ver com as fragilidades da política para a população juvenil.
Bom que se diga que a juventude sofre aqui nas duas pontas do problema: ela é sujeito e também objeto da violência social, com grande número de homicídios de jovens, especialmente os mais pobres, periféricos e negros. Ouvir as músicas dos Racionais é entender como esse duplo processo perverso afetou a juventude da periferia paulistana, de onde vim.
Ter mais jovens sem perspectiva na sociedade afeta a produtividade presente e, principalmente, futura da economia brasileira. Uma boa parte desse grupo está em posições precárias, com destaque importante para a ocupação de postos na economia uberizada dos aplicativos de entrega e/ou transporte. Qual possibilidade de aprimoramento de habilidades e competências laborais mais amplas terá essa parcela da população? Qual será seu futuro, ou mesmo presente, em termos de proteção social?
Uma juventude com pouca experiência coletiva em escolas ou no trabalho tende, ainda, a ter um processo mais precário de formação de consciência cidadã. Soluções mágicas, quando não violentas, podem se tornar o mantra político dessa faixa etária. O populismo de extrema direita agradece.
Esse alijamento social facilita igualmente a criação de uma geração de homens com autoestima prejudicada, talvez mais tendente a mover-se pelo ressentimento em sua visão de mundo, ao passo que um contingente expressivo de mulheres seguirá mais o caminho perverso da mãe solo abandonada, grande chaga da sociedade brasileira, com poucas chances de mobilidade social. Eis aqui um combustível para famílias se tornarem mais instáveis e com forte potencial de se produzir violência doméstica, majoritariamente voltada contra o gênero feminino.
É grande a lista de efeitos sistêmicos derivados do fato de se ter uma ampla parcela da juventude desassistida por políticas públicas efetivas. O resultado disso não afeta apenas o presente do país. O Brasil sempre acreditou na máxima de que seríamos a nação do futuro.
Isso só é possível se crianças e jovens forem prioridade, algo que só começou a acontecer em grande escala na história brasileira a partir da Constituição de 1988 e da expansão subsequente do Estado de bem-estar social nos períodos FHC e Lula, com avanços inegáveis, mas que ainda são claramente insuficientes frente às nossas necessidades.
O maior exemplo disso é que se abriu nas últimas décadas uma janela demográfica que permitiria maior produção de riqueza. Parte dessa oportunidade foi concretizada, só que o país aproveitou, por ora, muitíssimo menos essa fortuna sociológica do que poderia. Em boa medida porque investiu pouco e de forma ineficiente na formação e qualidade de vida da população jovem.
Desse modo, aquilo que era um bônus pode se transformar naquilo que o economista Marcelo Neri tem chamado de “ônus demográfico”, um modo sutil de definir a quebra da ponte entre o presente e o futuro.
Produzir boas políticas públicas para a juventude, ademais, pode ser uma boa forma de se mudar a qualidade do debate político. É possível acompanhar as ações e resultados de programas voltados aos mais jovens, aferindo com certa rapidez o sucesso, fracasso, problemas e aprendizados nesse processo. Assim, a discussão deixa de ser orientada basicamente por argumentos ideológicos quase sempre referenciados a grupos insulados, aumentando as chances de ser uma contenda mais aberta a opiniões baseadas em evidências, com maior probabilidade inclusive de haver convencimentos e consensos entre setores diferentes da sociedade.
Além disso, discutir o presente e o futuro dos mais jovens por meio de diagnósticos e prognósticos claros é muito mais proveitoso para o país do que gastar um enorme tempo com querelas sobre valores pessoais, uma vez que o debate sobre estes últimos é quase nada efetivo na transformação da realidade social e econômica brasileira. Também vale ressaltar que o tema da juventude, pensado pelo ângulo das políticas públicas, tende a dividir menos os grupos políticos do que as grandes questões econômicas ou de cunho moral.
Colocar a juventude no centro do debate público é uma forma de envolvê-la e transformá-la. Na atual situação de carência e pouca perspectiva de melhora futura, o risco dela se alienar da participação ou de amarrar-se a posições populistas de extrema direita é muito factível e perigoso. Uma geração de jovens que vira prioridade e que se torna sujeito desse projeto transformador é uma receita importante para alterar a política presente e vindoura, gerando líderes que apontem a possibilidade de renovação do país.
A aprovação do programa Pé de Meia foi um jogo de soma positiva que envolveu múltiplos atores. Méritos devem ser divididos pelos presidentes da Câmara e do Senado, pelo ministro da Educação, pela deputada Tabata Amaral e pela ministra Simone Tebet (mães dessa ideia há algum tempo), pela racionalidade adotada pela oposição - majoritariamente bolsonarista - e pela liderança do presidente Lula, que abraçou o projeto.
Mas isso deveria ser só o começo de um processo que deve se orientar, primeiro, por uma perspectiva intersetorial e de longo prazo, dado que a melhoria das condições juvenis vai além da questão educacional, passando por temas como esporte, cultura, saúde, segurança pública e orientação para o trabalho - e aqui a educação profissional deveria ser uma prioridade máxima.
O segundo passo é adotar uma governança colaborativa das políticas para a juventude, congregando os entes federativos e atores sociais - como ONGs, igrejas, empresas etc. - porque nenhuma mudança de larga escala será realizada sem esforços amplos e conjuntos.
Terminando esse ciclo virtuoso, é necessário ter um modelo muito bem definido de implementação de políticas públicas, incluindo aí formas contínuas de avaliação e aprendizado, bem como a consulta regular dos jovens e suas famílias.
Em geral, os governos funcionam mais pela lógica setorial do que pela organização sistêmica de um problema. Uma forma efetiva de mudar a realidade - embora não seja a única e nem contrária às áreas de políticas públicas - é organizar a ação estatal por grupos sociais. Políticas para idosos, pessoas com deficiência e para mulheres, por exemplo, são essenciais e têm avançado, gradativamente, no Brasil. Porém, no campo da juventude os avanços foram muito menores em termos de organicidade e coordenação da enorme fragmentação de programas.
É urgente que tenhamos um plano integrado com uma definição de uma governança colaborativa e de longo prazo para os jovens brasileiros, antes que eles envelheçam mais pobres e vulneráveis ou morram pelo meio do caminho. Perder essa oportunidade agora é reduzir nossa estatura política e moral como construtores de um futuro melhor aos nossos filhos e netos.
Intitulado Pé de Meia, é um programa fundamental para um grupo essencial para o presente e o futuro do país: a juventude. Trata-se de uma excelente notícia, mas ao mesmo tempo revela uma carência perigosa de ações à população mais jovem.
Não faltam prioridades num país tão complexo e desigual como o Brasil. Mas há temáticas que deveriam merecer mais atenção por conta de quatro fatores. O primeiro diz respeito ao número de pessoas de um determinado grupo que estão numa situação social complicada.
Além disso, deve-se levar em consideração o impacto sistêmico desse problema. Isto é, os vários males causados pela não resolução de determinada questão. Um terceiro ponto também é central: como este tema faz a ponte entre o presente e o futuro do país? Por fim, um aspecto prioritário é aquele que pode modificar a forma de se ver e conduzir a política, gerando um efeito bola de neve na agenda pública.
Segundo dados do IBGE, o número de jovens de 15 a 29 anos que nem estuda nem trabalha é de quase 11 milhões, totalizando cerca de 22% desse grupo populacional (mais de um quinto da população jovem). Num estudo recente da OCDE, o Brasil era o segundo país com mais jovens nem-nem entre 37 nações analisadas. A situação é muito ruim em ambos os gêneros, mas a maior parte dos nem-nem é composta por mulheres e, do ponto de vista social, pelo contingente mais pobre da população.
Esse retrato já é suficiente para apontar o tamanho do problema da juventude brasileira. É verdade que já foi pior, e a melhora teve a ver, nas últimas décadas, com a maior inclusão de jovens no sistema educacional. Mesmo assim, cerca de 35% dos jovens de 15 a 18 anos estão fora da escola, sendo o principal momento da evasão escolar brasileira.
Por que os jovens abandonam a escola? Por que essa faixa etária é aquela com as maiores taxas de desemprego e informalidade? Essas perguntas deveriam ser urgentemente enfrentadas, pois o efeito sistêmico desse problema é muito danoso à sociedade. Mais jovens fora da escola e do trabalho significa aumentar a mão de obra disponível à criminalidade - e o crescimento estrondoso do crime organizado nas últimas décadas tem muito a ver com as fragilidades da política para a população juvenil.
Bom que se diga que a juventude sofre aqui nas duas pontas do problema: ela é sujeito e também objeto da violência social, com grande número de homicídios de jovens, especialmente os mais pobres, periféricos e negros. Ouvir as músicas dos Racionais é entender como esse duplo processo perverso afetou a juventude da periferia paulistana, de onde vim.
Ter mais jovens sem perspectiva na sociedade afeta a produtividade presente e, principalmente, futura da economia brasileira. Uma boa parte desse grupo está em posições precárias, com destaque importante para a ocupação de postos na economia uberizada dos aplicativos de entrega e/ou transporte. Qual possibilidade de aprimoramento de habilidades e competências laborais mais amplas terá essa parcela da população? Qual será seu futuro, ou mesmo presente, em termos de proteção social?
Uma juventude com pouca experiência coletiva em escolas ou no trabalho tende, ainda, a ter um processo mais precário de formação de consciência cidadã. Soluções mágicas, quando não violentas, podem se tornar o mantra político dessa faixa etária. O populismo de extrema direita agradece.
Esse alijamento social facilita igualmente a criação de uma geração de homens com autoestima prejudicada, talvez mais tendente a mover-se pelo ressentimento em sua visão de mundo, ao passo que um contingente expressivo de mulheres seguirá mais o caminho perverso da mãe solo abandonada, grande chaga da sociedade brasileira, com poucas chances de mobilidade social. Eis aqui um combustível para famílias se tornarem mais instáveis e com forte potencial de se produzir violência doméstica, majoritariamente voltada contra o gênero feminino.
É grande a lista de efeitos sistêmicos derivados do fato de se ter uma ampla parcela da juventude desassistida por políticas públicas efetivas. O resultado disso não afeta apenas o presente do país. O Brasil sempre acreditou na máxima de que seríamos a nação do futuro.
Isso só é possível se crianças e jovens forem prioridade, algo que só começou a acontecer em grande escala na história brasileira a partir da Constituição de 1988 e da expansão subsequente do Estado de bem-estar social nos períodos FHC e Lula, com avanços inegáveis, mas que ainda são claramente insuficientes frente às nossas necessidades.
O maior exemplo disso é que se abriu nas últimas décadas uma janela demográfica que permitiria maior produção de riqueza. Parte dessa oportunidade foi concretizada, só que o país aproveitou, por ora, muitíssimo menos essa fortuna sociológica do que poderia. Em boa medida porque investiu pouco e de forma ineficiente na formação e qualidade de vida da população jovem.
Desse modo, aquilo que era um bônus pode se transformar naquilo que o economista Marcelo Neri tem chamado de “ônus demográfico”, um modo sutil de definir a quebra da ponte entre o presente e o futuro.
Produzir boas políticas públicas para a juventude, ademais, pode ser uma boa forma de se mudar a qualidade do debate político. É possível acompanhar as ações e resultados de programas voltados aos mais jovens, aferindo com certa rapidez o sucesso, fracasso, problemas e aprendizados nesse processo. Assim, a discussão deixa de ser orientada basicamente por argumentos ideológicos quase sempre referenciados a grupos insulados, aumentando as chances de ser uma contenda mais aberta a opiniões baseadas em evidências, com maior probabilidade inclusive de haver convencimentos e consensos entre setores diferentes da sociedade.
Além disso, discutir o presente e o futuro dos mais jovens por meio de diagnósticos e prognósticos claros é muito mais proveitoso para o país do que gastar um enorme tempo com querelas sobre valores pessoais, uma vez que o debate sobre estes últimos é quase nada efetivo na transformação da realidade social e econômica brasileira. Também vale ressaltar que o tema da juventude, pensado pelo ângulo das políticas públicas, tende a dividir menos os grupos políticos do que as grandes questões econômicas ou de cunho moral.
Colocar a juventude no centro do debate público é uma forma de envolvê-la e transformá-la. Na atual situação de carência e pouca perspectiva de melhora futura, o risco dela se alienar da participação ou de amarrar-se a posições populistas de extrema direita é muito factível e perigoso. Uma geração de jovens que vira prioridade e que se torna sujeito desse projeto transformador é uma receita importante para alterar a política presente e vindoura, gerando líderes que apontem a possibilidade de renovação do país.
A aprovação do programa Pé de Meia foi um jogo de soma positiva que envolveu múltiplos atores. Méritos devem ser divididos pelos presidentes da Câmara e do Senado, pelo ministro da Educação, pela deputada Tabata Amaral e pela ministra Simone Tebet (mães dessa ideia há algum tempo), pela racionalidade adotada pela oposição - majoritariamente bolsonarista - e pela liderança do presidente Lula, que abraçou o projeto.
Mas isso deveria ser só o começo de um processo que deve se orientar, primeiro, por uma perspectiva intersetorial e de longo prazo, dado que a melhoria das condições juvenis vai além da questão educacional, passando por temas como esporte, cultura, saúde, segurança pública e orientação para o trabalho - e aqui a educação profissional deveria ser uma prioridade máxima.
O segundo passo é adotar uma governança colaborativa das políticas para a juventude, congregando os entes federativos e atores sociais - como ONGs, igrejas, empresas etc. - porque nenhuma mudança de larga escala será realizada sem esforços amplos e conjuntos.
Terminando esse ciclo virtuoso, é necessário ter um modelo muito bem definido de implementação de políticas públicas, incluindo aí formas contínuas de avaliação e aprendizado, bem como a consulta regular dos jovens e suas famílias.
Em geral, os governos funcionam mais pela lógica setorial do que pela organização sistêmica de um problema. Uma forma efetiva de mudar a realidade - embora não seja a única e nem contrária às áreas de políticas públicas - é organizar a ação estatal por grupos sociais. Políticas para idosos, pessoas com deficiência e para mulheres, por exemplo, são essenciais e têm avançado, gradativamente, no Brasil. Porém, no campo da juventude os avanços foram muito menores em termos de organicidade e coordenação da enorme fragmentação de programas.
É urgente que tenhamos um plano integrado com uma definição de uma governança colaborativa e de longo prazo para os jovens brasileiros, antes que eles envelheçam mais pobres e vulneráveis ou morram pelo meio do caminho. Perder essa oportunidade agora é reduzir nossa estatura política e moral como construtores de um futuro melhor aos nossos filhos e netos.
Assinar:
Comentários (Atom)