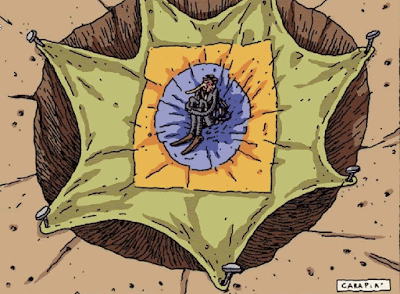segunda-feira, 10 de abril de 2023
Um nome para o inominável
Retornando ao país com o fardo escandaloso das muambas sauditas, o inominável vem ao encontro de um nome insólito, mas que lhe cai como uma luva: cambalacho. A história de fundo é musical. Pouco antes da Segunda Guerra, "Cambalache", um tango de Enrique Discépolo na voz de Carlos Gardel, proclamava (em lunfardo, claro, a pitoresca gíria portenha) "que o mundo foi e será uma porcaria, eu já sei".
Cambalacho é o mesmo que embuste, trapaça. Nesse tango, a modernidade liberal é cantada como história da credulidade dos incautos, um "mesmo lodo em que todos metem a mão". Daí "hoje em dia dá no mesmo ser direito que traidor / Ignorante, sábio, besta, pretensioso, afanador / Tudo é igual / Nada é melhor".
Esse faiscante deboche composto para divertir dá muito a pensar sobre fenômenos correntes como a crise da democracia liberal e seus reflexos nada divertidos em países como o Brasil. Para o sul-africano Achile Mbembe, em seu livro "Brutalisme", a grande ameaça está no fato de que "um número crescente de homens e de mulheres não querem mais pensar e julgar por si mesmos. Muitos preferem, como ontem, delegar essas faculdades a outras entidades, até mesmo a máquinas". Daí o paradoxo: quanto menor fica o mundo físico pela tecnologia, mais distante é o horizonte do mundo comum.
Nessa linha, o cerne da crise está na ausência do discurso vivo, isto é, compartilhado no diálogo, centrado no direito, na moralidade e nas ideias de autonomia. A falência da razão crítica abre caminho para o deboche. Junto com a fragmentação acelerada do corpo social, fenecem os poderes de autolimitação e diferenciação das palavras. Como no tango, "tudo é igual".
Paradoxalmente, a morte do vigor da fala é a força da vida digital ativa. O que se compartilha não é mais o substrato do diálogo, e sim a atenção dispensada por homens ou máquinas aos efeitos digitais. O falatório mistificador é tanto efeito de falsificação da língua quanto meio de se embair a boa-fé do interlocutor. É o cambalacho operativo.
Sem o lastro do sentido e das palavras, as ações decorrem de ímpetos sem razão, respeito ou limites. Mas entre fala delirante e atos destrutivos há um fio lógico: a delegação de pensar a Outro, um monstro de milhões de cabeças, que também não pensa: as redes sociais. Este, o espaço tecnológico para o embuste, capaz de eleger dirigentes, como no tango, "problemáticos e febris". É que "na vitrine desrespeitosa dos cambalachos / se misturou a vida", diz a profecia cantada. E assim o inominável, vazio de sentido e pleno de fraudes, se faz nome pelo beato útil do Evangelistão ou pelo freguês iludido. Em lunfardo ou em português, há uma mesma palavra para ambos: otário.
Cambalacho é o mesmo que embuste, trapaça. Nesse tango, a modernidade liberal é cantada como história da credulidade dos incautos, um "mesmo lodo em que todos metem a mão". Daí "hoje em dia dá no mesmo ser direito que traidor / Ignorante, sábio, besta, pretensioso, afanador / Tudo é igual / Nada é melhor".
Esse faiscante deboche composto para divertir dá muito a pensar sobre fenômenos correntes como a crise da democracia liberal e seus reflexos nada divertidos em países como o Brasil. Para o sul-africano Achile Mbembe, em seu livro "Brutalisme", a grande ameaça está no fato de que "um número crescente de homens e de mulheres não querem mais pensar e julgar por si mesmos. Muitos preferem, como ontem, delegar essas faculdades a outras entidades, até mesmo a máquinas". Daí o paradoxo: quanto menor fica o mundo físico pela tecnologia, mais distante é o horizonte do mundo comum.
Nessa linha, o cerne da crise está na ausência do discurso vivo, isto é, compartilhado no diálogo, centrado no direito, na moralidade e nas ideias de autonomia. A falência da razão crítica abre caminho para o deboche. Junto com a fragmentação acelerada do corpo social, fenecem os poderes de autolimitação e diferenciação das palavras. Como no tango, "tudo é igual".
Paradoxalmente, a morte do vigor da fala é a força da vida digital ativa. O que se compartilha não é mais o substrato do diálogo, e sim a atenção dispensada por homens ou máquinas aos efeitos digitais. O falatório mistificador é tanto efeito de falsificação da língua quanto meio de se embair a boa-fé do interlocutor. É o cambalacho operativo.
Sem o lastro do sentido e das palavras, as ações decorrem de ímpetos sem razão, respeito ou limites. Mas entre fala delirante e atos destrutivos há um fio lógico: a delegação de pensar a Outro, um monstro de milhões de cabeças, que também não pensa: as redes sociais. Este, o espaço tecnológico para o embuste, capaz de eleger dirigentes, como no tango, "problemáticos e febris". É que "na vitrine desrespeitosa dos cambalachos / se misturou a vida", diz a profecia cantada. E assim o inominável, vazio de sentido e pleno de fraudes, se faz nome pelo beato útil do Evangelistão ou pelo freguês iludido. Em lunfardo ou em português, há uma mesma palavra para ambos: otário.
O totalitarismo escópico
O mundo digital jogou a humanidade num novo tipo de totalitarismo. Não há outra palavra para definir a relação entre a massa de bilhões de seres humanos e os conglomerados monopolistas globais, como Amazon, Apple, Meta (dona do Facebook e do WhatsApp) e Alphabet (dona do Google e do YouTube), sem falar nas chinesas.
As pessoas não sabem nada, absolutamente nada, sobre o funcionamento dos algoritmos que controlam milimetricamente o fluxo das informações e das diversões pelas redes afora. Na outra ponta, os algoritmos sabem tudo sobre o psiquismo de qualquer um que acesse um computador, um celular, um tablet ou um simples reloginho de pulso, destes que monitoram exercícios físicos, batimentos cardíacos, pressão arterial, passos e braçadas. Estamos na sociedade do controle total – controle totalitário.
O mais espantoso é que esse controle só se viabiliza graças à docilidade contente das multidões. Em frêmitos de excitação exibicionista, elas escancaram suas próprias intimidades para as máquinas. Em seguida, não satisfeitas com o furor do exibicionismo, entregam-se ao voyeurismo cavernoso para bisbilhotar a vida alheia. Olhando e sendo olhadas, trabalham feericamente a serviço do imenso extrativismo de dados pessoais, que, depois de capturados, são comercializados a preços estratosféricos.
Você não acredita? Pois deveria acreditar. De onde você acha que vem o valor de mercado dos conglomerados? Resposta: vem da captura (gratuita) e da venda dos dados pessoais das multidões. O mundo digital conseguiu a proeza de instaurar uma ordem de vigilância total, em que todos vigiam todos e ainda por cima se deliciam com isso. E quem sai ganhando no fim das contas? Sim, eles mesmos, os conglomerados – ele mesmo, o capital.
Chega de ilusões otimistas. Um pacto de convivência em que os algoritmos enxergam tudo e mais um pouco das privacidades individuais, enquanto os indivíduos nada enxergam dos algoritmos, que são o centro do poder digital, só pode ser chamado de pacto totalitário.
Hannah Arendt ensina que a adesão de todos é uma das marcas distintivas do totalitarismo. Ela viu que, no nazismo e no stalinismo, cada cidadão se apressava em agir como um funcionário da polícia política e delatava até mesmo os familiares. Hitler e Stalin contavam com os préstimos voluntários das pessoas comuns para dizimar dissidentes. “A colaboração da população na denúncia de opositores políticos e no serviço voluntário como informantes”, escreve a filósofa em Origens do totalitarismo, “é tão bem organizada que o trabalho de especialistas é quase supérfluo”.
No totalitarismo descrito pela grande pensadora, o medo impele toda gente a obedecer. Hoje sabemos que o medo não age sozinho. Além dele, existe a paixão: as massas nutrem um desejo libidinal pela figura do líder. “Sede de submissão”, nas palavras de Freud. Há um prazer inconfessável na servidão.
No totalitarismo dos nossos dias, o medo dominante é o medo da invisibilidade. É por aí que o poder dos algoritmos aterroriza todo mundo. Quanto ao desejo, este se manifesta como um arrebatamento imperioso que leva um adolescente a matar e morrer em troca de um instante de holofote sobre o seu nome e sua fotografia. A tara extremada por algum contato, mesmo que remoto, com as estrelas que reluzem nos palcos virtuais leva à sujeição total.
Que o trabalho escravo aflore neste universo de gozo e pânico não surpreende. As pessoas, carinhosa e cinicamente chamadas de “usuárias”, trabalham de graça para as redes. Dedicam horas e mais horas de seus dias plúmbeos para abarrotar as plataformas com seus textos, suas imagens, suas musiquinhas prediletas, seus áudios e suas misérias afetivas. E é precisamente o produto desse trabalho – escravo – que atrai bilhões de outros “usuários”. Os conglomerados não precisam contratar fotógrafos, cantores, atrizes, redatores, jornalistas, nada disso, pois já contam com seus adeptos fanatizados e escravizados. Nunca, em toda a história do capitalismo, a exploração do trabalho – e dos sentimentos – chegou a níveis tão absurdos.
Não surpreende, também, que a propaganda da extrema direita antidemocrática se saia tão bem nesse ambiente. O totalitarismo das redes repele o discurso da democracia com a mesma força que impulsiona mensagens autocráticas. É óbvio. A política democrática precisa de homens e mulheres livres, que tenham autonomia crítica e valorizem os direitos. Esses estão em baixa. A autocracia é o contrário: só se alastra entre grupos violentos, inebriados pelo ódio e impelidos por crenças irracionais, que estão em alta.
Como o totalitarismo dos nossos dias se tece pela exploração e pelo direcionamento do olhar, deve ser chamado de “totalitarismo escópico”. O olhar é o cimento que cola o desejo de cada um e cada uma à ordem avassaladora. Se queremos uma regulação para enfrentá-la, devemos começar por exigir transparência incondicional dos algoritmos. É inaceitável que uma caixa preta opaca e impenetrável presida a comunicação social na esfera pública. Mais que inaceitável, é totalitário.
As pessoas não sabem nada, absolutamente nada, sobre o funcionamento dos algoritmos que controlam milimetricamente o fluxo das informações e das diversões pelas redes afora. Na outra ponta, os algoritmos sabem tudo sobre o psiquismo de qualquer um que acesse um computador, um celular, um tablet ou um simples reloginho de pulso, destes que monitoram exercícios físicos, batimentos cardíacos, pressão arterial, passos e braçadas. Estamos na sociedade do controle total – controle totalitário.
O mais espantoso é que esse controle só se viabiliza graças à docilidade contente das multidões. Em frêmitos de excitação exibicionista, elas escancaram suas próprias intimidades para as máquinas. Em seguida, não satisfeitas com o furor do exibicionismo, entregam-se ao voyeurismo cavernoso para bisbilhotar a vida alheia. Olhando e sendo olhadas, trabalham feericamente a serviço do imenso extrativismo de dados pessoais, que, depois de capturados, são comercializados a preços estratosféricos.
Você não acredita? Pois deveria acreditar. De onde você acha que vem o valor de mercado dos conglomerados? Resposta: vem da captura (gratuita) e da venda dos dados pessoais das multidões. O mundo digital conseguiu a proeza de instaurar uma ordem de vigilância total, em que todos vigiam todos e ainda por cima se deliciam com isso. E quem sai ganhando no fim das contas? Sim, eles mesmos, os conglomerados – ele mesmo, o capital.
Chega de ilusões otimistas. Um pacto de convivência em que os algoritmos enxergam tudo e mais um pouco das privacidades individuais, enquanto os indivíduos nada enxergam dos algoritmos, que são o centro do poder digital, só pode ser chamado de pacto totalitário.
Hannah Arendt ensina que a adesão de todos é uma das marcas distintivas do totalitarismo. Ela viu que, no nazismo e no stalinismo, cada cidadão se apressava em agir como um funcionário da polícia política e delatava até mesmo os familiares. Hitler e Stalin contavam com os préstimos voluntários das pessoas comuns para dizimar dissidentes. “A colaboração da população na denúncia de opositores políticos e no serviço voluntário como informantes”, escreve a filósofa em Origens do totalitarismo, “é tão bem organizada que o trabalho de especialistas é quase supérfluo”.
No totalitarismo descrito pela grande pensadora, o medo impele toda gente a obedecer. Hoje sabemos que o medo não age sozinho. Além dele, existe a paixão: as massas nutrem um desejo libidinal pela figura do líder. “Sede de submissão”, nas palavras de Freud. Há um prazer inconfessável na servidão.
No totalitarismo dos nossos dias, o medo dominante é o medo da invisibilidade. É por aí que o poder dos algoritmos aterroriza todo mundo. Quanto ao desejo, este se manifesta como um arrebatamento imperioso que leva um adolescente a matar e morrer em troca de um instante de holofote sobre o seu nome e sua fotografia. A tara extremada por algum contato, mesmo que remoto, com as estrelas que reluzem nos palcos virtuais leva à sujeição total.
Que o trabalho escravo aflore neste universo de gozo e pânico não surpreende. As pessoas, carinhosa e cinicamente chamadas de “usuárias”, trabalham de graça para as redes. Dedicam horas e mais horas de seus dias plúmbeos para abarrotar as plataformas com seus textos, suas imagens, suas musiquinhas prediletas, seus áudios e suas misérias afetivas. E é precisamente o produto desse trabalho – escravo – que atrai bilhões de outros “usuários”. Os conglomerados não precisam contratar fotógrafos, cantores, atrizes, redatores, jornalistas, nada disso, pois já contam com seus adeptos fanatizados e escravizados. Nunca, em toda a história do capitalismo, a exploração do trabalho – e dos sentimentos – chegou a níveis tão absurdos.
Não surpreende, também, que a propaganda da extrema direita antidemocrática se saia tão bem nesse ambiente. O totalitarismo das redes repele o discurso da democracia com a mesma força que impulsiona mensagens autocráticas. É óbvio. A política democrática precisa de homens e mulheres livres, que tenham autonomia crítica e valorizem os direitos. Esses estão em baixa. A autocracia é o contrário: só se alastra entre grupos violentos, inebriados pelo ódio e impelidos por crenças irracionais, que estão em alta.
Como o totalitarismo dos nossos dias se tece pela exploração e pelo direcionamento do olhar, deve ser chamado de “totalitarismo escópico”. O olhar é o cimento que cola o desejo de cada um e cada uma à ordem avassaladora. Se queremos uma regulação para enfrentá-la, devemos começar por exigir transparência incondicional dos algoritmos. É inaceitável que uma caixa preta opaca e impenetrável presida a comunicação social na esfera pública. Mais que inaceitável, é totalitário.
Sob o domínio do improviso
É sempre assim. Do vandalismo golpista de 8 de janeiro à mortandade de Ianomâmis, da seca aguda às enchentes que desabrigam e matam, da violência que pôs o Rio Grande do Norte de joelhos frente ao crime organizado aos brutais assassinatos dentro das escolas, todas as ações governamentais – ainda que necessárias – são improvisos. Não se trata de um problema restrito ao Lula 3, que amanhã chega aos 100 dias. Tampouco ao presidente anterior, cuja missão foi destruir. Sob qualquer batuta, o Brasil só funciona em estado de emergência.
Sem planejamento e políticas públicas estruturadas e contínuas para enfrentar desafios conhecidos, o país se move pelos ditames da urgência.
Todo mundo viu as portas dos quartéis se enchendo de radicais e ninguém nada fez para evitar o pior. Gastam-se fortunas para amenizar calamidades e pouquíssimo para preveni-las. Montam-se grupos de inteligência e ações emergenciais cujos resultados, mesmo quando espetaculares, dificilmente são postos em prática. Não raro, são mais dinheiro e energia perdidos.
Estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios, com dados computados até março deste ano, aponta que só com secas e chuvas o país amargou perdas de R$ 401,3 bilhões no período de 2013 a 2023. Na década, esses “desastres naturais” atingiram mais de 380 milhões de pessoas – quase o dobro da população brasileira, demonstrado a reincidência dos danos, boa parte deles preveníveis.
Na outra ponta, os investimentos do governo federal em prevenção caíram vertiginosamente de R$ 3,4 bilhões em 2013 para R$ 1,17 bilhão em 2022, sendo que apenas 38% dos recursos foram realmente pagos, ou seja, menos de R$ 600 milhões, segundo o site Contas Abertas. No início desse ano, só para socorrer o Litoral Norte de São Paulo, o governo despendeu R$ 120 milhões. Emergencialmente. No final do ano e no início do próximo, certamente, as calamidades vão se repetir.
A superlotação de presídios e as condições subumanas nas quais os detentos – por piores que sejam – são submetidos é de conhecimento geral há décadas. Assim como o poder de mando dos chefões do crime organizado sobre o sistema penitenciário. O vice-presidente da República Geraldo Alckmin sentiu isso na pele quando governava o estado de São Paulo e se viu enredado por rebeliões. Não há governador que desconheça a precariedade de suas cadeias e o caldeirão ao ponto de ebulição delas. No entanto, elas só chamam a atenção quando explodem. Vem a verba emergencial – R$ 100 milhões no caso do Rio Grande do Norte – e pronto. Até que outro estouro aconteça.
Nos Ianomâmis, o caso tem outras vertentes de gravidade. Suspeita-se de genocídio do governo anterior, estimulador do garimpo ilegal e nada afeito às comunidades indígenas. Ainda assim, o descaso com esses povos é histórico. As soluções pulam de emergência em emergência – e estamos enfrentando mais uma – sem que o país consiga desenhar políticas um pouco mais duradouras.
Até para tentar minimizar a miséria, o improviso impera. A proposta de auxílio emergencial do governo Bolsonaro durante a Covid-19 era de R$ 200. Acabou em R$ 600 por pressão do Congresso, valor estipulado também para o finado Auxílio Brasil. Lula recuperou o Bolsa Família, trazendo de volta as bem-vindas contrapartidas como a exigência de vacinação das crianças. Sabe-se lá a partir de qual conta ou parâmetro, os R$ 600 foram mantidos, com acréscimo de R$ 150 para filhos de zero a seis anos e de R$ 50 para filhos de 7 a 18 anos.
Que o Bolsa Família é necessário ninguém discute. A questão de fundo é outra: o benefício foi definido pela emergência eleitoral e não a partir de critérios técnicos que dêem embasamento à quantia paga. Está, portanto, sujeito aos humores do governo da vez.
De urgência em urgência o Brasil gasta muito e entrega pouquíssimo. Novas enchentes virão sem que as encostas que caem sobre casebres tenham sido contidas e esvaziadas, sem que habitações mais seguras e dignas tenham sido construídas. Novas rebeliões em presídios, novos horrores entre as comunidades indígenas, novos ataques mortais em escolas – emergencialmente socorridas com R$ 150 milhões e a criação de um grupo de trabalho interministerial.
Deve-se aplaudir a rápida ação do governo Lula diante de calamidades e urgências. Mas é inadmissível – e cruel – transformar emergência em política pública. O país não pode continuar a ser condenado às leis do improviso.
Sem planejamento e políticas públicas estruturadas e contínuas para enfrentar desafios conhecidos, o país se move pelos ditames da urgência.
Todo mundo viu as portas dos quartéis se enchendo de radicais e ninguém nada fez para evitar o pior. Gastam-se fortunas para amenizar calamidades e pouquíssimo para preveni-las. Montam-se grupos de inteligência e ações emergenciais cujos resultados, mesmo quando espetaculares, dificilmente são postos em prática. Não raro, são mais dinheiro e energia perdidos.
Estudo técnico da Confederação Nacional dos Municípios, com dados computados até março deste ano, aponta que só com secas e chuvas o país amargou perdas de R$ 401,3 bilhões no período de 2013 a 2023. Na década, esses “desastres naturais” atingiram mais de 380 milhões de pessoas – quase o dobro da população brasileira, demonstrado a reincidência dos danos, boa parte deles preveníveis.
Na outra ponta, os investimentos do governo federal em prevenção caíram vertiginosamente de R$ 3,4 bilhões em 2013 para R$ 1,17 bilhão em 2022, sendo que apenas 38% dos recursos foram realmente pagos, ou seja, menos de R$ 600 milhões, segundo o site Contas Abertas. No início desse ano, só para socorrer o Litoral Norte de São Paulo, o governo despendeu R$ 120 milhões. Emergencialmente. No final do ano e no início do próximo, certamente, as calamidades vão se repetir.
A superlotação de presídios e as condições subumanas nas quais os detentos – por piores que sejam – são submetidos é de conhecimento geral há décadas. Assim como o poder de mando dos chefões do crime organizado sobre o sistema penitenciário. O vice-presidente da República Geraldo Alckmin sentiu isso na pele quando governava o estado de São Paulo e se viu enredado por rebeliões. Não há governador que desconheça a precariedade de suas cadeias e o caldeirão ao ponto de ebulição delas. No entanto, elas só chamam a atenção quando explodem. Vem a verba emergencial – R$ 100 milhões no caso do Rio Grande do Norte – e pronto. Até que outro estouro aconteça.
Nos Ianomâmis, o caso tem outras vertentes de gravidade. Suspeita-se de genocídio do governo anterior, estimulador do garimpo ilegal e nada afeito às comunidades indígenas. Ainda assim, o descaso com esses povos é histórico. As soluções pulam de emergência em emergência – e estamos enfrentando mais uma – sem que o país consiga desenhar políticas um pouco mais duradouras.
Até para tentar minimizar a miséria, o improviso impera. A proposta de auxílio emergencial do governo Bolsonaro durante a Covid-19 era de R$ 200. Acabou em R$ 600 por pressão do Congresso, valor estipulado também para o finado Auxílio Brasil. Lula recuperou o Bolsa Família, trazendo de volta as bem-vindas contrapartidas como a exigência de vacinação das crianças. Sabe-se lá a partir de qual conta ou parâmetro, os R$ 600 foram mantidos, com acréscimo de R$ 150 para filhos de zero a seis anos e de R$ 50 para filhos de 7 a 18 anos.
Que o Bolsa Família é necessário ninguém discute. A questão de fundo é outra: o benefício foi definido pela emergência eleitoral e não a partir de critérios técnicos que dêem embasamento à quantia paga. Está, portanto, sujeito aos humores do governo da vez.
De urgência em urgência o Brasil gasta muito e entrega pouquíssimo. Novas enchentes virão sem que as encostas que caem sobre casebres tenham sido contidas e esvaziadas, sem que habitações mais seguras e dignas tenham sido construídas. Novas rebeliões em presídios, novos horrores entre as comunidades indígenas, novos ataques mortais em escolas – emergencialmente socorridas com R$ 150 milhões e a criação de um grupo de trabalho interministerial.
Deve-se aplaudir a rápida ação do governo Lula diante de calamidades e urgências. Mas é inadmissível – e cruel – transformar emergência em política pública. O país não pode continuar a ser condenado às leis do improviso.
Pó
Sendo uma bola de pó feita de restos humanos, não deixa de ser irónico que o que varremos é a nossa própria morte, a morte que nos vai acontecendo todos os dias, que se deposita nos livros, nos móveis, debaixo da cama, no soalho, pois é, como escreveu Yuri Al’Hanati, em A volta ao quarto em 180 dias, “um amontoado de pedaços de pele, caspa, pelos que caíram do corpo, poeira dos móveis e das paredes e chumaços de tecido”, que se agrupa seguindo as mesmas leis das galáxias ou das moléculas.
A questão é que essa bola se forma porque somos um processo e não um fim, ou melhor, a vida é um adiar do fim, e um dos processos de procrastinar é mudar de pele. Não somos um objeto estático, mas um caminho, por isso deixamos cair coisas, como a pele – como a serpente de Nietzsche, que morre se não a mudar, ou como as ideias e as almas, que definham até ao apagamento se recusarem qualquer alteração. A bola de pó é o corpo a mudar de opinião, a transformar-se, a caminhar. A morte mais terrível seria mantermo-nos iguais, na mesmice mineral, por isso uma possível definição de vida poderá ser esta: a vida é um deixar de ser para continuar a ser.
Ouvi num documentário que não damos nada à terra, que tiramos, tiramos, tiramos, e não damos. Enfim, somos muitos, e para contrariar isso, de que tiramos, e somente tiramos, somos todos terra e no final havemos de lhe entregar todo o barro que nos foi emprestado. Como cantou Adriano Correia de Oliveira: “Eu sou devedor à terra,/ a terra me está devendo,/ a terra paga-me em vida,/ eu pago à terra morrendo”. Um pedaço de barro ergue-se, sustido pela terra, para depois voltar a ser barro, sustendo a terra, mas ao erguer-se, ou quando se ergueu, produziu algo único: relações, afetos, leituras, foi às compras, foi à ópera.
A vida produz, da matéria-prima mais rude – o barro –, versos, cantigas, ódio, abraços, medos, certezas, enfim, algo que viaja de barro em barro, resistente à vulgaridade da ameaça física: não se pode esfaquear uma canção, não se pode atirar pedras a uma ideia (metaforicamente, sim, mas denotativamente não). A única maneira de matar a arte ou qualquer produção imaterial é disparando esquecimento, sendo essa também a única forma de uma alma morrer, tão diferente da outra, a do corpo que se transforma em pó. E é importante lembrar o epitáfio de Mário Quintana, que é um manual de filosofia escrito numa frase e que deveria estar presente em todas as tumbas: “Eu não estou aqui”.
Esta ideia, “eu não estou aqui”, mostra bem essa transição e a certeza de que o corpo é o resto de algo, um pó que se varre para que a alma, já transformada nas coisas amadas, subsista inefável, como uma canção que se vai trauteando, até ser esquecida – porque o esquecimento é o pó da alma. A origem das espécies é uma teoria incompleta, que se finda na biologia, que não contempla uma outra evolução, a da imaterialidade. E aqui não me refiro a uma abordagem mística, mas à evolução da informação e como ela resiste à morte do seu veículo, pois a informação é interoperável: um poema vive tanto na voz, como escrito num papel, ou em zeros e uns.
O barro, a matéria que sustém um poema (ou qualquer tipo de informação) é irrelevante. Pode ser silicone, plástico, voz, papel e tinta. Quando silenciamos uma pessoa, quando rasgamos uma letra de uma canção, podemos imediatamente aplicar a fórmula de Quintana ao olhar para a mudez ou para os pedaços de papel: a canção não está ali, continua algures, noutra voz. Num sentido absoluto, a morte não é morrer, é esquecer a canção. E a eternidade é continuar a cantar, ainda que o pó pareça ser o grande vencedor: “O homem é o lobo do homem, e pede desculpas pela poeira. Não sabe que um dia, quando não houver mais homens, a poeira reinará sobre o sistema solar e não se ouvirá ninguém pedir desculpas por nada. A poeira nos sobreviverá” (Yuri Al’Hanati).
Entretanto, e antes de o pó se impor derradeiramente, talvez faça sentido varrer, não o pó, mas aquilo que a morte não pode silenciar, tal como se lê nos versos de Minês Castanheira: “No poema ficou o mais secreto./ Como se eu varresse para dentro de mim/ silenciosamente/ todas as coisas da casa”.
Assinar:
Comentários (Atom)