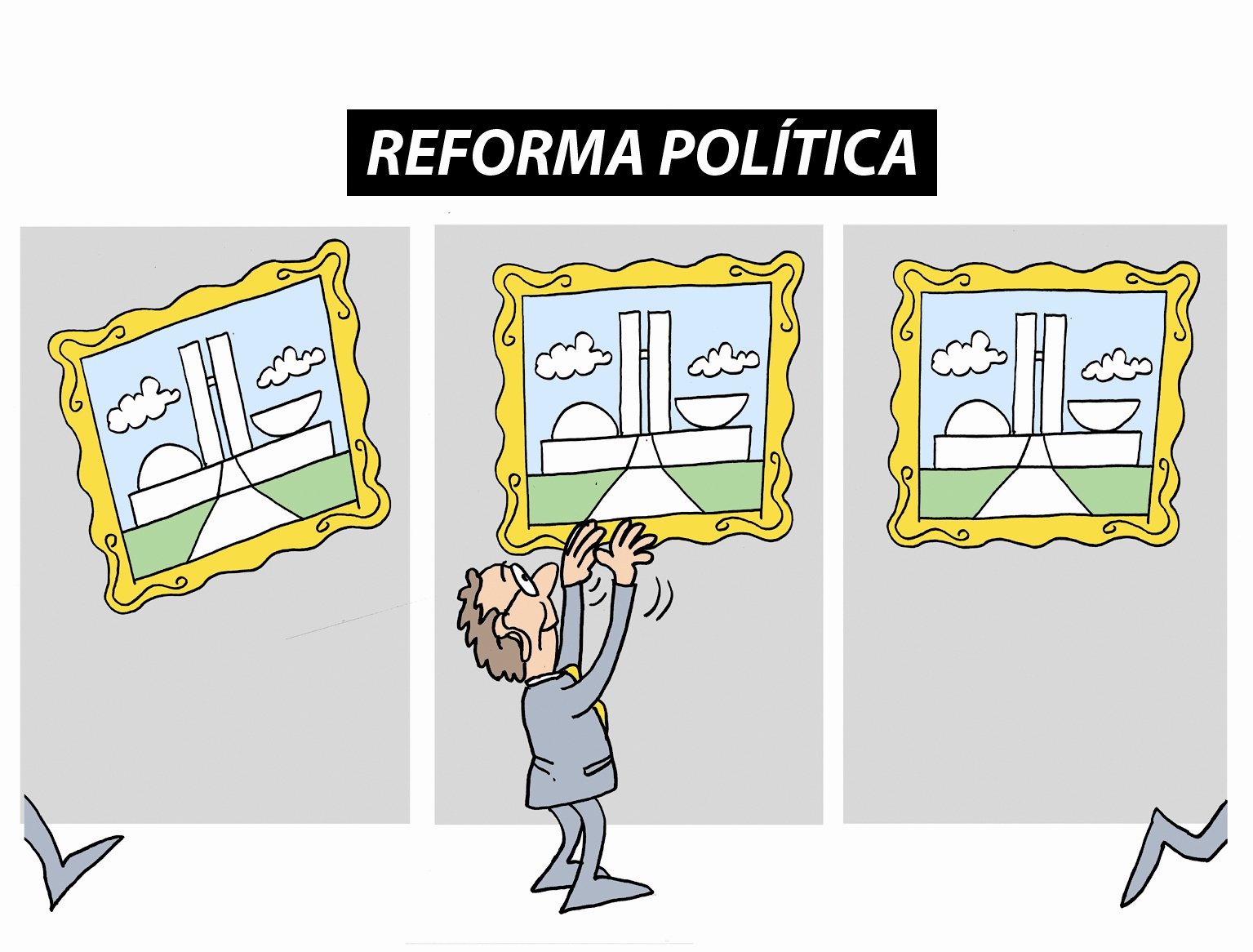Ao fazer esse exercício, espero contribuir para desvendar os motivos do “tirar” ou roubar, que nos leva aos elos entre os fins de um dado ato e as suas finalidades. Compreendido o laço, podemos penetrar melhor nas racionalizações ligadas à roubalheira planificada que tanto tem escandalizado a nossa vida pública.
(Aliás, por artes do destino, almocei com Hogarth em 1974, em Washington, nas comemorações do bicentenário dos Estados Unidos. Na ocasião, dele generosamente recebi uma litogravura autografada, a qual me lembra o caminho abandonado.)
Roubei giletes porque precisava apontar meus lápis – alguns dos quais igualmente roubados. Hoje, percebo que o meu furto foi justificado pela arte. Mas no confronto com papai ficou a consciência de como os papéis de filho, de irmão mais velho, de menino branco educado e de boa família não deveriam ser manchados pelo de ladrãozinho, um papel indicativo – ao menos naqueles velhos tempos – de um futuro sombrio.
No livro de Manuel Antônio de Almeida, Memórias de Um Sargento de Milícias, publicado no jornal Pacotilha, de junho de 1852 a julho de 1853, e ressuscitado por um texto exemplar de Antonio Candido (Dialética da Malandragem, publicado em 1970), que não foi meu professor, mas de quem eu muito aprendi, há um episódio essencial ligado ao elo entre meios e fins e ao que, no Brasil, dependendo da pessoa, classificamos como malandragem, dever político ou crime. Que o digam as consequências das delações premiadas.
No capítulo 9 deste romance, intitulado “O Arranjei-me do Compadre” ficamos sabendo de como o Barbeiro-Compadre – que assume a paternidade do herói da narrativa, o Leonardo filho, rejeitado pelo genitor a pontapé – fez o seu “pé de meia”.
Tal como o herói, o Barbeiro-Compadre, não tem família. Aprendeu a profissão de um barbeiro que ele mesmo não sabe se era ou não seu genitor. Viveu numa casa na qual era tratado como criado, filho, agregado e enjeitado numa sociedade relacional. Obrigado a pagar pelo que todos temos de graça, ele foge de casa.
Na rua, um tanto perdido e individualizado numa terra onde todos têm família, ele barbeia um tripulante de navio negreiro que o engaja como sangrador. No curso da viagem, ele tem sucesso e passa de sangrador a médico. Próximo à chegada ao Rio, o capitão do navio adoece. Confiante no “médico”, entrega-lhe a herança destinada à filha. O Compadre receba a fortuna, mas “esquecido da promessa, decidiu-se a instituir-se herdeiro do capitão, e assim o fez. Eis aqui – arremata Manuel Antônio de Almeida – como se explica o arranjei-me, e como se explicam muitos outros que vão aí pelo mundo”.
E, digo eu, embora situado “nos tempos do Rei” – ou seja, no início do século 19 e escrito na sua metade, o “arranjei-me do Compadre” não é muito diferente dos “arranjei-me” ou das “arrumações” que têm abusivamente permeado a nossa vida pública contemporânea, moderna, utópica e democrática. O “arranjei-me” pelo golpe e circunstâncias facultadas pelo Estado é um brasileirismo.
Vale terminar, porém, notando que a fortuna obtida por meios ilícitos termina nas mãos do afilhado num final feliz, pois, como tudo indica, se rouba pensando nos filhos e netos que fazem chorar os velhos crocodilos.