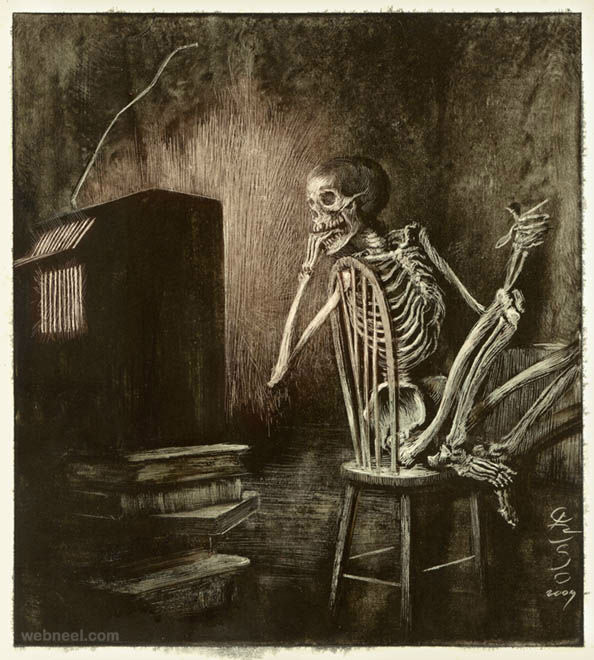segunda-feira, 12 de dezembro de 2016
Foi assim
No começo arranjaram desculpas. “Custo de fazer negócios”. “Anda mais rápido assim”. “Se não for assim, nada acontece”. “Não tem importância”. “Todo munda faz”. “Roubou mas faço”.
Desculpas eram muitas. Criativas. Diversas. Mas todas cínicas, mentirosas. Ofensivas a inteligência e ao bom senso. Mas de tanto ouvir, a gente se acostumou. Afinal, não era com a gente.

Olhamos para o outro lado. Fingimos que não era com a gente. Por anos, décadas, séculos. Nada mais poderoso que a vontade de não enxergar. Toleramos a nódoa na alma. Calamo-nos porque achamos que não nos afetava.
Depois roubaram as palavras. Cultivaram eufemismos. “Recursos não contabilizados”. “Ponto fora da curva”. “Malfeitos”. “Pixuleco”. “Oxigênio”. Tudo soou mais suave, justificável, distante da realidade.
Olhamos para outro lado. Eram apenas palavras. E menos ofensivas aos ouvidos. Mais fáceis de engolir. E de aceitar. Achamos inútil discutir semântica. Chamar tudo pelo nome. Gritar. Protestar. Calamo-nos porque achamos que não nos afetava.
Depois roubaram o significado. Palavras suaves somente poderiam indicar ausência de culpa ou responsabilidade. E não existe culpa, nada é problema. Tudo é permitido. Sem consequências. Sem imputações. Sem punições. Impune, enfim.
Olhamos para outro lado. Já havíamos acostumado. Era normal. “São todo iguais”, pensamos. “E se a gente derrubar esse, o substituto vai ser igual, ou pior”, concluímos. E calamo-nos porque acreditamos que nada era tudo o que poderia ser feito.
E finalmente nos roubaram o futuro. Levaram o sorriso. A esperança. O futuro da próximas gerações. A segurança das gerações presentes. E nos calamos. De novo. Porque está nos falte acreditar que mudar é possível.
E foi assim que perdemos.
Desculpas eram muitas. Criativas. Diversas. Mas todas cínicas, mentirosas. Ofensivas a inteligência e ao bom senso. Mas de tanto ouvir, a gente se acostumou. Afinal, não era com a gente.

Olhamos para o outro lado. Fingimos que não era com a gente. Por anos, décadas, séculos. Nada mais poderoso que a vontade de não enxergar. Toleramos a nódoa na alma. Calamo-nos porque achamos que não nos afetava.
Depois roubaram as palavras. Cultivaram eufemismos. “Recursos não contabilizados”. “Ponto fora da curva”. “Malfeitos”. “Pixuleco”. “Oxigênio”. Tudo soou mais suave, justificável, distante da realidade.
Olhamos para outro lado. Eram apenas palavras. E menos ofensivas aos ouvidos. Mais fáceis de engolir. E de aceitar. Achamos inútil discutir semântica. Chamar tudo pelo nome. Gritar. Protestar. Calamo-nos porque achamos que não nos afetava.
Depois roubaram o significado. Palavras suaves somente poderiam indicar ausência de culpa ou responsabilidade. E não existe culpa, nada é problema. Tudo é permitido. Sem consequências. Sem imputações. Sem punições. Impune, enfim.
Olhamos para outro lado. Já havíamos acostumado. Era normal. “São todo iguais”, pensamos. “E se a gente derrubar esse, o substituto vai ser igual, ou pior”, concluímos. E calamo-nos porque acreditamos que nada era tudo o que poderia ser feito.
E finalmente nos roubaram o futuro. Levaram o sorriso. A esperança. O futuro da próximas gerações. A segurança das gerações presentes. E nos calamos. De novo. Porque está nos falte acreditar que mudar é possível.
E foi assim que perdemos.
Como pôr o Brasil sob nova direção - 2
Um balanço da eleição presidencial de 2016 nos Estados Unidos ajuda a dar uma ideia da distância a que estamos da democracia. Eis alguns dados:
* 93 altos executivos estaduais foram diretamente eleitos. A lista inclui 12 governadores (nem todos os Estados elegem os seus na mesma data), 9 vices, 10 procuradores-gerais, 8 secretários de Estado (a principal função deles é gerir as eleições e “deseleições” locais), 9 secretários de Tesouro, 8 auditores-gerais (função similar à de um tribunal de contas) e ainda secretários de Agricultura, Educação, Recursos Naturais, Transportes, etc. Todos eleitos diretamente; todos passíveis de “deseleição” a qualquer momento a partir de petições iniciadas por qualquer cidadão, bastando a assinatura de entre 5% e 7% dos eleitores do funcionário visado para o “recall” ir a voto.
* 5.923 legisladores foram eleitos para 86 das 99 Assembleias Legislativas e Senados estaduais, todos passíveis de “recall”.
* 236 cadeiras de juiz em 63 Cortes Supremas ou de Apelação estiveram em disputa em 34 Estados por eleição direta ou indireta.
12 Estados convocaram “eleições de retenção” de juízes por mais seis anos. Cinco dos 7 juízes da Suprema Corte do Kansas, por exemplo, foram desafiados em função de posições assumidas numa “batalha” em torno de verbas de educação e da insatisfação com suas decisões em casos envolvendo pena de morte.
Aproveitando esta, como toda eleição a cada dois anos, municipais ou nacionais, 154 outros temas específicos foram decididos no voto em 34 Estados. Oito já tinham sido decididos em votações antecipadas.
* 71 eram leis de iniciativa popular.
* 5 foram votações de veto a leis aprovadas em Legislativos desafiadas por iniciativa popular.
* 79 foram parar nas cédulas (do tamanho de páginas de jornal e frequentemente com muitas folhas cheias de itens) em função de iniciativas anteriores obrigando os Legislativos a submeter automaticamente a referendo leis sobre impostos, dívida pública, educação e outros temas da escolha dos eleitores locais.
* O Maine votou uma lei criando para si um modelo único de eleições em todo o país.
* Na Califórnia, a “Proposição n.º 61”, anticorrupção, foi objeto da campanha mais cara da história. Obriga os órgãos públicos daquele Estado a pagar por qualquer medicamento apenas o mesmo preço pago pelo “U.S. Department of Veterans Affairs” (órgão federal para os veteranos de guerra). A indústria farmacêutica gastou US$ 109 milhões para tentar evitar que fosse aprovada.
* 9 Estados votaram leis envolvendo o uso de maconha – 5 já tinham aprovado o uso medicinal e estavam decidindo agora o uso “recreativo”.
* Os eleitores da Flórida aprovaram incentivos ao uso de energia solar.
* A “Proposition n.º 57” da Califórnia criava uma série de novas oportunidades de liberdade condicional para condenados por crimes não violentos e determinava que juízes, e não mais apenas promotores, decidissem caso a caso quando um menor de idade deveria ser julgado como adulto.
* Alguns Estados votaram propostas sobre levantamento de antecedentes para compra de armas.
* Em Nova Jersey, dois altos funcionários e um ex-prefeito foram condenados (em votação direta pedindo sim ou não numa lista de acusações) no “Escândalo da Ponte” (“Bridgegate”), por terem fechado pistas e provocado congestionamentos gigantes para prejudicar um governador candidato à reeleição em 2013.

Ao fim de mais de cem anos elegendo e “deselegendo” de diretores de escolas públicas a presidentes da República e exercendo o direito de decidir diretamente o que quer que afete suas vidas não resta, como se vê, muita coisa de especialmente emocionante para resolver por lá. Mesmo assim, 13,7 milhões de assinaturas foram colhidas pelos proponentes das 162 medidas qualificadas para ir a voto; US$ 76,8 milhões foram gastos nas campanhas para essas coletas; outros US$ 917 milhões, nas campanhas contra e a favor de cada medida (muitas cidades e Estados, por decisões de iniciativa popular anteriores, pagam campanhas contra e a favor das medidas que o povo decidir submeter a voto com verbas iguais).
Os processos de “recall” vão, no máximo, até o cargo de governador estadual. No balanço de meio de ano de 2016, publicado em junho, 189 mirando 265 funcionários tinham sido iniciados. Em 2015 inteiro tinham corrido só 180 visando 275 funcionários. Na média, algo como 12% dos processos resulta em cassação. A maioria dos visados pede demissão no momento em que o processo consegue as assinaturas para se qualificar. Não há “recall” no nível federal (há impeachment) porque não é praticável. Pararia o país. Mas, em geral, o servidor que chega lá já está suficientemente “educado” nos termos e condições da sua relação com seus “patrões”.
Esses pequenos “flashes” sobre o verdadeiro modo de ser da democracia americana dão boas pistas para se entender como eles conseguiram reduzir a corrupção o bastante para torná-los milhares de vezes mais ricos do que nós (o PIB do Estado de Nova York sozinho equivale ao do Brasil inteiro), e quanta coisa de melhor há para mostrar na televisão ao desorientado cidadão brasileiro – neste momento perdido no espaço sem nenhuma noção sobre a que ele tem o direito ao menos de aspirar – do que vender mazelas localizadas como padrões do modo de vida americano, festejar ditadores mortos e amplificar infindavelmente o que se diz e desdiz em Brasília, se a intenção for realmente contribuir para melhorar o Brasil.
A construção da democracia é uma obra coletiva, um processo contínuo. A chave é a ampliação dos direitos do eleitor, que se começar pelo voto distrital com “recall” ganha pernas próprias e não para mais. Eles não mudam a natureza humana nem resolveriam num passe de mágica o drama brasileiro. Mas nos dariam a satisfação de passar a pagar somente pelos erros que nós mesmos cometêssemos, o que, por si só, traria “a valor presente” uma parte do explosivo benefício a ser colhido daí por diante, mais que suficiente para tirar o País do estado de coma.
* 93 altos executivos estaduais foram diretamente eleitos. A lista inclui 12 governadores (nem todos os Estados elegem os seus na mesma data), 9 vices, 10 procuradores-gerais, 8 secretários de Estado (a principal função deles é gerir as eleições e “deseleições” locais), 9 secretários de Tesouro, 8 auditores-gerais (função similar à de um tribunal de contas) e ainda secretários de Agricultura, Educação, Recursos Naturais, Transportes, etc. Todos eleitos diretamente; todos passíveis de “deseleição” a qualquer momento a partir de petições iniciadas por qualquer cidadão, bastando a assinatura de entre 5% e 7% dos eleitores do funcionário visado para o “recall” ir a voto.
* 5.923 legisladores foram eleitos para 86 das 99 Assembleias Legislativas e Senados estaduais, todos passíveis de “recall”.
* 236 cadeiras de juiz em 63 Cortes Supremas ou de Apelação estiveram em disputa em 34 Estados por eleição direta ou indireta.
12 Estados convocaram “eleições de retenção” de juízes por mais seis anos. Cinco dos 7 juízes da Suprema Corte do Kansas, por exemplo, foram desafiados em função de posições assumidas numa “batalha” em torno de verbas de educação e da insatisfação com suas decisões em casos envolvendo pena de morte.
Aproveitando esta, como toda eleição a cada dois anos, municipais ou nacionais, 154 outros temas específicos foram decididos no voto em 34 Estados. Oito já tinham sido decididos em votações antecipadas.
* 71 eram leis de iniciativa popular.
* 5 foram votações de veto a leis aprovadas em Legislativos desafiadas por iniciativa popular.
* 79 foram parar nas cédulas (do tamanho de páginas de jornal e frequentemente com muitas folhas cheias de itens) em função de iniciativas anteriores obrigando os Legislativos a submeter automaticamente a referendo leis sobre impostos, dívida pública, educação e outros temas da escolha dos eleitores locais.
* O Maine votou uma lei criando para si um modelo único de eleições em todo o país.
* Na Califórnia, a “Proposição n.º 61”, anticorrupção, foi objeto da campanha mais cara da história. Obriga os órgãos públicos daquele Estado a pagar por qualquer medicamento apenas o mesmo preço pago pelo “U.S. Department of Veterans Affairs” (órgão federal para os veteranos de guerra). A indústria farmacêutica gastou US$ 109 milhões para tentar evitar que fosse aprovada.
* 9 Estados votaram leis envolvendo o uso de maconha – 5 já tinham aprovado o uso medicinal e estavam decidindo agora o uso “recreativo”.
* Os eleitores da Flórida aprovaram incentivos ao uso de energia solar.
* A “Proposition n.º 57” da Califórnia criava uma série de novas oportunidades de liberdade condicional para condenados por crimes não violentos e determinava que juízes, e não mais apenas promotores, decidissem caso a caso quando um menor de idade deveria ser julgado como adulto.
* Alguns Estados votaram propostas sobre levantamento de antecedentes para compra de armas.
* Em Nova Jersey, dois altos funcionários e um ex-prefeito foram condenados (em votação direta pedindo sim ou não numa lista de acusações) no “Escândalo da Ponte” (“Bridgegate”), por terem fechado pistas e provocado congestionamentos gigantes para prejudicar um governador candidato à reeleição em 2013.

Ao fim de mais de cem anos elegendo e “deselegendo” de diretores de escolas públicas a presidentes da República e exercendo o direito de decidir diretamente o que quer que afete suas vidas não resta, como se vê, muita coisa de especialmente emocionante para resolver por lá. Mesmo assim, 13,7 milhões de assinaturas foram colhidas pelos proponentes das 162 medidas qualificadas para ir a voto; US$ 76,8 milhões foram gastos nas campanhas para essas coletas; outros US$ 917 milhões, nas campanhas contra e a favor de cada medida (muitas cidades e Estados, por decisões de iniciativa popular anteriores, pagam campanhas contra e a favor das medidas que o povo decidir submeter a voto com verbas iguais).
Os processos de “recall” vão, no máximo, até o cargo de governador estadual. No balanço de meio de ano de 2016, publicado em junho, 189 mirando 265 funcionários tinham sido iniciados. Em 2015 inteiro tinham corrido só 180 visando 275 funcionários. Na média, algo como 12% dos processos resulta em cassação. A maioria dos visados pede demissão no momento em que o processo consegue as assinaturas para se qualificar. Não há “recall” no nível federal (há impeachment) porque não é praticável. Pararia o país. Mas, em geral, o servidor que chega lá já está suficientemente “educado” nos termos e condições da sua relação com seus “patrões”.
Esses pequenos “flashes” sobre o verdadeiro modo de ser da democracia americana dão boas pistas para se entender como eles conseguiram reduzir a corrupção o bastante para torná-los milhares de vezes mais ricos do que nós (o PIB do Estado de Nova York sozinho equivale ao do Brasil inteiro), e quanta coisa de melhor há para mostrar na televisão ao desorientado cidadão brasileiro – neste momento perdido no espaço sem nenhuma noção sobre a que ele tem o direito ao menos de aspirar – do que vender mazelas localizadas como padrões do modo de vida americano, festejar ditadores mortos e amplificar infindavelmente o que se diz e desdiz em Brasília, se a intenção for realmente contribuir para melhorar o Brasil.
A construção da democracia é uma obra coletiva, um processo contínuo. A chave é a ampliação dos direitos do eleitor, que se começar pelo voto distrital com “recall” ganha pernas próprias e não para mais. Eles não mudam a natureza humana nem resolveriam num passe de mágica o drama brasileiro. Mas nos dariam a satisfação de passar a pagar somente pelos erros que nós mesmos cometêssemos, o que, por si só, traria “a valor presente” uma parte do explosivo benefício a ser colhido daí por diante, mais que suficiente para tirar o País do estado de coma.
Que se vão todos!
A delação da Odebrecht, que mal começou, já provoca espanto, horror e nojo. Os atingidos por ela se dizem vítimas inocentes de infâmias e apostam que no futuro serão absolvidos pela Justiça e redimidos pela História.
E nós? O que falta para concluirmos que fomos governados nos últimos 14 anos por um bando de suspeitos de corrupção, mas que seguimos governados ainda por uma parte expressiva deles?
Digo suspeitos porque à luz das leis é o que eles são. Mas é difícil acreditar na inocência deles. Não só pelo volume de indícios e de provas reunidas pela Lava-Jato e oferecidas ao exame de todos nós, como também pelo relato circunstanciado, repleto de detalhes críveis e escabrosos, dos delatores ouvidos até aqui, sujeitos a penas maiores se mentirem ao juiz Sérgio Moro.
O conceito de roubo dos políticos, e dos que azeitam seu mau comportamento, é propositalmente estreito. Roubo seria apenas receber dinheiro de propina. Não seria roubo receber dinheiro omitido à Justiça. No caso, seria apenas um arraigado costume.
Tampouco seria receber dinheiro para defender os interesses daqueles que os ajudaram a ser eleitos. É do jogo. Não é, Lula?

O ensaio de delação de Cláudio Melo Filho, ex-diretor da Odebrecht em Brasília, expôs as vísceras de um sistema político que apodreceu há muito tempo, mas que resiste a ser enterrado.
Dá conta dos gastos da empresa no valor de cerca de R$ 90 milhões com pagamentos de propinas, caixa dois e doações legais para campanhas de 52 políticos entre 2006 e 2014.
Do total, pelo menos R$ 17 milhões foram pagos a parlamentares em troca da aprovação de matérias que favoreceram a Odebrecht. Melo Filho cita 14 Medidas Provisórias aprovadas ou modificadas para se ajustar às necessidades da construtora.
Era a Odebrecht aplicando um dos seus mais caros princípios, o da “Confiança no Ser Humano, no seu potencial e na sua vontade de se desenvolver”.
Entre os políticos que pediram dinheiro à empresa ou que aceitaram dinheiro para beneficiá-la, estão os presidentes da República, da Câmara e do Senado, quatro ministros, dois ex-ministros, o líder do governo no Congresso, os líderes do PMDB, do DEM e do PT no Senado, um senador do PP e outro do PSB, e o presidente do PSDB, Aécio Neves. Fora Lula, Pezão e Alckmin.
Como o presidente Michel Temer imagina reagir ao duro baque que o alcançou pessoalmente, como também aos seus auxiliares de copa e cozinha?
Dirá que os R$ 10 milhões doados pela Odebrecht ao PMDB pagaram despesas de sua campanha na chapa de Dilma em 2014? Se disser, correrá o risco de ver a chapa impugnada pela Justiça Eleitoral, o que parece possível de acontecer.
Temer não reagirá. Estão próximas as festas do fim do ano. Janeiro é mês de férias. Fevereiro, de carnaval. Quem sabe tudo não se acomoda até lá?
Será um erro. Primeiro porque o verão da Lava-Jato promete ser abrasador. Segundo porque a paciência dos brasileiros com Temer está perto do fim. Sua popularidade despenca. Aumenta o pessimismo com a economia.
Os que se deixaram corromper não são culpados só por isso. Deveriam responder pelo crime de subverter a vontade dos que votaram neles. Não foram eleitos para roubar e muito menos para minar o regime democrático.
Mas foi o que fizeram e continuarão a fazer se não forem varridos. Essa tarefa é nossa antes de ser da Justiça, que se acocorou diante de Renan.
E nós? O que falta para concluirmos que fomos governados nos últimos 14 anos por um bando de suspeitos de corrupção, mas que seguimos governados ainda por uma parte expressiva deles?
Digo suspeitos porque à luz das leis é o que eles são. Mas é difícil acreditar na inocência deles. Não só pelo volume de indícios e de provas reunidas pela Lava-Jato e oferecidas ao exame de todos nós, como também pelo relato circunstanciado, repleto de detalhes críveis e escabrosos, dos delatores ouvidos até aqui, sujeitos a penas maiores se mentirem ao juiz Sérgio Moro.
O conceito de roubo dos políticos, e dos que azeitam seu mau comportamento, é propositalmente estreito. Roubo seria apenas receber dinheiro de propina. Não seria roubo receber dinheiro omitido à Justiça. No caso, seria apenas um arraigado costume.
Tampouco seria receber dinheiro para defender os interesses daqueles que os ajudaram a ser eleitos. É do jogo. Não é, Lula?

Dá conta dos gastos da empresa no valor de cerca de R$ 90 milhões com pagamentos de propinas, caixa dois e doações legais para campanhas de 52 políticos entre 2006 e 2014.
Do total, pelo menos R$ 17 milhões foram pagos a parlamentares em troca da aprovação de matérias que favoreceram a Odebrecht. Melo Filho cita 14 Medidas Provisórias aprovadas ou modificadas para se ajustar às necessidades da construtora.
Era a Odebrecht aplicando um dos seus mais caros princípios, o da “Confiança no Ser Humano, no seu potencial e na sua vontade de se desenvolver”.
Entre os políticos que pediram dinheiro à empresa ou que aceitaram dinheiro para beneficiá-la, estão os presidentes da República, da Câmara e do Senado, quatro ministros, dois ex-ministros, o líder do governo no Congresso, os líderes do PMDB, do DEM e do PT no Senado, um senador do PP e outro do PSB, e o presidente do PSDB, Aécio Neves. Fora Lula, Pezão e Alckmin.
Como o presidente Michel Temer imagina reagir ao duro baque que o alcançou pessoalmente, como também aos seus auxiliares de copa e cozinha?
Dirá que os R$ 10 milhões doados pela Odebrecht ao PMDB pagaram despesas de sua campanha na chapa de Dilma em 2014? Se disser, correrá o risco de ver a chapa impugnada pela Justiça Eleitoral, o que parece possível de acontecer.
Temer não reagirá. Estão próximas as festas do fim do ano. Janeiro é mês de férias. Fevereiro, de carnaval. Quem sabe tudo não se acomoda até lá?
Será um erro. Primeiro porque o verão da Lava-Jato promete ser abrasador. Segundo porque a paciência dos brasileiros com Temer está perto do fim. Sua popularidade despenca. Aumenta o pessimismo com a economia.
Os que se deixaram corromper não são culpados só por isso. Deveriam responder pelo crime de subverter a vontade dos que votaram neles. Não foram eleitos para roubar e muito menos para minar o regime democrático.
Mas foi o que fizeram e continuarão a fazer se não forem varridos. Essa tarefa é nossa antes de ser da Justiça, que se acocorou diante de Renan.
Dura lex, sed lex: no cabelo só Gumex
“Os dois não podem estar certos”, disse o escrivão ao sufi, designação de soberano persa que atuava também como juiz supremo e dera razão a cada um dos litigantes. Replicou o sufi: “O senhor também tem razão”.
“Sufi” no Árabe é lã, provável alusão à capa do magistrado, equivalente à toga usada sobre a túnica pelos cidadãos da Roma antiga em ocasiões solenes e hoje vestimenta privativa de juízes e ministros de tribunais superiores como o STF.
Toga, que passou ao Português com a mesma grafia do Latim, é do mesmo étimo de coisas que servem para cobrir, como telha, tugúrio, teto, de detetive, originalmente o policial encarregado de procurar o transgressor ou o ladrão onde ele se escondera, em geral no teto de residências ou prédios.

A etimologia tem destes encantos e curiosidades. Certas palavras não significam mais o que no berço significaram. Diferentemente do que fizeram nos primórdios do direito romano, os juízes não precisam mais espetar uma vara no chão, cuja ponta superior possa ser avistada de longe pela turba, identificando o tipo de litígio que atendem (se cível, se criminal, se questões familiares, se outras disputas), nem pendurar suas sentenças em varas erguidas na horizontal ou na transversal para delas os interessados tomarem conhecimento. Assim nasceu também a comarca, que em Latim significa “com marca”, isto é, identifica a área de atuação dos juizados.
A propósito, juiz designou originalmente aquele que dizia ou escrevia a justiça, o direito, que não é torto nem tortuoso sequer na etimologia: direito é do mesmo étimo de direto.
Mas sentença é do mesmo étimo do verbo sentir. Cada cabeça produz uma sentença diferente, uma vez que cada juiz sente diferentemente um mesmo problema.
O Supremo, como é conhecido o STF, é palavra que aparece em muitos outros contextos. O mais conhecido é o da culinária: supremo de frango, supremo de chocolate, supremo de abacaxi, embora não exista supremo de pizza! Supremo designa o que é ou está superior a tudo ou a todos.
Alguns advogados, adeptos do juridiquês, já se referiram ao Supremo, em desjeitosas petições, como “alcândor conselho”, esquecendo-se de que o étimo árabe desta palavra dá conta de que alcândor é poleiro de papagaios. Mas o fizeram sem ironia, apesar da insuportável enxúndia das intervenções de alguns ministros.
Não são poucos os que identificam uma fogueira de vaidades no STF. A vaidade parece inerente a certos cargos. Múmias de mais de três mil anos conservaram para a posteridade o costume de homens arrumarem as madeixas com glostora ou gumex quando estes fixadores eram conhecidos por outros nomes.
A votação de 6 x 3 foi acachapante para os que venceram, e gloriosa para os que perderam. A palavra acachapante veio justamente do modo com o guazapo, espécie de coelho em Espanhol, se estende sobre o chão antes de receber a cajadada do caçador. E gloria, de que se formou glorioso/a, veio do Latim, que por sua vez se radica em dois verbos gregos: klýo e kléo, que significam respectivamente entender e celebrar.
Que os ministros perdedores recebam deste modesto escritor e professor os mais sinceros cumprimentos. Seus colegas vencedores mostraram que glostora e gumex são menos maleáveis do que a dura lex.
“Sufi” no Árabe é lã, provável alusão à capa do magistrado, equivalente à toga usada sobre a túnica pelos cidadãos da Roma antiga em ocasiões solenes e hoje vestimenta privativa de juízes e ministros de tribunais superiores como o STF.
Toga, que passou ao Português com a mesma grafia do Latim, é do mesmo étimo de coisas que servem para cobrir, como telha, tugúrio, teto, de detetive, originalmente o policial encarregado de procurar o transgressor ou o ladrão onde ele se escondera, em geral no teto de residências ou prédios.

A etimologia tem destes encantos e curiosidades. Certas palavras não significam mais o que no berço significaram. Diferentemente do que fizeram nos primórdios do direito romano, os juízes não precisam mais espetar uma vara no chão, cuja ponta superior possa ser avistada de longe pela turba, identificando o tipo de litígio que atendem (se cível, se criminal, se questões familiares, se outras disputas), nem pendurar suas sentenças em varas erguidas na horizontal ou na transversal para delas os interessados tomarem conhecimento. Assim nasceu também a comarca, que em Latim significa “com marca”, isto é, identifica a área de atuação dos juizados.
A propósito, juiz designou originalmente aquele que dizia ou escrevia a justiça, o direito, que não é torto nem tortuoso sequer na etimologia: direito é do mesmo étimo de direto.
Mas sentença é do mesmo étimo do verbo sentir. Cada cabeça produz uma sentença diferente, uma vez que cada juiz sente diferentemente um mesmo problema.
O Supremo, como é conhecido o STF, é palavra que aparece em muitos outros contextos. O mais conhecido é o da culinária: supremo de frango, supremo de chocolate, supremo de abacaxi, embora não exista supremo de pizza! Supremo designa o que é ou está superior a tudo ou a todos.
Alguns advogados, adeptos do juridiquês, já se referiram ao Supremo, em desjeitosas petições, como “alcândor conselho”, esquecendo-se de que o étimo árabe desta palavra dá conta de que alcândor é poleiro de papagaios. Mas o fizeram sem ironia, apesar da insuportável enxúndia das intervenções de alguns ministros.
Não são poucos os que identificam uma fogueira de vaidades no STF. A vaidade parece inerente a certos cargos. Múmias de mais de três mil anos conservaram para a posteridade o costume de homens arrumarem as madeixas com glostora ou gumex quando estes fixadores eram conhecidos por outros nomes.
A votação de 6 x 3 foi acachapante para os que venceram, e gloriosa para os que perderam. A palavra acachapante veio justamente do modo com o guazapo, espécie de coelho em Espanhol, se estende sobre o chão antes de receber a cajadada do caçador. E gloria, de que se formou glorioso/a, veio do Latim, que por sua vez se radica em dois verbos gregos: klýo e kléo, que significam respectivamente entender e celebrar.
Que os ministros perdedores recebam deste modesto escritor e professor os mais sinceros cumprimentos. Seus colegas vencedores mostraram que glostora e gumex são menos maleáveis do que a dura lex.
Chega de vender areia no deserto!
São coisas pequenas. Não acabam com a pobreza, não nos tiram do subdesenvolvimento, não socializam os meios de produção e de comércio, não arrombam a caverna de Ali Babá. Mas talvez desencadeiem a alegria de fazer e a traduzam em atos. E portanto, atuar sobre a realidade e mudá-la, nem que seja um pouco, é a única maneira de provar que a realidade é transformável.

(...) Até quando vamos continuar oferecendo tristeza aos tristes? Até quando vamos seguir vendendo areia no deserto?Eduardo Galeano, O direito à alegria
Século global
Sempre haverá direita e esquerda. O espaço político não pode prescindir de uma geometria. Sempre haverá conservadores e progressistas, o tempo histórico não pode dispensar a tensão dos elos entre o passado e o futuro.
O século XX foi conflagrado por duas narrativas, ambas com a pretensão grandiosa e, ao mesmo tempo, superficial de “resolver” ou “realizar” a História, acabando com essa tensão.
Com a Queda do Muro, uma das narrativas morreu. Uma resistência a esse fato tentou salvar o “socialismo real” contando a história de que este havia acabado por falta das liberdades democráticas, não por irrealismo econômico. A China está aí para demonstrar que não era só isso.

Por um instante, pareceu que a História havia sido “resolvida”, e a narrativa da direita consagrada. “O fim da História”, bom e equivocado livro do Fukuyama, sintetiza essa percepção. Mas o espírito da época, o Zeitgeist, a tudo contamina. Também tivemos o “Fim da Ciência”, de John Horgan, outro bom e equivocado livro segundo o qual a Ciência já teria chegado à essência de tudo o que seria possível saber.
Da mesma forma, quase todos os economistas asseguravam que o mundo jamais veria outra Grande Recessão, agora que conhecíamos as lições de 1929, e as comunicações em tempo real permitiam a sintonia fina dos bancos centrais.
Tudo isso ruiu com o mesmo estrondo da Queda do Muro. Na História, as certezas foram substituídas pela neblina e total ausência de governança global. Na Ciência sabemos hoje que a matéria e a energia que chamamos de escura, por não termos a menor noção do que sejam, constituem mais de 90% da matéria e energia do universo.
Na Biologia, o que chamávamos de DNA lixo (por não sintetizar proteínas), ao invés de ruínas dispensáveis da evolução, são fundamentais para o funcionamento e a regulação do sistema e, ainda por cima, interagem com fatores ambientais. A revolução científica em andamento é tão grandiosa quanto foram a Teoria da Relatividade e a Física Quântica no início do século passado.
E, na economia, a globalização baseada na hipótese de autorregulação dos mercados resultou na Grande Recessão de 2008, na qual estamos todos ainda imersos e sem visibilidade sobre como a dinâmica dos investimentos globais poderá ser recuperada.
A humanidade está sem histórias para contar. Os acontecimentos recentes na direção de populismos de direita (Trump, Brexit etc.) são mais uma resposta de curto prazo, ecoando os perdedores da globalização, do que uma sugestão de preenchimento desse vazio.
É preciso que esquerda e direita se desapeguem do século XX, do territorialismo anacrônico e da autorregulação dos mercados e construam suas narrativas para o século XXI — o século onde a formação da grande rede global da civilização é, simplesmente, inevitável.
Sérgio Besserman Vianna
O século XX foi conflagrado por duas narrativas, ambas com a pretensão grandiosa e, ao mesmo tempo, superficial de “resolver” ou “realizar” a História, acabando com essa tensão.
Com a Queda do Muro, uma das narrativas morreu. Uma resistência a esse fato tentou salvar o “socialismo real” contando a história de que este havia acabado por falta das liberdades democráticas, não por irrealismo econômico. A China está aí para demonstrar que não era só isso.

Da mesma forma, quase todos os economistas asseguravam que o mundo jamais veria outra Grande Recessão, agora que conhecíamos as lições de 1929, e as comunicações em tempo real permitiam a sintonia fina dos bancos centrais.
Tudo isso ruiu com o mesmo estrondo da Queda do Muro. Na História, as certezas foram substituídas pela neblina e total ausência de governança global. Na Ciência sabemos hoje que a matéria e a energia que chamamos de escura, por não termos a menor noção do que sejam, constituem mais de 90% da matéria e energia do universo.
Na Biologia, o que chamávamos de DNA lixo (por não sintetizar proteínas), ao invés de ruínas dispensáveis da evolução, são fundamentais para o funcionamento e a regulação do sistema e, ainda por cima, interagem com fatores ambientais. A revolução científica em andamento é tão grandiosa quanto foram a Teoria da Relatividade e a Física Quântica no início do século passado.
E, na economia, a globalização baseada na hipótese de autorregulação dos mercados resultou na Grande Recessão de 2008, na qual estamos todos ainda imersos e sem visibilidade sobre como a dinâmica dos investimentos globais poderá ser recuperada.
A humanidade está sem histórias para contar. Os acontecimentos recentes na direção de populismos de direita (Trump, Brexit etc.) são mais uma resposta de curto prazo, ecoando os perdedores da globalização, do que uma sugestão de preenchimento desse vazio.
É preciso que esquerda e direita se desapeguem do século XX, do territorialismo anacrônico e da autorregulação dos mercados e construam suas narrativas para o século XXI — o século onde a formação da grande rede global da civilização é, simplesmente, inevitável.
Sérgio Besserman Vianna
Tempo de big band
Glenn Miller e orquestra num medley em "Sun Valley Serenade" (1941)
com Lynn Bari (dublada por Pat Friday) e John Payne
Governo Temer termina com ele ainda no cargo
O governo Temer começou a terminar neste domingo, 11 de dezembro de 2016, quando o presidente da República esboçou sua reação à delação coletiva da Odebrecht. De saída, concluiu que nada justifica a demissão de auxiliares como Eliseu Padilha e Moreira Franco. Não se deu conta de que nada, neste caso, é uma palavra que ultrapassa tudo. De resto, Temer estimulou aliados a questionarem o vazamento de delação ainda não homologada pela Justiça. Ficou entendido que, incapaz de curar a doença, opera para esconder a radiografia.
Temer está diante de uma adversidade que lhe sonega o único papel que desempenhou nos seis meses de sua gestão. Não pode mais culpar a herança de Dilma Rousseff por tudo. O apodrecimento do PMDB é culpa dos políticos que o controlam. Temer preside a legenda há 15 anos. Não demite padilhas e moreiras porque eles não fizeram nada que não estivesse combinado. Não se afasta de renans e jucás porque todos os gatunos ficaram pardos depois que o PMDB virou apenas mais uma organização partidária com fins lucrativos.

Em política, não adianta brigar com o inevitável. Diante de um pé d’água, a primeira coisa a fazer é encontrar um guardachuva. A segunda, é abrir o guardachuva. A terceira, é tentar se molhar o mínimo possível. Alcançado por um temporal, Temer está ensopado. Começou a se molhar quando ainda era vice-presidente. Convidou Marcelo Odebrecht para jantar no Jaburu. Antes que fosse servida a sobremesa, mordeu o comensal em R$ 10 milhões. Ao liberar a grana para os destinatários combinados, o príncipe das empreiteiras transformou o guardachuva de Temer numa armação sem pano.
Na fase de montagem do seu ministério, Temer reuniu os amigos em São Paulo para definir o posto que cada um ocuparia no seu governo provisório. Nesse encontro, firmou-se um entendimento prévio: auxiliares pilhados em escândalos deveriam tomar a iniciativa de se afastar dos respectivos cargos. Participaram da conversa, além de Temer: Romero Jucá, Geddel Vieira Lima. Eliseu Padilha e Moreira Franco. Jucá e Geddel já deixaram a Esplanada. Padilha e Moreira também já caíram, só que Temer finge que não percebeu.
O governo de Micher Temer, tal como o presidente imagina existir, já acabou. Ainda que permaneça no Planalto até 2018, Temer será um presidente coxo. Constrangido e rejeitado, promete reformas e crescimento econômico arrastando as correntes da Odebrecht como um zumbi.
Temer está diante de uma adversidade que lhe sonega o único papel que desempenhou nos seis meses de sua gestão. Não pode mais culpar a herança de Dilma Rousseff por tudo. O apodrecimento do PMDB é culpa dos políticos que o controlam. Temer preside a legenda há 15 anos. Não demite padilhas e moreiras porque eles não fizeram nada que não estivesse combinado. Não se afasta de renans e jucás porque todos os gatunos ficaram pardos depois que o PMDB virou apenas mais uma organização partidária com fins lucrativos.

Na fase de montagem do seu ministério, Temer reuniu os amigos em São Paulo para definir o posto que cada um ocuparia no seu governo provisório. Nesse encontro, firmou-se um entendimento prévio: auxiliares pilhados em escândalos deveriam tomar a iniciativa de se afastar dos respectivos cargos. Participaram da conversa, além de Temer: Romero Jucá, Geddel Vieira Lima. Eliseu Padilha e Moreira Franco. Jucá e Geddel já deixaram a Esplanada. Padilha e Moreira também já caíram, só que Temer finge que não percebeu.
O governo de Micher Temer, tal como o presidente imagina existir, já acabou. Ainda que permaneça no Planalto até 2018, Temer será um presidente coxo. Constrangido e rejeitado, promete reformas e crescimento econômico arrastando as correntes da Odebrecht como um zumbi.
Será que o brasileiro trabalha pouco?
Dias atrás, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu pelo fim do direito dos bancários a descanso remunerado aos sábados, o que levou muitos a se perguntarem: o brasileiro trabalha muito ou pouco? Tira poucas ou muitas férias? A resposta pode ser mais complexa do que parece.
Para traçar uma comparação com o cenário mundial, por exemplo, é necessário levar em conta mais do que apenas os dias efetivos sem trabalhar.
A chave está na produtividade, explica o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Peter Poschen, em entrevista à BBC Brasil.
O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), a riqueza gerada pela nação, está ancorado na capacidade de produção em relação ao tempo. Nesse sentido, é importante compreender o rendimento do brasileiro frente à média mundial.
"O PIB de um país é medido por horas trabalhadas vezes a produtividade por hora, sendo assim, só há duas formas de uma nação ficar mais rica: aumentando a produtividade ou as horas trabalhadas", explica Poschen.
Ele diz acreditar que, em termos de horas trabalhadas, os brasileiros estão dentro da média mundial, chegando muito perto da média da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o "clube" das nações mais ricas.
Em 2014, a média anual brasileira foi de 1711 horas por ano, segundo o escritório de St. Louis do Federal Reserve, o banco central americano, e a da OCDE, de 1763 horas por ano.
"É muito próximo. O Brasil está praticamente no mesmo grupo que Japão, Canadá, Itália e Estados Unidos", afirma Poschen.
Os japoneses trabalharam em média 1729 horas por ano em 2014, os canadenses, 1703, os italianos, 1719, e os americanos, 1.789. A organização não oferece esse dado sobre o Brasil, porque o país não é seu membro.
Aferir se uma população profissional trabalha pouco ou muito depende não somente da quantidade de férias ou folgas remuneradas desfrutadas por ela, mas também do contexto mundial.
"Na Europa, mais de 94% dos países têm mais de 20 dias úteis de férias remuneradas, e, no Brasil, é semelhante a isso", diz Poschen.
O tema gerou polêmica após o Ministério do Trabalho publicar nas redes sociais em outubro um vídeo sobre o assunto e que foi criticado por comparar, com base em dados equivocados, os dias de férias em diversos países.
O diretor da OIT acredita que os dias livres não sejam um bom parâmetro, porque há um desequilíbrio encoberto por outras variáveis, como os direitos específicos de cada categoria. Por exemplo, pilotos precisam de mais horas de descanso do que auxiliares de escritório.
Além disso, calendários de feriados mudam anualmente de país para país, o que oferece uma base de comparação apenas aproximada. Em 2016, o Brasil teve 19 feriados reconhecidos pelo governo.
"O Canadá oferece menos dias úteis de férias remuneradas em comparação com o Brasil, mas, por outro lado, tem uma semana de apenas 40 horas de trabalho, enquanto, no Brasil, são até 44 horas semanais", argumenta Poschen.
"Portanto, se a questão é 'quanto as pessoas trabalham', avaliar apenas as folgas não dá uma resposta."
Para traçar uma comparação com o cenário mundial, por exemplo, é necessário levar em conta mais do que apenas os dias efetivos sem trabalhar.
A chave está na produtividade, explica o diretor do escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil, Peter Poschen, em entrevista à BBC Brasil.
O cálculo do Produto Interno Bruto (PIB), a riqueza gerada pela nação, está ancorado na capacidade de produção em relação ao tempo. Nesse sentido, é importante compreender o rendimento do brasileiro frente à média mundial.
"O PIB de um país é medido por horas trabalhadas vezes a produtividade por hora, sendo assim, só há duas formas de uma nação ficar mais rica: aumentando a produtividade ou as horas trabalhadas", explica Poschen.
Ele diz acreditar que, em termos de horas trabalhadas, os brasileiros estão dentro da média mundial, chegando muito perto da média da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o "clube" das nações mais ricas.
Em 2014, a média anual brasileira foi de 1711 horas por ano, segundo o escritório de St. Louis do Federal Reserve, o banco central americano, e a da OCDE, de 1763 horas por ano.
"É muito próximo. O Brasil está praticamente no mesmo grupo que Japão, Canadá, Itália e Estados Unidos", afirma Poschen.
Os japoneses trabalharam em média 1729 horas por ano em 2014, os canadenses, 1703, os italianos, 1719, e os americanos, 1.789. A organização não oferece esse dado sobre o Brasil, porque o país não é seu membro.
Aferir se uma população profissional trabalha pouco ou muito depende não somente da quantidade de férias ou folgas remuneradas desfrutadas por ela, mas também do contexto mundial.
"Na Europa, mais de 94% dos países têm mais de 20 dias úteis de férias remuneradas, e, no Brasil, é semelhante a isso", diz Poschen.
O tema gerou polêmica após o Ministério do Trabalho publicar nas redes sociais em outubro um vídeo sobre o assunto e que foi criticado por comparar, com base em dados equivocados, os dias de férias em diversos países.
O diretor da OIT acredita que os dias livres não sejam um bom parâmetro, porque há um desequilíbrio encoberto por outras variáveis, como os direitos específicos de cada categoria. Por exemplo, pilotos precisam de mais horas de descanso do que auxiliares de escritório.
Além disso, calendários de feriados mudam anualmente de país para país, o que oferece uma base de comparação apenas aproximada. Em 2016, o Brasil teve 19 feriados reconhecidos pelo governo.
"O Canadá oferece menos dias úteis de férias remuneradas em comparação com o Brasil, mas, por outro lado, tem uma semana de apenas 40 horas de trabalho, enquanto, no Brasil, são até 44 horas semanais", argumenta Poschen.
"Portanto, se a questão é 'quanto as pessoas trabalham', avaliar apenas as folgas não dá uma resposta."
Mãe Joana
 |
| Rainha Joana I das Bíblias de Nápoles |
A Mãe Joana original, nos diz o Google, viveu entre 1326 e 1382. Era rainha de Nápoles e condessa da Provence, para onde foi exilada pela Igreja por levar uma vida desregrada e se meter em conspirações. Ela regulamentou as casas de prostituição da Provence e se hospedava nelas para se refugiar. Em Portugal, “paço da mãe Joana” virou sinônimo de bordel.
No Brasil, onde “paço” era expressão pouco usada, a casa da Mãe Joana voltou a ser casa, e eternizou-se na linguagem como um lugar em que tudo é permitido, ninguém se entende, e a bagunça é geral. Sabe-se pouco sobre o que acontecia na casa da Mãe Joana original. Imagina-se que todos andassem dentro da casa arrastandose contra as paredes para evitar ataques pelas costas, lascivos ou mortais.
Qualquer um podia entrar na casa, desde que assinasse um compromisso de nunca chamar a polícia ou se queixar para as autoridades, não importava o que lhe acontecesse lá dentro, e deixar toda a roupa na entrada. A própria Joana devia comandar os espetáculos que divertiam os visitantes todas as noites:
— Que entrem os anões besuntados!
Ou:
— Soltem o urso tarado!
Guardas ficariam na porta da casa não para evitar que bêbados ou arruaceiros entrassem, mas para atirá-los para dentro. Etc., etc.
O Brasil está uma casa da Mãe Joana, só que menos divertida. Vivemos no clima das delações da Odebrecht, uma tsunami moral que ameaça varrer metade do gabinete do Temer, se não levar o próprio Temer.
Um ministro do Supremo pede o afastamento do presidente do Senado, o Senado se nega a entregar a cabeça do seu presidente, e uma maioria do mesmo Supremo diz que tudo bem — para evitar uma crise institucional que já está aí há anos.
Pode-se imaginar o que a Joana diria de tudo isso:
— Pouca-vergonha!
Na educação, a síntese dos fiascos brasileiros

O fracasso na educação pode ser a síntese de todos os fracassos do Brasil neste começo de século, refletidos na maior recessão em muitas décadas, no baixo potencial de crescimento, na estagnação da produtividade, no escasso poder de competição internacional, no retorno humilhante à armadilha da crise fiscal e na corrupção como componente da rotina política. A ilusão do avanço e a queda na realidade foram marcadas em duas capas famosas da revista The Economist – na primeira, o Cristo Redentor subindo como um foguete, na segunda, despencando de cabeça para baixo. Uma fantasia permanece, no entanto, em alguns discursos políticos e, talvez, na mente das pessoas mais crédulas. Ainda se fala sobre o resgate de dezenas de milhões de pessoas da pobreza.
De fato, milhões ingressaram no mercado de consumo graças a transferências de dinheiro por mecanismo fiscal e à elevação real do salário mínimo por decisão política. Quantos desses pobres, ou ex-pobres, segundo os mais otimistas, se tornaram mais capazes de ganhar a vida no mercado, em condições normais, apenas com suas habilidades e seu esforço? Ninguém respondeu ainda a essa pergunta, mas, além disso, poucos a têm formulado de modo explícito. O Brasil ainda é conhecido por seus indicadores de pobreza e desigualdade, mesmo depois das alardeadas façanhas do populismo e da melhora de alguns números. Mas houve mesmo tanta melhora?
Uma boa pista sobre essa questão foi apresentada há mais de 200 anos, na França, pelo marquês de Condorcet, filósofo, matemático, membro da Assembleia revolucionária e, como tantos outros líderes, vítima da própria Revolução. A instrução, escreveu Condorcet, é “um meio de tornar real a igualdade de direitos”. É inútil, segundo ele, proclamar essa igualdade quando a ignorância mantém um homem na dependência do saber de outros. Por isso, “a instrução pública é um dever da sociedade em relação aos cidadãos”. As ideias do marquês sobre educação aparecem nas suas Cinco Memórias sobre a Instrução Pública, editadas em 1791, e no Relatório sobre a Instrução Pública, lançado no ano seguinte. São propostos programas de acordo com a idade, com o tipo de ocupação procurado e com a vocação científica ou profissional do estudante.
A educação geral inclui uma etapa básica e, em seguida, como objetos de instrução comum, “um curso muito elementar de matemáticas, de história natural e de física, absolutamente dirigido para as partes dessas ciências que podem ser úteis na vida comum”. A esses ensinamentos devem acrescentar-se elementos da Constituição nacional, noções fundamentais de gramática e de metafísica, primeiros princípios de lógica e noções de história e de geografia. O objetivo ultrapassa a formação de competências para a vida produtiva: a ideia é formar cidadãos, pessoas capazes de participar conscientemente da vida social. A ideia da instrução como promotora da igualdade tem um amplo significado.
A mesma preocupação aparece, mais de 200 anos depois, no texto de apresentação do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, conhecido pela sigla Pisa: que conhecimentos e capacidades são importantes para os cidadãos? Essa pergunta abre o relatório do exame aplicado em 2015 a 540 mil estudantes de 72 países, jovens de 15 anos, no final, portanto, da fase de educação obrigatória. Trata-se de saber, segundo o texto, se eles obtiveram os conhecimentos e competências essenciais “à plena participação em sociedades modernas”. Não se trata somente de economias modernas, embora esse ponto seja importantíssimo, mas de sociedades, algo mais amplo.
O teste incluiu, como sempre, questões de ciência, leitura e matemática. Mas neste ano o objetivo principal foi medir a qualificação para o exame de questões científicas e a capacidade de achar soluções para problemas novos. Além disso, os estudantes preencheram questionários sobre sua origem e suas condições de vida.
Os estudantes brasileiros, como sempre, foram muito mal. Conseguiram em ciências 401 pontos, muito abaixo da média geral (493) dos alunos dos países da OCDE, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. O grupo é formado majoritariamente por países desenvolvidos, mas com participação relevante de emergentes, incluídos México e Chile. Em leitura os brasileiros obtiveram 407 pontos. Em matemática, 377. As médias da OCDE nessas disciplinas foram 493 e 490. Acima do Brasil ficaram, entre dezenas de outros, Chile, Bulgária e Costa Rica. Além disso, Colômbia, México e Uruguai gastam menos que o Brasil por aluno e conseguem resultados melhores. O Chile, com despesa média praticamente igual, obteve 477 pontos em ciência. Enquanto isso, o debate brasileiro continua centrado no tamanho do gasto em educação.
Dois meses antes do novo relatório do Pisa, saiu o ranking de competitividade do Fórum Econômico Mundial. O Brasil ficou em 81.º lugar entre 138 países. Foi a pior classificação na lista publicada a partir de 1997. No relatório anterior o País estava na 75.ª posição. A 48.ª colocação, a melhor, havia sido alcançada em 2012. A recessão pode ter afetado as duas últimas notas, mas o declínio começou bem antes. Além disso, o Brasil tem sido regularmente mal classificado em questões estruturais, como tributação, infraestrutura, educação e formação de mão de obra. Houve até um avanço no item “educação superior e treinamento”, mas da 93.ª para a 84.ª posição. Seria um dado animador num conjunto de mil países. Mas são apenas 138.
As más classificações no Pisa e no quadro de competitividade são mais que uma casualidade. Além disso, o Brasil, embora seja uma das dez maiores economias, continua em 25.º entre os exportadores. Todos esses dados se completam e, é claro, remetem a Condorcet. É séria, no Brasil, a conversa sobre igualdade e cidadania?
A morte de Fidel
No dia 1º de janeiro de 1959, ao saber da notícia de que Fulgencio Batista tinha fugido de Cuba, saí com alguns amigos latino-americanos pelas ruas de Paris para comemorar o fato. A vitória de Fidel Castro e dos barbudos do Movimento 26 de Julho contra a ditadura parecia uma ação de justiça absoluta e uma proeza comparável à de Robin Hood. O líder cubano havia prometido uma nova era de liberdade para seu país e para a América Latina, e a transformação dos quartéis em escolas para os filhos dos camponeses cubanos se mostrava como um excelente começo.
Em novembro de 1962 fui a Cuba pela primeira vez, enviado pela Rádio-Televisão Francesa, em plena Crise dos Mísseis. O que vi e ouvi na semana que passei ali – os Sabres norte-americanos sobrevoando o Malecón de Havana e os adolescentes que manejavam os canhões antiaéreos chamados bocachicas [bocas pequenas] apontando-os para o céu, a gigantesca mobilização popular contra a invasão que parecia iminente, o estribilho que os milicianos entoavam em coro nas ruas (“Nikita, mariquita, lo que se da no se quita”) [“Nikita, mariquinhas, o que se dá não se tira”], em protesto contra a devolução dos mísseis – redobrou meu entusiasmo e minha solidariedade com a Revolução. Entrei em uma longa fila para doar sangue, e Hilda Gadea, a primeira mulher de Che Guevara, que era peruana, me apresentou a Haydée Santamaría, que dirigia a Casa de las Américas. Esta me integrou a um Comitê de Escritores, com o qual me reuni cinco vezes na capital cubana na década de sessenta. Ao longo desses dez anos, meu entusiasmo por Fidel e pela Revolução foi se enfraquecendo, até se transformar em críticas abertas e, depois, em uma ruptura definitiva, por ocasião do caso Padilla.
Minha primeira decepção e as primeiras dúvidas (“Será que não me enganei?”) aconteceram em meados dos anos sessenta, quando foram criadas as UMAPs –Unidades Militares de Ajuda à Produção –, um eufemismo para aquilo que eram, na verdade, campos de concentração onde o Governo cubano prendeu, misturados, dissidentes, criminosos comuns e homossexuais. Entre estes últimos estavam vários rapazes e moças de um grupo literário e artístico chamado El Puente [a ponte], dirigido pelo poeta José Mario, que eu conhecia. Era uma visível injustiça, pois aqueles jovens eram todos revolucionários, confiando em que a Revolução traria justiça social não só para os operários e camponeses, mas também para as minorias sexuais discriminadas. Ainda vítima da famosa chantagem – “Não dar armas ao inimigo” –, engoli as minhas dúvidas e escrevi uma carta reservada a Fidel, detalhando minha perplexidade em relação ao que estava acontecendo. Ele não respondeu, mas, pouco tempo depois, recebi um convite para um encontro com ele.
Foi a única vez em que estive com Fidel Castro; não conversamos, pois ele não era uma pessoa que admitia interlocutores, apenas ouvintes. Mas durante as 12 horas em que o escutamos, das oito da noite às oito da manhã seguinte, os 10 escritores que participaram do encontro ficamos muito impressionados com aquela força da natureza, aquele mito vivo, que era o gigante cubano. Falava sem parar e sem ouvir, contava casos da serra Maestra saltando sobre a mesa e fazia adivinhações sobre Che, que ainda estava desaparecido e não se sabia em qual lugar da América reapareceria à frente de uma nova guerrilha. Reconheceu que algumas injustiças tinham sido cometidas nas UMAPs – disse que seriam corrigidas – e explicou que era preciso compreender as famílias de camponeses, cujos filhos, formados pelas novas escolas, se sentiam às vezes incomodados com os “doentinhos”. Fiquei impressionado, sim, mas não saí dali convencido. Desde então, embora em silêncio, fui percebendo que a realidade era bem inferior ao mito em que Cuba tinha se transformado.
A ruptura sobreveio quando estourou o caso do poeta Heberto Padilla, no começo de 1970. Era um dos melhores poetas cubanos, que largara a poesia para trabalhar pela Revolução, na qual acreditava apaixonadamente. Chegou a ser vice-ministro de Comércio Exterior. Um dia, começou a fazer críticas –bastante amenas – à política cultural do Governo. A partir daí se desencadeou em toda a imprensa uma campanha duríssima contra ele, e Padilla foi preso. Nós, que o conhecíamos e sabíamos de sua lealdade para com a Revolução, escrevemos uma carta – muito respeitosa – a Fidel expressando solidariedade com Padilla. Então, este reapareceu em um ato público, na União dos Escritores, confessando que era agente da CIA e acusando-nos, a nós, que o havíamos defendido, de atuar em favor do imperialismo e de trair a Revolução etc.. Poucos dias depois, assinamos uma carta muito crítica (que eu mesmo redigi) sobre a Revolução Cubana, por meio da qual vários escritores não comunistas, como Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Carlos Fuentes e Alberto Moravia, nos distanciávamos da Revolução que até então tínhamos defendido.
Esse foi um pequeno episódio na história da Revolução Cubana, mas que, para muitas pessoas, como eu, teve um grande significado. A revalorização da cultura democrática, a ideia de que as instituições são mais importantes do que as pessoas para que uma sociedade seja livre, de que sem eleições, sem jornalismo independente e sem direitos humanos é a ditadura que se impõe e vai transformando os cidadãos em robôs, eternizando-se no poder até tomar conta de tudo, afundando no desânimo e asfixiando aqueles que não fazem parte da privilegiada nomenclatura.
Cuba estaria melhor agora, depois dos 57 anos em que Fidel esteve no poder? É um país mais pobre do que a terrível sociedade da qual Batista fugiu naquele 31 de dezembro de 1958, e tem o triste privilégio de ser a ditadura mais longa de que já padeceu o continente americano. Os avanços nos campos da educação e da saúde podem ser verdadeiros, mas não devem ter convencido o povo cubano de uma forma geral, pois a aspiração da imensa maioria da população é fugir para os Estados Unidos, mesmo que para isso tenha de enfrentar tubarões. E o sonho da nomenclatura, agora que já não pode mais viver das benesses da falida Venezuela, é que chegue o dinheiro dos Estados Unidos para salvar a ilha da ruína econômica em que se debate. Já faz tempo que a Revolução deixou de ser o modelo que foi no seu início. De tudo aquilo, resta apenas o doloroso saldo dos milhares de jovens que se entregaram à morte em todas as montanhas da América tentando repetir o feito dos barbudos do Movimento 26 de Julho. Para que serviram tanto sonho e tanto sacrifício? Para reforçar as ditaduras militares e retardar em várias décadas a modernização e a democratização da América Latina.
Ao optar pelo modelo soviético, Fidel Castro garantiu para si o poder absoluto por mais de meio século; mas deixa agora um país em ruínas e um fracasso social, econômico e cultural que parece ter vacinado contra as utopias sociais uma maioria de latino-americanos que, finalmente, após sangrentas revoluções e repressões ferozes, parece estar entendendo que o único progresso verdadeiro é aquele que faz avançar a liberdade ao mesmo tempo que a justiça, pois sem a primeira esta última não passa de um fugaz fogo-fátuo.
Embora esteja convencido de que a história não irá absolver Fidel Castro, não deixo de sentir que junto com ele se vai um sonho que embalou a minha juventude, bem como a de tantos jovens da minha geração, impacientes e impetuosos, que acreditávamos que os fuzis podiam nos levar a queimar etapas e fazer o céu descer mais rápido até se confundir com a terra. Hoje sabemos que isso só acontece nos sonhos e nas fantasias da literatura, e que na vida real, mais áspera e mais crua, o progresso verdadeiro resulta do esforço em comum e deve ser sempre guiado pelo avanço da liberdade e dos direitos humanos, sem os quais não é o paraíso e sim o inferno que se instala neste mundo em que nos coube viver.
Mario Vargas Llosa
Em novembro de 1962 fui a Cuba pela primeira vez, enviado pela Rádio-Televisão Francesa, em plena Crise dos Mísseis. O que vi e ouvi na semana que passei ali – os Sabres norte-americanos sobrevoando o Malecón de Havana e os adolescentes que manejavam os canhões antiaéreos chamados bocachicas [bocas pequenas] apontando-os para o céu, a gigantesca mobilização popular contra a invasão que parecia iminente, o estribilho que os milicianos entoavam em coro nas ruas (“Nikita, mariquita, lo que se da no se quita”) [“Nikita, mariquinhas, o que se dá não se tira”], em protesto contra a devolução dos mísseis – redobrou meu entusiasmo e minha solidariedade com a Revolução. Entrei em uma longa fila para doar sangue, e Hilda Gadea, a primeira mulher de Che Guevara, que era peruana, me apresentou a Haydée Santamaría, que dirigia a Casa de las Américas. Esta me integrou a um Comitê de Escritores, com o qual me reuni cinco vezes na capital cubana na década de sessenta. Ao longo desses dez anos, meu entusiasmo por Fidel e pela Revolução foi se enfraquecendo, até se transformar em críticas abertas e, depois, em uma ruptura definitiva, por ocasião do caso Padilla.
Minha primeira decepção e as primeiras dúvidas (“Será que não me enganei?”) aconteceram em meados dos anos sessenta, quando foram criadas as UMAPs –Unidades Militares de Ajuda à Produção –, um eufemismo para aquilo que eram, na verdade, campos de concentração onde o Governo cubano prendeu, misturados, dissidentes, criminosos comuns e homossexuais. Entre estes últimos estavam vários rapazes e moças de um grupo literário e artístico chamado El Puente [a ponte], dirigido pelo poeta José Mario, que eu conhecia. Era uma visível injustiça, pois aqueles jovens eram todos revolucionários, confiando em que a Revolução traria justiça social não só para os operários e camponeses, mas também para as minorias sexuais discriminadas. Ainda vítima da famosa chantagem – “Não dar armas ao inimigo” –, engoli as minhas dúvidas e escrevi uma carta reservada a Fidel, detalhando minha perplexidade em relação ao que estava acontecendo. Ele não respondeu, mas, pouco tempo depois, recebi um convite para um encontro com ele.
Foi a única vez em que estive com Fidel Castro; não conversamos, pois ele não era uma pessoa que admitia interlocutores, apenas ouvintes. Mas durante as 12 horas em que o escutamos, das oito da noite às oito da manhã seguinte, os 10 escritores que participaram do encontro ficamos muito impressionados com aquela força da natureza, aquele mito vivo, que era o gigante cubano. Falava sem parar e sem ouvir, contava casos da serra Maestra saltando sobre a mesa e fazia adivinhações sobre Che, que ainda estava desaparecido e não se sabia em qual lugar da América reapareceria à frente de uma nova guerrilha. Reconheceu que algumas injustiças tinham sido cometidas nas UMAPs – disse que seriam corrigidas – e explicou que era preciso compreender as famílias de camponeses, cujos filhos, formados pelas novas escolas, se sentiam às vezes incomodados com os “doentinhos”. Fiquei impressionado, sim, mas não saí dali convencido. Desde então, embora em silêncio, fui percebendo que a realidade era bem inferior ao mito em que Cuba tinha se transformado.
A ruptura sobreveio quando estourou o caso do poeta Heberto Padilla, no começo de 1970. Era um dos melhores poetas cubanos, que largara a poesia para trabalhar pela Revolução, na qual acreditava apaixonadamente. Chegou a ser vice-ministro de Comércio Exterior. Um dia, começou a fazer críticas –bastante amenas – à política cultural do Governo. A partir daí se desencadeou em toda a imprensa uma campanha duríssima contra ele, e Padilla foi preso. Nós, que o conhecíamos e sabíamos de sua lealdade para com a Revolução, escrevemos uma carta – muito respeitosa – a Fidel expressando solidariedade com Padilla. Então, este reapareceu em um ato público, na União dos Escritores, confessando que era agente da CIA e acusando-nos, a nós, que o havíamos defendido, de atuar em favor do imperialismo e de trair a Revolução etc.. Poucos dias depois, assinamos uma carta muito crítica (que eu mesmo redigi) sobre a Revolução Cubana, por meio da qual vários escritores não comunistas, como Jean-Paul Sartre, Susan Sontag, Carlos Fuentes e Alberto Moravia, nos distanciávamos da Revolução que até então tínhamos defendido.
Esse foi um pequeno episódio na história da Revolução Cubana, mas que, para muitas pessoas, como eu, teve um grande significado. A revalorização da cultura democrática, a ideia de que as instituições são mais importantes do que as pessoas para que uma sociedade seja livre, de que sem eleições, sem jornalismo independente e sem direitos humanos é a ditadura que se impõe e vai transformando os cidadãos em robôs, eternizando-se no poder até tomar conta de tudo, afundando no desânimo e asfixiando aqueles que não fazem parte da privilegiada nomenclatura.
Cuba estaria melhor agora, depois dos 57 anos em que Fidel esteve no poder? É um país mais pobre do que a terrível sociedade da qual Batista fugiu naquele 31 de dezembro de 1958, e tem o triste privilégio de ser a ditadura mais longa de que já padeceu o continente americano. Os avanços nos campos da educação e da saúde podem ser verdadeiros, mas não devem ter convencido o povo cubano de uma forma geral, pois a aspiração da imensa maioria da população é fugir para os Estados Unidos, mesmo que para isso tenha de enfrentar tubarões. E o sonho da nomenclatura, agora que já não pode mais viver das benesses da falida Venezuela, é que chegue o dinheiro dos Estados Unidos para salvar a ilha da ruína econômica em que se debate. Já faz tempo que a Revolução deixou de ser o modelo que foi no seu início. De tudo aquilo, resta apenas o doloroso saldo dos milhares de jovens que se entregaram à morte em todas as montanhas da América tentando repetir o feito dos barbudos do Movimento 26 de Julho. Para que serviram tanto sonho e tanto sacrifício? Para reforçar as ditaduras militares e retardar em várias décadas a modernização e a democratização da América Latina.
Ao optar pelo modelo soviético, Fidel Castro garantiu para si o poder absoluto por mais de meio século; mas deixa agora um país em ruínas e um fracasso social, econômico e cultural que parece ter vacinado contra as utopias sociais uma maioria de latino-americanos que, finalmente, após sangrentas revoluções e repressões ferozes, parece estar entendendo que o único progresso verdadeiro é aquele que faz avançar a liberdade ao mesmo tempo que a justiça, pois sem a primeira esta última não passa de um fugaz fogo-fátuo.
Embora esteja convencido de que a história não irá absolver Fidel Castro, não deixo de sentir que junto com ele se vai um sonho que embalou a minha juventude, bem como a de tantos jovens da minha geração, impacientes e impetuosos, que acreditávamos que os fuzis podiam nos levar a queimar etapas e fazer o céu descer mais rápido até se confundir com a terra. Hoje sabemos que isso só acontece nos sonhos e nas fantasias da literatura, e que na vida real, mais áspera e mais crua, o progresso verdadeiro resulta do esforço em comum e deve ser sempre guiado pelo avanço da liberdade e dos direitos humanos, sem os quais não é o paraíso e sim o inferno que se instala neste mundo em que nos coube viver.
Mario Vargas Llosa
Do triunfo da corrupção ao primado do caos
A primeira lista da Odebrecht dá vontade de declarar que o Brasil merece acabar. Começar de novo, porque assim não dá para continuar. Fica difícil saber quem escapará, quando a relação tiver sido totalmente divulgada. Do governo Temer, escapam poucos. No Congresso, identifica-se quem não foi relacionado. Nem o presidente da República escapou.
Novas eleições gerais resolveriam? Nem pensar. Sequer teria jeito se todo cidadão ficasse proibido de candidatar-se. Uns menos, outros mais, a conclusão é de que poucos políticos merecem respeito. Empresários também.

Aumenta o número de brasileiros (e estrangeiros) ávidos de cair fora das acusações de corrupção. O pior é que não há sociedade organizada capaz de interromper o processo da desilusão generalizada. Nem os militares, nem os religiosos, muito menos os empresários, sequer os professores e os partidos dispõem de vontade e de mecanismos para dar o primeiro passo no rumo da interrupção do festival de bandalheiras celebradas à vista de todos. No entanto, mais do que esperar, teme-se uma reação popular, ainda que a consequência possa ser o caos.
Novas eleições gerais resolveriam? Nem pensar. Sequer teria jeito se todo cidadão ficasse proibido de candidatar-se. Uns menos, outros mais, a conclusão é de que poucos políticos merecem respeito. Empresários também.

Nivelou-se por baixo a prática de se levar vantagem em tudo. O crime assume proporções variadas, com o triunfo da corrupção de diversos matizes.
Não há que desanimar, apesar da tendência. Por que imaginar que um só dos 12 milhões de desempregados resistirá à tentação de seguir o exemplo daquele que o desempregou? A dissolução dos costumes é corolário da permissividade das elites. E a desagregação institucional, o resultado final. Não demora, antes até de conhecida última lista da Odebrecht, o país viverá o primado do caos.
Não há que desanimar, apesar da tendência. Por que imaginar que um só dos 12 milhões de desempregados resistirá à tentação de seguir o exemplo daquele que o desempregou? A dissolução dos costumes é corolário da permissividade das elites. E a desagregação institucional, o resultado final. Não demora, antes até de conhecida última lista da Odebrecht, o país viverá o primado do caos.
Assinar:
Comentários (Atom)