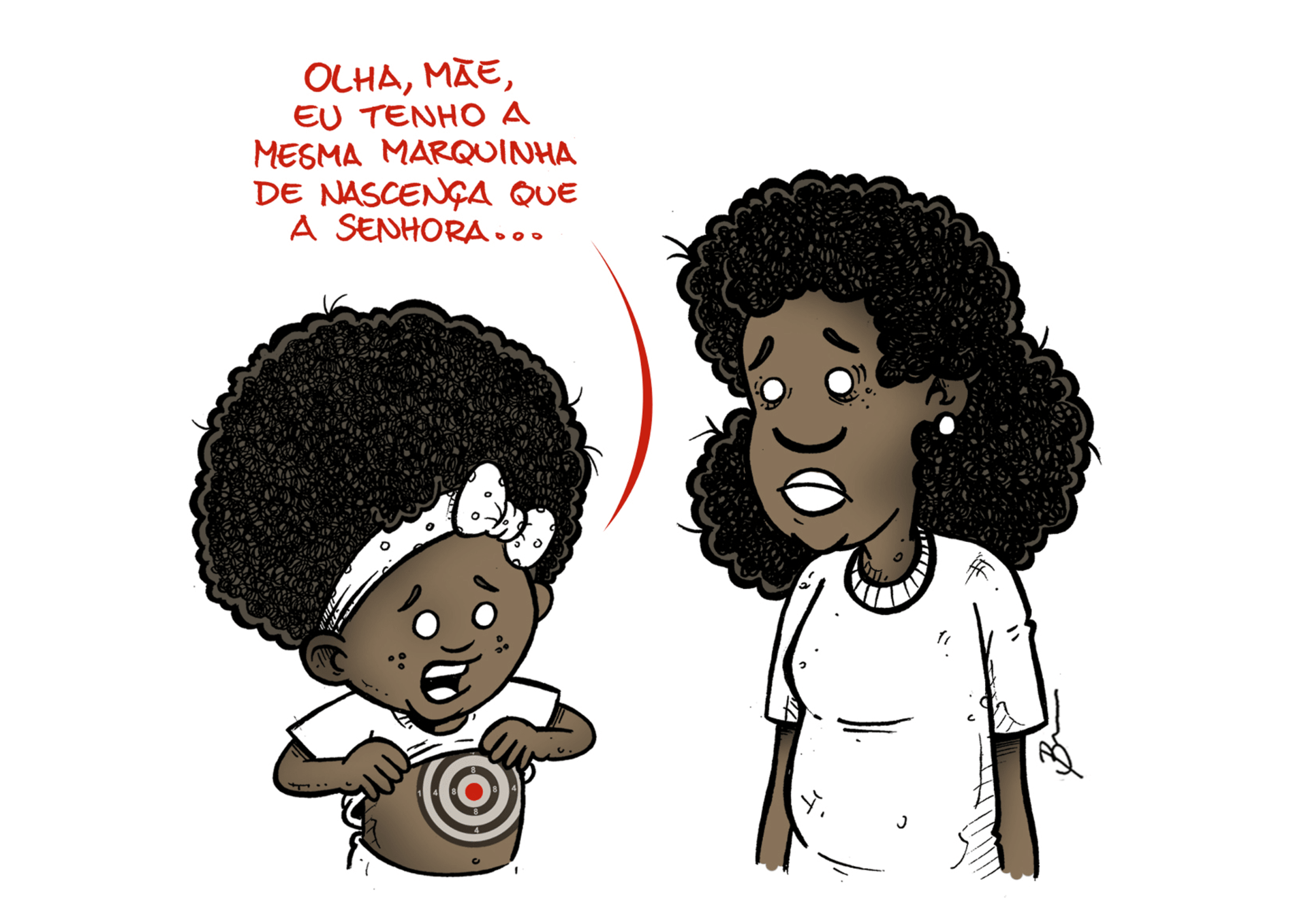1. Deixar-se toldar pela húbris. Vem de longe, pelo menos desde a Antiguidade, a ideia de que o poder vicia e corrompe até a mais bem-intencionada das almas. Já os romanos o sabiam com clareza, quando estipularam que, durante os desfiles de triunfo perante o povo, após uma batalha, os generais vitoriosos deviam ter um escravo ao lado para lhes sussurrar ao ouvido as palavras “memento mori”. Este “lembra-te de que és mortal”, repetido por várias vezes numa caminhada de glória, deveria fazê-los descer à terra e desinsuflar a sensação de superioridade e a arrogância que vem com ela. Não funcionou com Júlio César, mas a ideia era boa.
Foram os gregos que inventaram o conceito de húbris, que representa a insolência dos poderosos e que, segundo a mitologia, afrontava os deuses e acabava sempre em tragédia. Seriam precisos vários séculos até que a húbris fosse cunhada de síndrome, um transtorno de personalidade associado aos cargos de poder. São traços desta síndrome de que padecem muitos políticos que se prolongam no poder, a autoconfiança excessiva que se confunde com uma sensação de omnipotência, a perda de contacto com a realidade e a incompetência, que se traduz em desfechos negativos desvalorizados e causados por este distanciamento.
Se a política precisa de carisma e de autoconfiança, a húbris é fatal. Mais tarde ou mais cedo, o poder que sobe à cabeça traz péssimos resultados.
2. Tomar os eleitores por parvos. Eis um erro comum de muitos responsáveis políticos: desvalorizar a capacidade de compreensão e de análise dos eleitores, acreditando na ideia de que estes não percecionam o que está a correr mal, porque se concentram nas suas “pequenas” vidas. A economia importa, é um facto, e no topo das preocupações dos cidadãos está sempre a sua situação financeira. Já Maquiavel dizia que “os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do património”. Mas, se uma situação pessoal pior se arrasta ou se agrava, é preciso encontrar um “culpado” – e a culpa recai facilmente em quem está no poder. Não há tolerância com o erro que sempre dure, sobretudo se as pessoas andarem infelizes e os bolsos estiverem mais vazios.
3. Relacionado com este erro está outro: manter uma relação difícil com a verdade. Há quem diga que a política é a arte de mentir de propósito. Não pode ser. Só há uma verdade, não várias. Só existe uma história rigorosa, não uma amálgama de versões moldáveis a bel-prazer. Os eleitores, lá está, não são parvos e gostam pouco de ser claramente enganados. Uma mentira continua a ser fatal para a credibilidade de um político.
4. Acreditar piamente nas sondagens. Eis um erro de palmatória, como se viu, aliás, nas eleições legislativas passadas. As sondagens, cujo tratamento jornalístico é muitas vezes enganador e superficial, não são profecias que se autoalimentam. Muita coisa pode influenciar negativamente a captação da perceção e das intenções de voto dos eleitores. Desde logo, as sondagens podem ser malfeitas, tendenciosas nas questões e subjetivas no tratamento. Por outro lado, elas têm efeitos dinâmicos sobre a realidade e acabam, muitas vezes, por condicionar desfechos diferentes dos que previam. Quanto maior o número de indecisos, mais perigoso é fazer previsões, até porque o eleitor puramente racional é um mito.
5. Pensar que não há alternativa. Eis um dos erros mais comuns em lugares de poder, seja na política seja nas empresas: achar-se insubstituível. Acredita-se na inércia das pessoas, na sua humana aversão ao risco, e desvaloriza-se assim o adversário ou o concorrente. Só que, perante a necessidade, as alternativas constroem-se. Em democracia, há sempre saídas e soluções. Estas podem, é um facto, ser piores do que as que existem, mas isso os eleitores só descobrem quando o mal está feito.