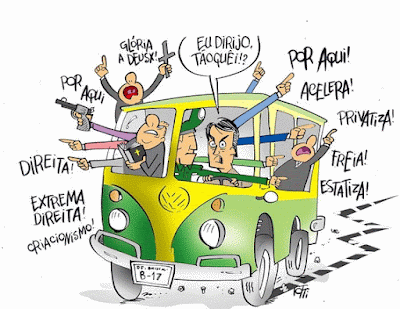Não deve ser uma casualidade que os ditadores e tiranos adorem falar de “povo”. No Brasil, o presidente Jair Bolsonaro sempre se refere ao povo. Dias atrás, disse a seus seguidores que está “aguardando o povo dar uma sinalização” para tomar decisões.
Quem é esse povo ao qual os ditadores sempre se referem? Em suas bocas, “povo” soa como um rebanho que segue fielmente as ordens do déspota. É a massa que obedece às cegas as ordens do tirano de plantão que a hipnotiza para torná-la objeto passivo de seus caprichos.
Para eles, o povo é formado pelos mais incultos, pelos mais pobres, pelos que ficam sempre à margem das pessoas que detêm o poder e decidem o que é melhor para eles. Eles não precisam pensar. O tirano pensa por eles.
Para os regimes autoritários, da qualquer cor política, basta oferecer miragens ao povo. O povo não tem direitos. Deve apenas seguir as ordens do dono do rebanho.
A diferença entre democracia e ditadura é que para a primeira existe a sociedade —plural, crítica, criativa, pensante— e, para a segunda, existem apenas as massas que esperam ordens do pai patrão que pensa e decide por elas.
A civilização é criada com o diálogo, a crítica e a polêmica.
A sociedade é construída com liberdade para criar e decidir em conjunto. A civilização supõe um confronto de ideias para chegar às melhores soluções na tentativa de oferecer oportunidades para todos. As pessoas têm sua individualidade, cada uma é diferente e tem o direito de discordar e dialogar. Uma civilização respeita e defende as diferenças. As tiranias anestesiam as massas. A civilização se enriquece com a dissensão e o pluralismo de ideias.
Nunca gostei do grito de “o povo unido jamais será vencido”. A verdade é que esse povo do qual os ditadores tanto gostam acaba sempre derrotado, mesmo quando tem a ilusão de ter vencido. Acaba sempre dominado e nos braços de outra ideologia.
O povo do qual os autoritários gostam é aquele ao qual nunca ofereceram igualdade de oportunidades para avançar na vida. Por isso, nos regimes sem democracia, com desigualdades sociais cruéis, seus líderes idolatram o povo, que para eles é mais fácil dominar e enganar.
Não por acaso, os regimes totalitários são os que menos valorizam a educação e a cultura, os pilares que nos permitem ter nossa própria visão do mundo.
É mais fácil escravizar os incultos, os que não são capazes de interpretar o mundo e de fazer escolhas, porque eles já recebem o prato pronto, sem que possam escolher a comida. Não é isso que fazemos com os animais?
O que diferencia as pessoas é se elas nascem em um país no qual todas têm as mesmas oportunidades de avançar na vida ou no qual os dirigentes é que decidem quem terá direito à cultura e ao pensamento e quem deverá se contentar com as sobras dos privilegiados. Nos países onde não se oferece igualdade de oportunidades é que se formam a massa que não precisa pensar, as elites decidem por ela.
A escravidão existe desde o início da humanidade. Sempre foi negado aos escravos o direito ao estudo. Aqui no Brasil, até não muito tempo atrás, era normal que a escola fosse só para os filhos dos ricos. Os pobres, dizia-se, “devem trabalhar, como seus pais sempre fizeram”. Quando a escravidão foi abolida, não foi oferecida aos libertos a possibilidade de se culturalizar. Não por acaso, o que os políticos chamam de povo nada mais são do que os herdeiros da escravidão, aos quais se ensina a virtude da obediência, nunca a liberdade de pensamento e de decisão.
A linguagem nunca é inocente e costuma estar repleta de significados muito diferentes.
Desconfie sempre de quem enche a boca falando de povo, porque já foi impregnado pelas ideologias intolerantes e escravistas. As ovelhas não recebem nome e sobrenome. E é significativo que os pobres e sem cultura não costumem ser chamados por seus nomes próprios por seus “donos”, e sim por apelidos. É que não são vistos como pessoas. São povo, massa, gado. Será que também não têm alma?
As elites costumam dizer: “Chame minha secretária, meu cozinheiro, minha empregada, meu motorista”. O povo não tem nome próprio. Mas até nossos animais de estimação são chamados pelo nome.
As palavras carregam em seu ventre o significado que vamos dando a elas.
Hoje, liberdade, direitos, respeito às diferenças, construção conjunta de uma civilização de diálogo sem donos nem senhores de ninguém, sem ódios nem divergências sangrentas, tudo isso é o que chamamos de democracia. Todo o resto é fascismo.
Escrevo esta coluna neste 25 de abril, aniversário da Revolução dos Cravos de Portugal. Por esse motivo, uma poeta brasileira escreveu no Facebook:
Morte aos déspotas de todos os tempos.
Para os que já morreram,
que morram suas ideias.
Que suas armas
se transformem
em livros e flores.
Que um dia cada vida possa viver
a sua própria arquitetura de sonhos,
talentos.
Que o pão se multiplique,
que o amor seja o pão.