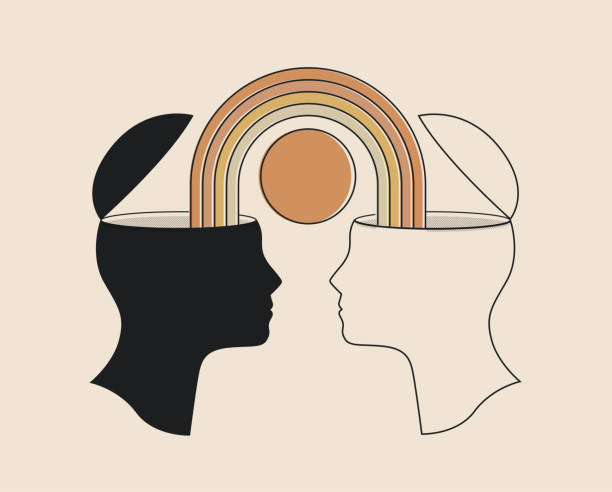O céu está por cima da nossa cabeça, agora quase todo cinzento, com laivos de azul esmagados sob o peso das nuvens do outono, e um ventinho agudo e cortante, que regressa por esta altura, como todos os anos. Mudar de estação é um recomeço com sabor a passado. Andamos para a frente, voltando para trás. A mim, outubro lembra-me o cheiro da madeira dos lápis no estojo, a mochila às costas, a borracha a esfarelar-se sobre os erros que se apagam e uma página com um desenho de um cacho de uvas roxas no livro da escola. O mundo começa todos os dias, mas nunca do zero.
Da primeira vez que levei a minha filha mais velha à praia, tive a ilusão de poder descrever-lhe o mundo como se ele não tivesse existido antes dela. Esta é a areia e esta é uma concha. E ali está o mar, que cabe dentro deste búzio. O azul que te cega é salgado. O chão que pisas escorrega-te pelos dedos. E os gritos que te embalam são das gaivotas, que sempre aqui estiveram, mas parecem hoje novas como nunca. Tudo parece novo e diferente, porque estamos a vê-lo pela primeira vez, como se nunca antes ninguém o tivesse visto.

Mas a invenção do mundo faz-se por camadas. “As pessoas que vêm de África cozinham melhor do que as outras?”, perguntou-me certo dia o meu filho mais novo enquanto deambulávamos pela cidade. Franzi o rosto. Não percebi a pergunta. “É porque são sempre as pessoas mais escuras que trabalham nas cozinhas.” Fiquei com a pergunta a remoer na cabeça. E a única coisa que consegui dizer é que a cor da pele não nos diz em que país alguém nasceu e que África nem sequer é um país, mas um continente grande, cheio de gentes diferentes e países com as suas histórias de reis, exércitos e cidades.
Quase um ano depois, a mesma inquietação surge com outra pergunta. “Porque é que as pessoas morenas trabalham mais nas limpezas?” E a resposta que andei a cozinhar já me sai mais completa, mas não é fácil de contar. A desigualdade é uma coisa que só parece óbvia quando caímos no conto de fadas que nos diz que ela é tão natural e antiga como o céu que está sobre as nossas cabeças. Mas não é. A desigualdade é difícil de contar porque ela é muito antiga, sim, tem raízes com milhares de anos, mas não nasceu com o início do mundo. E arrancá-la da terra pode mesmo ser a única forma de evitar o fim do mundo.
Ensaiei, como pude, uma explicação que os meus filhos pudessem entender. Sem dourar o que é sombra. Mas voltando à ideia de que a única vez que nascemos iguais já foi há milhares de anos. Depois disso, cada um de nós foi nascendo num mundo antigo, herdando tudo o que já cá estava. E sabendo, enquanto o dizia, que dizê-lo não pode nem deve impedir-nos de querer inventar o mundo. O barro com que trabalhamos é duro, mas não deve faltar-nos nunca a coragem, a imaginação e até a alegria para o moldarmos.
Comecei, então, a contar. Houve um tempo em que os mais fortes decidiram explorar os mais fracos. Houve um tempo em que se decidiu que os tons da pele podiam ser uma escala de ser humano. Quanto mais escuros, menos humanos, para que pudéssemos explorá-los como se arrancam pedras das minas ou se colhem frutos das árvores. Para que parecesse natural o que nunca o foi. Marcaram-se assim, na pele, os fortes que tudo podem e os fracos que nada têm.
Quem chegou ao mundo muitos séculos depois da invenção da raça já nasce marcado por ela. Não só pela cor que lhe cobre a pele, mas pela pobreza que recebeu de herança. Não há nada que dite tanto a sorte de alguém como o berço em que nasceu. Contam-nos histórias de heróis, que cabem nos dedos das mãos, para deixar na sombra os milhões que nunca deixarão de ser pobres pelo simples facto de que foi assim que nasceram.
O esforço não conta nada? Conta alguma coisa. Mas é muito diferente correr com um menir às costas ou de braços vazios. Começa-se sem os alimentos que nos tornam mais saudáveis e fortes, sem as brincadeiras que nos estimulam, sem o tempo para que nos cuidem e ganhemos o sentido de sermos alguém que merece. Depois vem a importância de sobreviver, de nos fazermos à vida para ter o que comer. Não há o luxo dos livros, das viagens e dos museus. E a vida transforma-se numa corrida de obstáculos, em que alguns nascem com asas e outros com pernas curtas.
Explico muitas vezes aos meus filhos que os pobres são, quase sempre, os que mais trabalham. Só que vivem na mentira de que o trabalho que fazem não vale nada e são ensinados a odiar quem tem menos. O desempregado que passa o dia no café irrita-os mais do que o bem-nascido que vive das rendas das casas herdadas. É que esse é aquele que eles queriam ser. No fundo, sabem que vale mais esse privilégio de berço do que as migalhas dos subsídios. Mas não o dizem em voz alta, com medo que pareça inveja.
Os malfadados subsídios foram muitas vezes a forma de repor alguma justiça, entre os que já nascem com prédios e contas no banco e os que só nascem com fome. Foram também uma forma de colar a cuspo uma certa paz, adormecendo estômagos famintos com algumas côdeas, para lhes entorpecer a raiva. Mas enganar a fome não é o mesmo que matá-la. E é aí que têm razão aqueles que se inflamam contra os subsídios, que tentam mascarar a desigualdade em vez de a abalar verdadeiramente.
A fome só se mata com a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Sim, lá vem outra vez essa velha cantiga. Hei de cantá-la até enrouquecer. Porque é por isso que anseiam os que lutam pela liberdade, mas também muitos dos que agora a veem como sua inimiga. É nas falhas desse muro que nascem as ervas daninhas, bem regadas por aqueles a quem interessa ver ruir tudo. Para que tudo volte a ser aquilo que se inventou há milhares de anos. Teremos de as arrancar com os dedos e de plantar no seu lugar as sementes do amor e da igualdade.
Quando emigrei para Lisboa, em 2019, tornei-me Outra pela primeira vez. O processo de tornar-se Outro é, por si só, dramático. Já havia começado meu letramento racial no Brasil há alguns anos, com alguma consciência mais formal por volta de 2014, mas, em Portugal, a branquitude se movimentou dentro e fora de mim com dinâmicas que me ultrapassavam em termos teóricopráticos.
O privilégio branco de poder escolher tornar-se o Outro traz também a responsabilidade que implica em mecanismos e dinâmicas que, parafraseando Audre Lorde, lucram com opressões de outras partes de nossas identidades — mulher, latina, etc.
Como todo processo, há, na consciência racial somada à migração, movimentos, descobertas, retrocessos, desvios — é contraditório, humano e vivo. Mas algo me parece deslocado quando, no coletivo da nossa bolha, a branquitude intelectual brasileira de esquerda que emigrou nos últimos anos parece ter um prazer curioso em se colocar como alvo principal da violência xenófoba
Não podemos rir dos bolsonaristas em Portugal que parecem gostar do país justamente pelos avanços de bem-estar social que são frutos de políticas de esquerda — e/ou parecem não perceber que também são imigrantes. Não percebermos nós a incongruência quando, por exemplo, dizemos lutar pelos direitos reparativos da memória colonial, mas não olhamos a nossa própria ascendência também colonial.
%20-%20Privilege.jpg?itok=vsqHAXz7)
Há que se “devolver o ouro”. Mas não a nós.
Somos todos brasileiros e carregamos as violências da construção (e preservação) nacional dentro de nossa identidade, passado e presente individuais e coletivos. Entretanto, como bem sabemos pela experiência cotidiana no nosso país de origem, o racismo não tem ponderações no momento de operar. O fenótipo é a sentença.
Eu, enquanto brasileira branca de cara, de classe média independente dos 10 euros na conta, se estiver quieta pelas ruas de Lisboa, serei bem tratada até abrir a boca. Uma pessoa brasileira dos muitos outros brasis que compõem o nosso país, provavelmente, terá outro tratamento desde o começo.
Isso, para restringir a discussão aos brasis que vivem aqui, sem entrar em outras migrações e/ou diásporas. E deixamos para outro texto as lutas seculares dos movimentos negros portugueses.
Nós não deixamos de ser brancos por sermos latinos na Europa. Nós não deixamos de reproduzir a estrutura por termos nos deslocado dela.
Não dá para falar sobre xenofobia sem falar de racismo, capitalismo e suas dinâmicas. Obviamente, dentro dos nossos lugares de fala — e, “se branco só escuta branco” —, já passou da hora de nós, aqueles que se interessam pelo assunto — e não só —, termos essa conversa de forma honesta e não condescendente.
Maria Pinheiro
“Quando perdi minha perna, fiquei muito triste. Saí do hospital e passei o dia na loja. Não queria fazer nada, não queria ver ninguém. E então, quando precisei voltar para o hospital, percebi no caminho e no hospital que agora a maioria das pessoas em Gaza é como eu. Quase todo mundo perdeu uma perna ou um braço. Então está tudo bem.” A história do menino cuja perna (e muito mais) foi roubada pela guerra foi contada pela psicóloga Letícia Furlan, da organização Médicos Sem Fronteiras, no Museu das Memórias (In)Possíveis, uma instituição que acolhe as histórias daqueles que não têm lugar. Era 11 de outubro, um dia após o cessar-fogo de Israel sob o “acordo de paz” imposto por Donald Trump. Os palestinos tiveram que engolir um acordo que, mais uma vez, os humilha e os mantém sem soberania em seu próprio país, porque era a única maneira de impedir que Israel continuasse a matá-los até que não restasse nenhum deles. Eles tiveram que engolir isso devido à inação de muitos países, especialmente na Europa. Mas e os espectadores do genocídio?
Muito já foi escrito sobre a cumplicidade de alemães comuns no genocídio nazista e sobre a falha, ano após ano, de governos e cidadãos ao redor do mundo em agir. Sempre será obsceno que todo esse horror tenha sido ignorado por anos. A Europa e os Estados Unidos não se opuseram à Alemanha na Segunda Guerra Mundial pelo extermínio dos judeus, mas por razões geopolíticas e econômicas. Mas agora, na terceira década do século XXI, como podemos explicar a falha dos governos em agir? Porque os palestinos não precisavam de discursos vazios enquanto os israelenses reduziam seus corpos a escombros humanos. Ao contrário do genocídio nazista, escondido da maioria das pessoas em uma era sem internet, a destruição em massa de palestinos tem sido documentada diariamente em vídeo, áudio e texto pelas famílias das vítimas, profissionais de saúde e jornalistas que se arriscaram a cobri-la — pelo menos 252 foram mortos pelas forças israelenses. Então, como podemos explicar a falha da maioria das pessoas ao redor do mundo em agir?

Em um manifesto poderoso, um grupo de mais de 50 intelectuais, incluindo Angela Davis, Virginie Despentes e Benjamin Seroussi, pediu apoio às ações dos ativistas da flotilha que se dirigia a Gaza, cujo espírito humanista “quebra o estupor”. No texto, eles distinguem entre os assassinos, os mortos e os espectadores: “O espetáculo do genocídio nos atordoa, mas a destruição não é o fim de tudo: inaugura novas formas de governar, e em todos os lugares, muito além de Gaza, novos sujeitos aparecem, desvitalizados, atordoados, paralisados. Gostemos ou não, a cena tem três atores: os assassinos, os mortos e os espectadores. Nós, os espectadores, nos tornamos uma população reduzida a nos percebermos — com vergonha e raiva — impotentes, presos em nosso ponto mais fraco: nossa sensibilidade ao obsceno, misturada ao medo e ao fascínio, seguida por uma gradual dessensibilização ao próprio espetáculo.” Para eles, os espectadores consentiram com o genocídio por omissão, ao não reagirem ao horror e ao sofrimento que estavam vendo na tela.
Tantas vezes acusadas de encenar um espetáculo, as flotilhas, ao contrário, denunciaram a transformação do genocídio em espetáculo, quebraram a paralisia, humanizaram a resposta e arriscaram seus corpos na luta pela dignidade. Greta Thunberg foi repetidamente atacada por membros do governo israelense e insultada em diversas línguas na internet por incorporar a conexão entre colapso climático e genocídio, entre colonialismo e genocídio. Quando Greta foi libertada, Trump, o “pacificador”, chamou-a de “encrenqueira” e a aconselhou a ir ao médico para “controlar sua raiva”. Mas será que Greta é o problema? Não deveriam ser os espectadores, aqueles que dia após dia consentem por omissão que crianças explodam ou morram de desnutrição, os causadores do choque? Como uma reação de solidariedade diante do genocídio se tornou um “problema” que deveria ser tratado por um médico?
Ainda temos tempo para, coletivamente, deixarmos de ser espectadores. Não haverá paz se Benjamin Netanyahu e os membros de seu governo não forem responsabilizados por seus crimes e terminarem suas vidas na prisão. Não haverá paz, não apenas para a Palestina, mas para o mundo, se o genocídio permanecer impune. O destino da Palestina depende do nível de pressão que os cidadãos exercem sobre seus líderes, de sua solidariedade ativa com o povo devastado. Devemos a eles uma resposta aos 67.000 assassinados, mais de 20.000 deles crianças, números deliberadamente subestimados, pois há milhares de outros sob os escombros. Essas estatísticas também não incluem os 461 mortos por fome, que Israel transformou em arma de guerra. Devemos a eles uma resposta à criança de Gaza que terá que viver sem uma perna entre os escombros de sua terra, e às 21.000 crianças que a máquina de horror israelense deixou com alguma deficiência. Continuar a aquiescer por omissão destruirá a todos nós.
Não é por acaso que empatia se tornou matéria obrigatória, por lei, em todas as escolas da Dinamarca. Uma vez por semana, crianças e adolescentes, de 6 a 16 anos, se reúnem na “klassens tid”, a “hora da turma”.
Conversam sobre sentimentos, convívio, dificuldades, conflitos, atitudes. O professor é mediador. O objetivo é estimular a cooperação, o respeito, a escuta ativa, reduzir o bullying e o preconceito contra diferentes.
Acho o máximo. Explica também por que esse país escandinavo é o segundo mais feliz do mundo, no ranking da ONU. Ensinar, desde cedo, a ter empatia ajuda a construir uma sociedade mais justa e equilibrada.
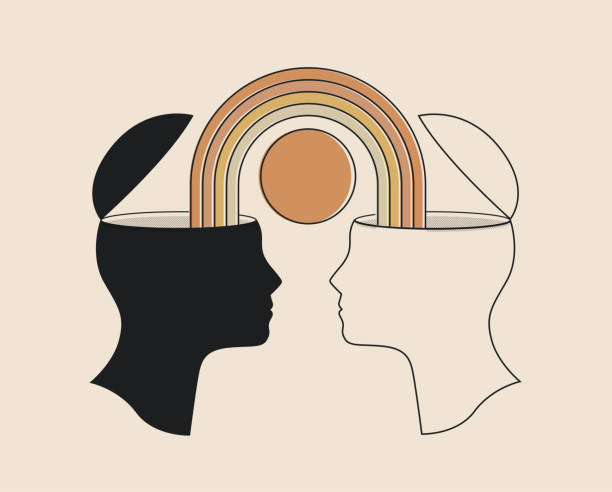
Forma cidadãos, não indivíduos. Adultos mais conscientes, capazes de ouvir e suportar opiniões diferentes. Privilegia a cooperação, a solidariedade, no lugar da competição exagerada e estéril.
No Brasil, sobretudo nas grandes cidades, um de nossos incômodos é a falta de empatia. Não falo só de prefeitos e parlamentares que não estão nem aí para a população e não escutam o eleitor. Falo de todo mundo que a gente encontra na rua, na praça, no bar, até mesmo amigos ansiosos para brigar.
Empatia é palavra batida. Resumindo, significa conseguir se colocar no lugar do outro. Sentir o que o outro sente, perceber que o outro precisa de você. Mas não basta entender o significado. Tem que praticar. As pessoas confundem empatia com simpatia, bondade, sorrisos. É outra coisa.
Há mais de 30 anos a Dinamarca incluiu no currículo escolar o ensino de empatia. Em círculo, alunos discutem como foi a semana, se alguém se sentiu desprezado, agredido, ridicularizado. É uma disciplina tão importante quanto matemática.
Na “klassens tid”, não existem notas boas ou ruins, a ideia é cultivar o “hygge”, que significa aconchego, junto a pessoas queridas. Rejeitar ambientes hostis. Construir uma convivência respeitosa. O inverso do que vemos nas redes sociais e em muitos grupos de WhatsApp. E entre parentes.
Ensinar empatia é ensinar humanidade. Seria impossível a Dinamarca eleger um presidente que defendesse tortura, por exemplo. Ou que não se importasse com 700 mil mortos na pandemia e achasse falta de ar um mimimi. Inimaginável.
Bom saber que, no Brasil, existem escolas que tentam transmitir noções de cidadania. Uma é a Escola Parque, na Gávea. A partir do sexto ano, os alunos se reúnem uma vez por semana com a psicóloga. Para aprender a refletir. A disciplina se chama PEMSA. Psicopedagogia em sala de aula.
“Nós aprendemos sobre acolhimento, respeito, não pensar mal das pessoas antes de conversar e tentar entender, discutimos valores éticos, vemos vídeos e escutamos histórias de superação, falamos de bullying, racismo”, disse Nina Rezende Prada, 12. Minha neta.
Em nosso Brasil de tantas carências, falta muito para que o ensino de empatia seja promovido a política pública. Um luxo ou uma necessidade? Essa preocupação continua restrita a escolas de elite – e é uma pena, porque vemos e sofremos todo dia episódios de agressão gratuita, de incivilidade absurda.
É evidente que não dá para comparar as duas sociedades. A Dinamarca e o Brasil são países diametralmente opostos em quase tudo. A população dinamarquesa é quase igual à da cidade do Rio de Janeiro.
Mesmo assim, há muitos pontos em comum na juventude dos dois países. A necessidade de se sentir amado e acolhido é universal. Uma hora por semana para aprender a ouvir, falar e compreender não é tanto tempo assim. Ajuda a reduzir o assédio, a inadequação ou a solidão entre adolescentes.
E quem sabe, poderíamos almejar, na idade adulta, a um convívio cotidiano mais cordial e equilibrado, porque a falta de educação virou uma praga no Brasil.


%20-%20Privilege.jpg?itok=vsqHAXz7)