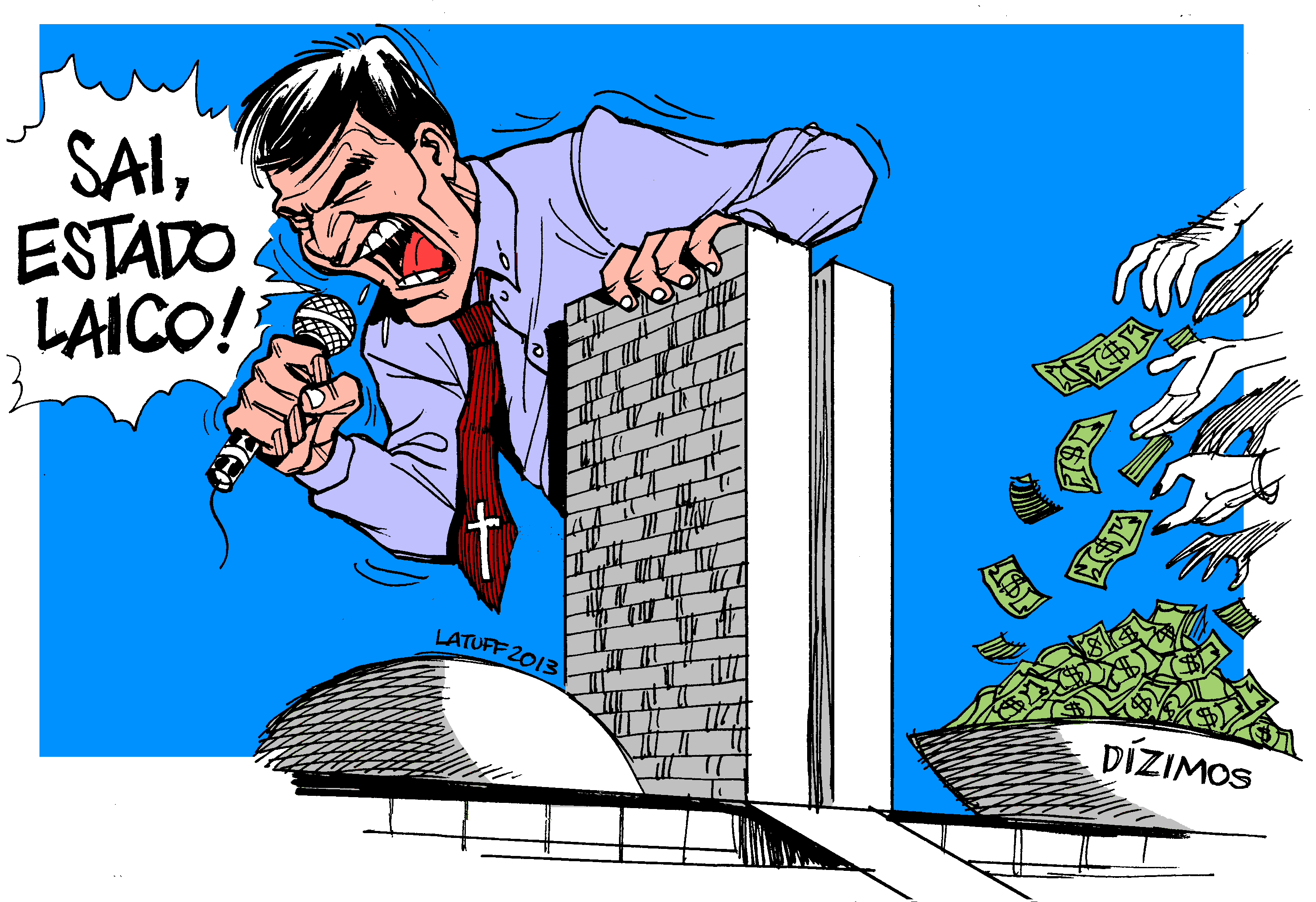sexta-feira, 11 de julho de 2025
Quando a ideologia supera a razão econômica
Entre os desastres do “grande e belo projeto de lei” fiscal de Donald Trump, há um que é particularmente doloroso para os economistas políticos. O projeto de lei elimina radicalmente os subsídios para as fontes de energia limpa adotados durante o governo do presidente Joe Biden há três anos. Muitos consideravam esses subsídios imunes a mudanças de presidentes, uma vez que eles criaram novos empregos e oportunidades de lucro para empresas em Estados “vermelhos”, como são conhecidos os que costumam votar mais no Partido Republicano. Por mais alérgico que o Partido Republicano controlado por Trump seja às políticas verdes, a legenda não ousaria tirar esses benefícios, dizia o pensamento convencional. Só que ousou.
Onde o pensamento convencional errou? Acadêmicos que estudam como as decisões políticas são feitas tendem a concentrar-se nos custos e benefícios econômicos. Pela lógica deles, leis que criam ganhos materiais para grupos organizados, bem relacionados, à custa de perdas difusas para o resto da sociedade têm mais chances de aprovação. Muitos elementos do projeto de lei de Trump, de fato, podem ser bem explicados por esse ponto de vista: em particular, o projeto engendra uma dramática transferência de renda para os mais ricos, à custa dos mais pobres.
Na mesma toada, leis que trazem perdas concentradas para interesses econômicos poderosos têm poucas chances de avançar. Isso explica, por exemplo, por que elevar o custo das emissões de carbono, uma exigência para combater as mudanças climáticas, mas um grande golpe para os interesses dos combustíveis fósseis, tem sido um entrave politicamente tóxico nos Estados Unidos.
O programa de energia limpa de Biden, chamado de Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês), foi concebido para superar esse obstáculo político. Em vez de valer-se de “punições” (a taxação das emissões de carbono), ofereceu “incentivos”, na forma de subsídios às energias solar e eólica e a outras fontes renováveis. Esses incentivos não só tornaram a IRA viável; esperava-se que a tornassem duradoura. Mesmo se os republicanos voltassem ao poder, os beneficiários dos subsídios resistiriam contra sua retirada. Com o tempo, à medida que os lobbies verdes se fortalecessem, talvez até um ataque direto aos combustíveis fósseis se tornasse politicamente possível.
Tais esperanças foram estilhaçadas. Os grupos lobistas verdes tentaram suavizar as cláusulas da nova lei contrárias à IRA e conseguiram adiar a eliminação dos créditos fiscais para energia solar e eólica até meados de 2026. Embora a IRA não tenha sido revogada por completo, a transição verde esperada pelos democratas agora está em frangalhos.
Aqueles que seguem uma visão materialista da economia política encontrarão formas de racionalizar esse retrocesso. Os cortes de impostos regressivos para os ricos exigiam encontrar receitas em outros lugares. Dessa forma, talvez um grupo de interesse menos influente tenha sido sacrificado em favor de um mais poderoso, ou talvez três anos não tenham sido tempo suficiente para que os subsídios da IRA criassem um lobby forte o bastante a seu favor. Como disse um defensor da lei: “Nunca saberemos, mas se tivéssemos mais quatro anos para esses investimentos na indústria se consolidarem, seria muito mais difícil para os parlamentares desfazê-los”.
Em última análise, entretanto, essas justificativas soam falsas. Precisamos aceitar que, às vezes, a ideologia se sobrepõe aos interesses materiais. Não pode restar grande dúvida de que muitos parlamentares republicanos votaram contra os interesses econômicos dos próprios eleitores. Alguns o fizeram por medo de retaliação por parte de Trump; outros, porque realmente são céticos quanto às mudanças climáticas e, assim como Trump, se opõem a qualquer coisa que cheire a ativismo verde. Seja como for, o que prevaleceu foram as ideias sobre o que é importante e sobre como o mundo funciona, e não os lobbies econômicos ou interesses estabelecidos.
Há aqui uma lição mais ampla sobre economia política. Narrativas podem ser tão importantes quanto as políticas de grupos de interesse para dar tração à agenda de um partido. A capacidade de moldar visões de mundo e ideologias - tanto das elites quanto dos eleitores comuns - é uma arma poderosa. Quem a domina consegue convencer as pessoas a fazer escolhas que parecem estar em conflito com os próprios interesses econômicos.
Na verdade, os próprios interesses, sejam econômicos ou de outro tipo, são moldados por ideias. Para saber se ganhamos ou perdemos com uma determinada política, precisamos entender como ela se desenrolará no mundo real, e também o que ocorreria na ausência dela. Poucos de nós têm o conhecimento ou a inclinação para fazer esse tipo de análise. As ideologias oferecem atalhos para esse processo de tomada de decisão tão complexo.
Algumas dessas ideologias se manifestam na forma de histórias e narrativas sobre como o mundo funciona. Um político de direita, por exemplo, poderia dizer que “intervenções do governo sempre saem pela culatra” ou que “universidades de elite produzem conhecimento tendencioso e não confiável”. Outras ideologias se concentram em aumentar a proeminência de certos tipos de identidade - étnica, religiosa ou política. Dependendo do contexto, a mensagem poderia ser: “os imigrantes são seus inimigos” ou “os democratas são seus inimigos”.
É importante notar que o próprio conceito de “interesse próprio” depende de uma ideia implícita sobre quem é esse “eu”: quem somos, o que nos diferencia dos outros e qual é nosso propósito. Essas ideias não são fixas nem naturais desde o nascimento. Uma tradição alternativa na economia política vê os interesses como construções sociais, e não como algo determinado pelas circunstâncias materiais. Dependendo de como nos identificamos, seja como “homem branco”, “classe trabalhadora” ou “evangélico”, por exemplo, veremos nossos interesses de formas diferentes. Como poderiam dizer os construtivistas, “interesse é uma ideia”.
Há aqui uma lição para os opositores de Trump. Para ter sucesso, não basta criar boas políticas públicas que tragam benefícios materiais para grupos específicos. Seja para combater a mudança climática, promover a segurança nacional ou gerar bons empregos, eles precisam vencer a batalha maior das ideias, particularmente das ideias que moldam a compreensão que os eleitores têm de quem eles são e de quais são seus interesses. Os democratas, em particular, precisam reconhecer que as narrativas e identidades que promoveram até recentemente deixaram muitos americanos comuns para trás, assim como as políticas econômicas anteriores a Biden que contribuíram para a ascensão de Trump.
Onde o pensamento convencional errou? Acadêmicos que estudam como as decisões políticas são feitas tendem a concentrar-se nos custos e benefícios econômicos. Pela lógica deles, leis que criam ganhos materiais para grupos organizados, bem relacionados, à custa de perdas difusas para o resto da sociedade têm mais chances de aprovação. Muitos elementos do projeto de lei de Trump, de fato, podem ser bem explicados por esse ponto de vista: em particular, o projeto engendra uma dramática transferência de renda para os mais ricos, à custa dos mais pobres.
Na mesma toada, leis que trazem perdas concentradas para interesses econômicos poderosos têm poucas chances de avançar. Isso explica, por exemplo, por que elevar o custo das emissões de carbono, uma exigência para combater as mudanças climáticas, mas um grande golpe para os interesses dos combustíveis fósseis, tem sido um entrave politicamente tóxico nos Estados Unidos.
O programa de energia limpa de Biden, chamado de Lei de Redução da Inflação (IRA, na sigla em inglês), foi concebido para superar esse obstáculo político. Em vez de valer-se de “punições” (a taxação das emissões de carbono), ofereceu “incentivos”, na forma de subsídios às energias solar e eólica e a outras fontes renováveis. Esses incentivos não só tornaram a IRA viável; esperava-se que a tornassem duradoura. Mesmo se os republicanos voltassem ao poder, os beneficiários dos subsídios resistiriam contra sua retirada. Com o tempo, à medida que os lobbies verdes se fortalecessem, talvez até um ataque direto aos combustíveis fósseis se tornasse politicamente possível.
Tais esperanças foram estilhaçadas. Os grupos lobistas verdes tentaram suavizar as cláusulas da nova lei contrárias à IRA e conseguiram adiar a eliminação dos créditos fiscais para energia solar e eólica até meados de 2026. Embora a IRA não tenha sido revogada por completo, a transição verde esperada pelos democratas agora está em frangalhos.
Aqueles que seguem uma visão materialista da economia política encontrarão formas de racionalizar esse retrocesso. Os cortes de impostos regressivos para os ricos exigiam encontrar receitas em outros lugares. Dessa forma, talvez um grupo de interesse menos influente tenha sido sacrificado em favor de um mais poderoso, ou talvez três anos não tenham sido tempo suficiente para que os subsídios da IRA criassem um lobby forte o bastante a seu favor. Como disse um defensor da lei: “Nunca saberemos, mas se tivéssemos mais quatro anos para esses investimentos na indústria se consolidarem, seria muito mais difícil para os parlamentares desfazê-los”.
Em última análise, entretanto, essas justificativas soam falsas. Precisamos aceitar que, às vezes, a ideologia se sobrepõe aos interesses materiais. Não pode restar grande dúvida de que muitos parlamentares republicanos votaram contra os interesses econômicos dos próprios eleitores. Alguns o fizeram por medo de retaliação por parte de Trump; outros, porque realmente são céticos quanto às mudanças climáticas e, assim como Trump, se opõem a qualquer coisa que cheire a ativismo verde. Seja como for, o que prevaleceu foram as ideias sobre o que é importante e sobre como o mundo funciona, e não os lobbies econômicos ou interesses estabelecidos.
Há aqui uma lição mais ampla sobre economia política. Narrativas podem ser tão importantes quanto as políticas de grupos de interesse para dar tração à agenda de um partido. A capacidade de moldar visões de mundo e ideologias - tanto das elites quanto dos eleitores comuns - é uma arma poderosa. Quem a domina consegue convencer as pessoas a fazer escolhas que parecem estar em conflito com os próprios interesses econômicos.
Na verdade, os próprios interesses, sejam econômicos ou de outro tipo, são moldados por ideias. Para saber se ganhamos ou perdemos com uma determinada política, precisamos entender como ela se desenrolará no mundo real, e também o que ocorreria na ausência dela. Poucos de nós têm o conhecimento ou a inclinação para fazer esse tipo de análise. As ideologias oferecem atalhos para esse processo de tomada de decisão tão complexo.
Algumas dessas ideologias se manifestam na forma de histórias e narrativas sobre como o mundo funciona. Um político de direita, por exemplo, poderia dizer que “intervenções do governo sempre saem pela culatra” ou que “universidades de elite produzem conhecimento tendencioso e não confiável”. Outras ideologias se concentram em aumentar a proeminência de certos tipos de identidade - étnica, religiosa ou política. Dependendo do contexto, a mensagem poderia ser: “os imigrantes são seus inimigos” ou “os democratas são seus inimigos”.
É importante notar que o próprio conceito de “interesse próprio” depende de uma ideia implícita sobre quem é esse “eu”: quem somos, o que nos diferencia dos outros e qual é nosso propósito. Essas ideias não são fixas nem naturais desde o nascimento. Uma tradição alternativa na economia política vê os interesses como construções sociais, e não como algo determinado pelas circunstâncias materiais. Dependendo de como nos identificamos, seja como “homem branco”, “classe trabalhadora” ou “evangélico”, por exemplo, veremos nossos interesses de formas diferentes. Como poderiam dizer os construtivistas, “interesse é uma ideia”.
Há aqui uma lição para os opositores de Trump. Para ter sucesso, não basta criar boas políticas públicas que tragam benefícios materiais para grupos específicos. Seja para combater a mudança climática, promover a segurança nacional ou gerar bons empregos, eles precisam vencer a batalha maior das ideias, particularmente das ideias que moldam a compreensão que os eleitores têm de quem eles são e de quais são seus interesses. Os democratas, em particular, precisam reconhecer que as narrativas e identidades que promoveram até recentemente deixaram muitos americanos comuns para trás, assim como as políticas econômicas anteriores a Biden que contribuíram para a ascensão de Trump.
Estou em luta
Estamos todos numa praça, no fim de uma manifestação. Aqui e ali, vão aparecendo amigos e conhecidos, com quem se trocam acenos e abraços. A certa altura, um deles comenta. “Somos sempre os mesmos.” Olho-o, concordando. “Sinto que conheço toda a gente que está aqui”, respondo. “Mas ao menos saímos daqui satisfeitos”, contrapõe, com uma gargalhada. A luta política encontrou duas fórmulas: a festa ou o sacrifício. Quando desfilamos numa avenida, cheia de amigos que pensam como nós, há alegria, palavras cantadas, cartazes cheios de ironia, sorrisos cúmplices e uma sensação de se ter cumprido um dever, mesmo que no fundo saibamos que quase nunca nada muda a seguir. Mas também há um sofrimento autoinfligido quando a luta se faz pela greve. Esse sacrifício é evidente quando se fala de uma greve de fome ou dos cordões humanos que resistem à violência, mas pensa-se pouco sobre como cada dia sem trabalhar é um dia de salário perdido.
“Vai chegar tarde ao trabalho hoje?”, pergunta um jornalista quando há greves nos transportes. “Ficou sem a consulta?”, questiona quando a paralisação é na saúde. “E tem onde deixar as crianças?”, interroga-se quando são os professores que estão em luta. As perguntas desviam a atenção do motor do descontentamento que fez a greve, mas acabam por ser um reflexo do desconforto que é suposto as greves causarem. Sim, porque se a greve não tiver esse efeito, serão só dias de salário perdido e, com isso, quem os paga pode bem.
Estive poucas vezes de greve e não foi por me faltarem os motivos para as fazer. Os jornalistas são quase sempre mal pagos e precários, mas habituaram-se a envergonhar-se das suas lutas. “O jornalista não é notícia, a não ser quando morre”, dizem-nos nas aulas. E nós lá vamos morrendo, devagarinho, sem ser notícia. Sempre prontos para denunciar as injustiças que os outros sofrem, omitindo as nossas. Sempre prontos para relatar as vidas difíceis dos outros, escondendo as nossas.
Mas não é só o pudor deontológico que nos trava as lutas. A notícia morde-nos a pele, precisamos de a dar. As páginas que não escrevemos ficam-nos a arder por dentro. É como se nos faltasse o ar quando, a meio de uma greve, percebemos que há uma história que fica por contar. Como não sei ser outra coisa que não jornalista, não faço ideia se estas aflições atacam professores, médicos ou maquinistas da CP. Admito que sim. Admito que, numa sociedade em que aprendemos a definirmo-nos pelo que fazemos, seja realmente assustadora a ideia de deixarmos de o fazer.
“E tu és o quê?” Eu sou jornalista. E estou em luta. Escrevo estas palavras, não para furar uma greve, que é mais do que justa, mas porque acredito (com a força com que nos convencemos a nós próprios de alguma coisa) que o teclado é a minha arma. Disparo frases enquanto puder, porque o silêncio será a maior derrota.
Que luta é a minha? A de conseguir ter condições laborais dignas para exercer a minha profissão, a começar, claro, pelo mais básico: um salário ao fim do mês. Mas é também a luta de quem acha que o jornalismo é importante para furar as bolhas dos algoritmos que nos isolam uns dos outros, para encontrar espaços comuns onde as diferenças se resolvam pelo diálogo e pela razão e não pela violência, para denunciar injustiças, para escrutinar os poderes, para nos fazer pensar e para nos emocionar.
O jornalismo não se tornará obsoleto enquanto houver quem acredite na importância de um chão comum, que não seja feito de desistência e indiferença, mas que seja o terreiro de uma disputa de ideias, em cima do qual poderão nascer dias melhores. Podem vir mostrar-me ficheiros de Excel, podem vir tentar explicar-me como o mercado condenou o jornalismo, que eu hei de responder com os desmandos de gestão que vi em quatro mãos-cheias que já levo de redações e com a certeza de que a, certa altura, vamos todos perceber que não podemos continuar a viver só aquilo que os mercados desejam.
Essa é a minha luta e é a luta de muitos camaradas (aprende-se no primeiro dia de redação que “colegas” são as senhoras de má vida, “camaradas” é o que somos). Mas essa luta só terá hipóteses de vencer quando se fizer fora das paredes das redações. Quando lá fora houver finalmente uma maioria que entenda porque é que o jornalismo nunca foi tão necessário e como poderia ser tão melhor do que é.
Há uns tempos, uma camarada de outro jornal contou-me uma história interessante. Estava ela, num grupo de amigos menos politizados, queixando-se de como a maior parte das manifestações não dava em nada. Eles, que raras vezes tinham ido a manifestações, contrapuseram com a sua experiência. Sempre que decidiram sair à rua, a luta alcançou vitórias. Um dos exemplos dados era o da TSU, mas tinham outros. Ou seja, depois de muitos protestos feitos pelos tais mesmos de sempre, a dada altura a luta extravasou esses limites e conquistou quem à partida se vê como menos politizado.
Há os que vão levando o barco e os que, saltando lá para dentro já no fim da viagem, chegam ao destino, parecendo-lhes que o percurso foi fácil. O importante, porém, é que todos lá cheguem. Por agora, só quero manter o barco da VISÃO à tona, esperando que ele encontre um bom porto.
“Vai chegar tarde ao trabalho hoje?”, pergunta um jornalista quando há greves nos transportes. “Ficou sem a consulta?”, questiona quando a paralisação é na saúde. “E tem onde deixar as crianças?”, interroga-se quando são os professores que estão em luta. As perguntas desviam a atenção do motor do descontentamento que fez a greve, mas acabam por ser um reflexo do desconforto que é suposto as greves causarem. Sim, porque se a greve não tiver esse efeito, serão só dias de salário perdido e, com isso, quem os paga pode bem.
Estive poucas vezes de greve e não foi por me faltarem os motivos para as fazer. Os jornalistas são quase sempre mal pagos e precários, mas habituaram-se a envergonhar-se das suas lutas. “O jornalista não é notícia, a não ser quando morre”, dizem-nos nas aulas. E nós lá vamos morrendo, devagarinho, sem ser notícia. Sempre prontos para denunciar as injustiças que os outros sofrem, omitindo as nossas. Sempre prontos para relatar as vidas difíceis dos outros, escondendo as nossas.
Mas não é só o pudor deontológico que nos trava as lutas. A notícia morde-nos a pele, precisamos de a dar. As páginas que não escrevemos ficam-nos a arder por dentro. É como se nos faltasse o ar quando, a meio de uma greve, percebemos que há uma história que fica por contar. Como não sei ser outra coisa que não jornalista, não faço ideia se estas aflições atacam professores, médicos ou maquinistas da CP. Admito que sim. Admito que, numa sociedade em que aprendemos a definirmo-nos pelo que fazemos, seja realmente assustadora a ideia de deixarmos de o fazer.
“E tu és o quê?” Eu sou jornalista. E estou em luta. Escrevo estas palavras, não para furar uma greve, que é mais do que justa, mas porque acredito (com a força com que nos convencemos a nós próprios de alguma coisa) que o teclado é a minha arma. Disparo frases enquanto puder, porque o silêncio será a maior derrota.
Que luta é a minha? A de conseguir ter condições laborais dignas para exercer a minha profissão, a começar, claro, pelo mais básico: um salário ao fim do mês. Mas é também a luta de quem acha que o jornalismo é importante para furar as bolhas dos algoritmos que nos isolam uns dos outros, para encontrar espaços comuns onde as diferenças se resolvam pelo diálogo e pela razão e não pela violência, para denunciar injustiças, para escrutinar os poderes, para nos fazer pensar e para nos emocionar.
O jornalismo não se tornará obsoleto enquanto houver quem acredite na importância de um chão comum, que não seja feito de desistência e indiferença, mas que seja o terreiro de uma disputa de ideias, em cima do qual poderão nascer dias melhores. Podem vir mostrar-me ficheiros de Excel, podem vir tentar explicar-me como o mercado condenou o jornalismo, que eu hei de responder com os desmandos de gestão que vi em quatro mãos-cheias que já levo de redações e com a certeza de que a, certa altura, vamos todos perceber que não podemos continuar a viver só aquilo que os mercados desejam.
Essa é a minha luta e é a luta de muitos camaradas (aprende-se no primeiro dia de redação que “colegas” são as senhoras de má vida, “camaradas” é o que somos). Mas essa luta só terá hipóteses de vencer quando se fizer fora das paredes das redações. Quando lá fora houver finalmente uma maioria que entenda porque é que o jornalismo nunca foi tão necessário e como poderia ser tão melhor do que é.
Há uns tempos, uma camarada de outro jornal contou-me uma história interessante. Estava ela, num grupo de amigos menos politizados, queixando-se de como a maior parte das manifestações não dava em nada. Eles, que raras vezes tinham ido a manifestações, contrapuseram com a sua experiência. Sempre que decidiram sair à rua, a luta alcançou vitórias. Um dos exemplos dados era o da TSU, mas tinham outros. Ou seja, depois de muitos protestos feitos pelos tais mesmos de sempre, a dada altura a luta extravasou esses limites e conquistou quem à partida se vê como menos politizado.
Há os que vão levando o barco e os que, saltando lá para dentro já no fim da viagem, chegam ao destino, parecendo-lhes que o percurso foi fácil. O importante, porém, é que todos lá cheguem. Por agora, só quero manter o barco da VISÃO à tona, esperando que ele encontre um bom porto.
Petra Costa expõe presença evangélica na direita golpista
Uma falha involuntária do documentário "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa, não deixa de ter consequências para a discussão sobre o lugar do chamado mundo evangélico no universo social e político brasileiro. Anterior aos dados do Censo, o filme e seu personagem condutor, o pastor Silas Malafaia, assumem que os evangélicos no Brasil, em crescimento acelerado, já ultrapassariam 30% da população.
As apurações recentes do IBGE revelaram um freio nessa expansão —que, na realidade, chegou a 26,9% da população. Essa reversão de expectativas quanto a um país fadado a se tornar majoritariamente evangélico, como imaginavam alguns, passa a ser um ponto a considerar no entendimento da cena religiosa no país. Um dos aspectos é o triunfalismo de certa elite de pastores que ascendeu em vertentes pentecostais por meio do business da fé e passou a arregimentar fiéis para sustentar um projeto político teocrático de ocupação do Estado com evidente viés reacionário. A ideia de fazer do Brasil um país "governado por Jesus" parecia questão de tempo.
Mas o que afinal desejaria Jesus aqui na terra antes de seu retorno pós-apocaliptico? Ver seu rebanho no poder, diz Malafaia, que fala como se soubesse tudo sobre o que quer e não quer o filho de Deus. E o que não quer? Casamento gay, por exemplo, de modo algum. Comunismo, com ideias socioeconômicas coletivistas e igualitárias, menos ainda. Jesus, aliás, como vemos no documentário, é contra a Escola de Frankfurt —a teoria crítica de Max Horkheimer e Theodor Adorno. Tampouco simpatiza com cultos de matriz africana e até coisas que não existem, como a intenção de Lula de instalar banheiros unissex em escolas e fechar igrejas.
Sempre se poderá dizer que a diretora do documentário tem lado, é progressista e admira Lula. Em sendo de esquerda, teria forçado a mão para caracterizar Malafaia como referência de pastor, difundindo assim um estereótipo e promovendo uma redução da diversidade desse segmento religioso. Uma crítica, de fato, a levar em conta. Malafaia poderia ter sido mais um e não "o" pastor do documentário.
Malafaia, contudo, não é uma fantasia ou invencionice da esquerda preconceituosa. Embora tenha perdido estatura, é personagem midiático que se mostrou poderoso no interregno histórico pelo qual o filme se interessa. Exerceu influência na ascensão de Jair Bolsonaro e de seu cortejo de ignorantes e golpistas a falar línguas estranhas e dar pulinhos epifânicos, como a ex-primeira dama Michelle, porque um "terrivelmente evangélico" chegou ao STF.
Não há dúvida de que as igrejas evangélicas, assim como outras tantas entidades religiosas, são um porto seguro que oferece conforto espiritual, pertencimento comunitário e apoio para muita gente. Isso não basta, porém, para inspirar uma atitude condescendente com a ameaça que a instrumentalização política da religião representa para uma sociedade republicana e democrática. Não vale só para evangélicos, embora esse grupo seja um "case" recente no Brasil.
O filme, com algumas passagens impressionantes, tem um ponto de vista relevante sobre a história do complexo de crenças presente no ataque à democracia no Brasil até o fatídico 8 de Janeiro. Vale conferir.
Marcos Augusto Gonçalves
As apurações recentes do IBGE revelaram um freio nessa expansão —que, na realidade, chegou a 26,9% da população. Essa reversão de expectativas quanto a um país fadado a se tornar majoritariamente evangélico, como imaginavam alguns, passa a ser um ponto a considerar no entendimento da cena religiosa no país. Um dos aspectos é o triunfalismo de certa elite de pastores que ascendeu em vertentes pentecostais por meio do business da fé e passou a arregimentar fiéis para sustentar um projeto político teocrático de ocupação do Estado com evidente viés reacionário. A ideia de fazer do Brasil um país "governado por Jesus" parecia questão de tempo.
Mas o que afinal desejaria Jesus aqui na terra antes de seu retorno pós-apocaliptico? Ver seu rebanho no poder, diz Malafaia, que fala como se soubesse tudo sobre o que quer e não quer o filho de Deus. E o que não quer? Casamento gay, por exemplo, de modo algum. Comunismo, com ideias socioeconômicas coletivistas e igualitárias, menos ainda. Jesus, aliás, como vemos no documentário, é contra a Escola de Frankfurt —a teoria crítica de Max Horkheimer e Theodor Adorno. Tampouco simpatiza com cultos de matriz africana e até coisas que não existem, como a intenção de Lula de instalar banheiros unissex em escolas e fechar igrejas.
Sempre se poderá dizer que a diretora do documentário tem lado, é progressista e admira Lula. Em sendo de esquerda, teria forçado a mão para caracterizar Malafaia como referência de pastor, difundindo assim um estereótipo e promovendo uma redução da diversidade desse segmento religioso. Uma crítica, de fato, a levar em conta. Malafaia poderia ter sido mais um e não "o" pastor do documentário.
Malafaia, contudo, não é uma fantasia ou invencionice da esquerda preconceituosa. Embora tenha perdido estatura, é personagem midiático que se mostrou poderoso no interregno histórico pelo qual o filme se interessa. Exerceu influência na ascensão de Jair Bolsonaro e de seu cortejo de ignorantes e golpistas a falar línguas estranhas e dar pulinhos epifânicos, como a ex-primeira dama Michelle, porque um "terrivelmente evangélico" chegou ao STF.
Não há dúvida de que as igrejas evangélicas, assim como outras tantas entidades religiosas, são um porto seguro que oferece conforto espiritual, pertencimento comunitário e apoio para muita gente. Isso não basta, porém, para inspirar uma atitude condescendente com a ameaça que a instrumentalização política da religião representa para uma sociedade republicana e democrática. Não vale só para evangélicos, embora esse grupo seja um "case" recente no Brasil.
O filme, com algumas passagens impressionantes, tem um ponto de vista relevante sobre a história do complexo de crenças presente no ataque à democracia no Brasil até o fatídico 8 de Janeiro. Vale conferir.
Marcos Augusto Gonçalves
Das novas lendas brasileiras
Nham-Borocochô, o Papagaio Velho, todo dia voava ao planalto das grandes cuias pra buscar alimento. Os macacos, com enorme alarido, seguiam Nham-Borocochô. A grande cuia virada pra cima continha mel. A grande cuia invertida era tabu. Nenhum bicho podia olhar o que a cuia invertida tapava. Num dia de festa uns macacos safados disseram:
– Nham-Borocochô pega mel numa cuia só porque tem um bico só, mas nós temos quatro patas.
E assim os macacos meteram os pés pelas mãos e misturaram o mel da primeira cuia ao esterco, matéria que a segunda escondia. Pê-da-vida, Nham-Borocochô, o Papagaio Velho, lançou terrível maldição sobre os macacos trapalhões.
Até hoje, lá no Planalto, a macacada é paga pra não aparecer. Mesmo assim, às vezes surgem, ninguém sabe de onde, votam com várias patas ao mesmo tempo, e o ar fica impregnado de forte cheiro de esterco.
Aldir Blanc, "Brasil passado a sujo"
– Nham-Borocochô pega mel numa cuia só porque tem um bico só, mas nós temos quatro patas.
E assim os macacos meteram os pés pelas mãos e misturaram o mel da primeira cuia ao esterco, matéria que a segunda escondia. Pê-da-vida, Nham-Borocochô, o Papagaio Velho, lançou terrível maldição sobre os macacos trapalhões.
Até hoje, lá no Planalto, a macacada é paga pra não aparecer. Mesmo assim, às vezes surgem, ninguém sabe de onde, votam com várias patas ao mesmo tempo, e o ar fica impregnado de forte cheiro de esterco.
Aldir Blanc, "Brasil passado a sujo"
Uma ética escalafobética
A confiança virou pó. Não se pode acreditar em mais ninguém. A boa-fé não existe, a não ser como fachada. A honestidade se reduz a uma reles desculpa para o fracassado: é a única virtude da qual o pobre pode se orgulhar e, pior, é da boca para fora.
Só vai enriquecer quem souber substituir a palavra “amor” pela palavra “interesse”. Todos os ricos são crápulas. Na classe dominante, só não é calhorda quem sofre dos nervos: as madames alcoólatras e as socialites deprimidas. O único trabalho verdadeiramente lucrativo é a pilantragem profissional. Os trouxas insistem na integridade. Os trouxas são perdedores.
Se você acha o diagnóstico exageradamente pessimista, convém dar uma olhada na novela das nove da Rede Globo, Vale Tudo. O melodrama faz uma radiografia cética da ética escalafobética patrocinada pela burguesia caquética. E, a julgar pelos rombudos índices de audiência, a radiografia colou. Há tempos a massa telespectadora não festejava tanto um folhetim da Globo. Há tempos, uma novela não dava tanto o que pensar. A cada capítulo, fica mais difícil ter esperanças ufanistas.
O quadro fica mais sombrio quando lembramos que o aviso não é novo. Na verdade, estamos falando de um aviso repetido. O que está no ar é um remake. A trama original de Vale Tudo foi exibida no ano longínquo de 1988, o mesmo da Constituição Cidadã, como a apelidou Ulysses Guimarães. Puxe pela memória, você vai se lembrar.
Foi um tempo feliz, de buliçosa efervescência cívica. O Brasil acreditava que, se varresse os corruptos para longe da sala, abriria caminho para o progresso e para a justiça social. Bastaria expulsar de Brasília os parasitas, os marajás, os larápios e os tecnocratas fardados. Com os malfeitores sepultados, o País, finalmente, se reconciliaria com o seu grande destino.
Naquele clima de deslumbramento, liberação e euforia, tudo o que os telespectadores queriam era revanche contra as elites imorais – e para esse continental apetite de acerto de contas, Vale Tudo serviu de vingança simbólica. A vilã Odete Roitman, interpretada por uma atriz grandiosa, Beatriz Segall, representava tudo o que havia de mais execrável: ela manipulava a família, os agregados, os empregados e, de resto, o elenco inteirinho, sempre destilando desprezo pelos mínimos resquícios de humanidade em quem quer que fosse. Sentia nojo das tais brasilidades, como pandeiro e feijoada. Usava e abusava da crueldade. Levou sua maldade a tais extremos que, no epílogo, terminou assassinada. Por merecimento.
Sua morte foi motivo de júbilo nacional. Foi até mesmo um divertimento: nos capítulos finais, o público dava risada tentando adivinhar quem tinha matado a megera chique. A pergunta “Quem matou Odete Roitman” entrou para o folclore tropical, assim como a execução da inescrupulosa e fascinante personagem virou um ritual de purificação, um antídoto contra todas as imundícies.
Ocorre que, ao longo das décadas que vieram depois, as imundícies voltaram, e voltaram ainda mais imundas. Elas reapareceram com tanta força que tornaram obrigatório o regresso da bruxa maquiada de dondoca. Eis então que, em 2025, o bode expiatório está outra vez no horário nobre. Mas o final que a espera poderá ser diferente.
A velha senhora – remodelada na estampa, mas intacta no caráter – saiu da tumba para repetir a catarse, desta vez encarnada na atriz Débora Bloch, cuja interpretação classuda transpira absolutismo majestoso, imperial. Em sua nova fase, a dama hostil segue ferina: espanca um subalterno só de olhar para ele e tortura a irmã carente com um quase imperceptível repuxozinho de canto de boca, como se dissesse que a outra não lhe merece nem mesmo o trabalho de rir de seu sofrimento sincero, mas vazio.
Sim, Odete está igualzinha. Os tempos, porém, são outros. Hoje, tiranos e ladravazes, desde que vencedores, não são mais objeto de repúdio, mas de adoração. A ideologia se sofisticou e opera milagres funestos. A identificação dos desvalidos com os bilionários sem princípios chegou a tal ponto que o motoqueiro precarizado sente-se tão empresário quanto Elon Musk (só lhe falta ganhar algum). Donald Trump, que acaba de tirar um trilhão de dólares dos serviços de saúde com o apoio do Congresso, desfila como ídolo dos que nada têm. No Brasil, milhares de eleitores vão às ruas para aplaudir os que tentaram dar um golpe de Estado. Algo mudou na alma do povo.
Cenário nebuloso. Talvez, hoje, a massa de telespectadores não deseje mais a morte violenta de Odete Roitman. Talvez torça, isto sim, para que ela triunfe e dê uma rasteira na moral da história para acabar de vez com esses bonzinhos insuportáveis que não lhe dão descanso. A massa, que anda caidinha por opressores, talvez queira que a vigarista, em vez de ser assassinada, assassine pessoalmente aquele bando de chorões e de choronas, esquerdosos, previsíveis, chatos e politicamente corretos. Não será surpresa se os roteiristas tiverem de alterar o desfecho da novela para conceder, na segunda vida, uma anistia para Odete Roitman.
Só vai enriquecer quem souber substituir a palavra “amor” pela palavra “interesse”. Todos os ricos são crápulas. Na classe dominante, só não é calhorda quem sofre dos nervos: as madames alcoólatras e as socialites deprimidas. O único trabalho verdadeiramente lucrativo é a pilantragem profissional. Os trouxas insistem na integridade. Os trouxas são perdedores.
Se você acha o diagnóstico exageradamente pessimista, convém dar uma olhada na novela das nove da Rede Globo, Vale Tudo. O melodrama faz uma radiografia cética da ética escalafobética patrocinada pela burguesia caquética. E, a julgar pelos rombudos índices de audiência, a radiografia colou. Há tempos a massa telespectadora não festejava tanto um folhetim da Globo. Há tempos, uma novela não dava tanto o que pensar. A cada capítulo, fica mais difícil ter esperanças ufanistas.
O quadro fica mais sombrio quando lembramos que o aviso não é novo. Na verdade, estamos falando de um aviso repetido. O que está no ar é um remake. A trama original de Vale Tudo foi exibida no ano longínquo de 1988, o mesmo da Constituição Cidadã, como a apelidou Ulysses Guimarães. Puxe pela memória, você vai se lembrar.
Foi um tempo feliz, de buliçosa efervescência cívica. O Brasil acreditava que, se varresse os corruptos para longe da sala, abriria caminho para o progresso e para a justiça social. Bastaria expulsar de Brasília os parasitas, os marajás, os larápios e os tecnocratas fardados. Com os malfeitores sepultados, o País, finalmente, se reconciliaria com o seu grande destino.
Naquele clima de deslumbramento, liberação e euforia, tudo o que os telespectadores queriam era revanche contra as elites imorais – e para esse continental apetite de acerto de contas, Vale Tudo serviu de vingança simbólica. A vilã Odete Roitman, interpretada por uma atriz grandiosa, Beatriz Segall, representava tudo o que havia de mais execrável: ela manipulava a família, os agregados, os empregados e, de resto, o elenco inteirinho, sempre destilando desprezo pelos mínimos resquícios de humanidade em quem quer que fosse. Sentia nojo das tais brasilidades, como pandeiro e feijoada. Usava e abusava da crueldade. Levou sua maldade a tais extremos que, no epílogo, terminou assassinada. Por merecimento.
Sua morte foi motivo de júbilo nacional. Foi até mesmo um divertimento: nos capítulos finais, o público dava risada tentando adivinhar quem tinha matado a megera chique. A pergunta “Quem matou Odete Roitman” entrou para o folclore tropical, assim como a execução da inescrupulosa e fascinante personagem virou um ritual de purificação, um antídoto contra todas as imundícies.
Ocorre que, ao longo das décadas que vieram depois, as imundícies voltaram, e voltaram ainda mais imundas. Elas reapareceram com tanta força que tornaram obrigatório o regresso da bruxa maquiada de dondoca. Eis então que, em 2025, o bode expiatório está outra vez no horário nobre. Mas o final que a espera poderá ser diferente.
A velha senhora – remodelada na estampa, mas intacta no caráter – saiu da tumba para repetir a catarse, desta vez encarnada na atriz Débora Bloch, cuja interpretação classuda transpira absolutismo majestoso, imperial. Em sua nova fase, a dama hostil segue ferina: espanca um subalterno só de olhar para ele e tortura a irmã carente com um quase imperceptível repuxozinho de canto de boca, como se dissesse que a outra não lhe merece nem mesmo o trabalho de rir de seu sofrimento sincero, mas vazio.
Sim, Odete está igualzinha. Os tempos, porém, são outros. Hoje, tiranos e ladravazes, desde que vencedores, não são mais objeto de repúdio, mas de adoração. A ideologia se sofisticou e opera milagres funestos. A identificação dos desvalidos com os bilionários sem princípios chegou a tal ponto que o motoqueiro precarizado sente-se tão empresário quanto Elon Musk (só lhe falta ganhar algum). Donald Trump, que acaba de tirar um trilhão de dólares dos serviços de saúde com o apoio do Congresso, desfila como ídolo dos que nada têm. No Brasil, milhares de eleitores vão às ruas para aplaudir os que tentaram dar um golpe de Estado. Algo mudou na alma do povo.
Cenário nebuloso. Talvez, hoje, a massa de telespectadores não deseje mais a morte violenta de Odete Roitman. Talvez torça, isto sim, para que ela triunfe e dê uma rasteira na moral da história para acabar de vez com esses bonzinhos insuportáveis que não lhe dão descanso. A massa, que anda caidinha por opressores, talvez queira que a vigarista, em vez de ser assassinada, assassine pessoalmente aquele bando de chorões e de choronas, esquerdosos, previsíveis, chatos e politicamente corretos. Não será surpresa se os roteiristas tiverem de alterar o desfecho da novela para conceder, na segunda vida, uma anistia para Odete Roitman.
Voltas que o mundo precisa dar
Nosso planeta gira em seu eixo, em torno do sol e executa vários outros movimentos, menos conhecidos. Mas a história da espécie que hoje destrói seu habitat também dá voltas, algumas lentas, outras bem rápidas, súbitas. Estas últimas ocorrem após acúmulo de pressões, como uma panela pressurizada sem válvula adequada acaba por explodir.
Hoje, crescem as pressões. Uma delas é a cada dia maior desigualdade de renda, associada à infundada crença de que mais crescimento da economia trará conforto e abundância para todos. Crescer a economia sem mudar suas características nos levará a pontos de inflexão no sistema Terra que provocarão rupturas súbitas. Bem mais graves e amplas que a recém ocorrida no Texas, onde as águas do rio Guadalupe subiram nove metros em 120 minutos. Tempo insuficiente para qualquer “adaptação”, mesmo a fuga, que impeça muitas mortes.
A espécie autodeclarada sapiens já ultrapassou muitos dos limites que a biosfera apresenta, mas os poderosos não reconhecem este fato e continuam, aceleradamente, a nos conduzir ao abismo. Lutam pelo idiótico objetivo de serem os últimos a morrer… de fome, afogados ou queimados em secas, enchentes, incêndios e ondas de calor cada vez mais fortes e outros eventos súbitos. Vale lembrar que, embora 13% dos texanos vivam abaixo da sempre baixinha linha oficial de pobreza, o que lhes impede desfrutar de muitos dos confortos da “modernidade”, a “riqueza” de alguns texanos decorre de provocarem as mudanças climáticas, enchentes, incêndios, ondas de calor e outras pressões que nos aproximam do abismo. Riqueza assassina?
Sim, mesmo quando reconhecemos que o petróleo e os demais combustíveis fósseis trouxeram muitos benefícios para muitos humanos. Assim como as drogas letais trazem prazer ao iniciante e o destrói em seguida.
“Como viver sem petróleo”, é pergunta que muitos se fazem, e os poderosos nela se baseiam para seguir rumo a desastres crescentes. A pergunta adequada, hoje, é: como sobreviver usando o petróleo, o aço, o concreto e outros produtos e serviços como temos feito?
Cientistas e a Agência Internacional de Energia já declararam que nenhum novo campo de petróleo deve ser explorado, se quisermos evitar as mudanças ambientais descontroladas, decorrentes da ultrapassagem dos pontos de inflexão que revolucionarão o clima, as correntes marítimas e outros fundamentos da vida.
Ignorando completamente essa realidade, congressistas brasileiros e lobistas estão de olho na exploração da droga fóssil na foz do Amazonas. Argumentam que isso é essencial para melhorar a qualidade de vida da população local, e omitem o fato de que, por exemplo no Rio de Janeiro, onde se extrai tanto dessa droga a tantos anos, a miséria persiste.
Como dito acima, não é o eventual crescimento da economia que trará melhorias para a maioria; o que necessitamos é reconhecer que somos 99% e legislar para distribuir boa parte da riqueza do 1%, forçando nossos congressistas a aprovar a taxação dos super ricos e a desoneração completa dos impostos sobre os mais pobres.
Hoje, crescem as pressões. Uma delas é a cada dia maior desigualdade de renda, associada à infundada crença de que mais crescimento da economia trará conforto e abundância para todos. Crescer a economia sem mudar suas características nos levará a pontos de inflexão no sistema Terra que provocarão rupturas súbitas. Bem mais graves e amplas que a recém ocorrida no Texas, onde as águas do rio Guadalupe subiram nove metros em 120 minutos. Tempo insuficiente para qualquer “adaptação”, mesmo a fuga, que impeça muitas mortes.
A espécie autodeclarada sapiens já ultrapassou muitos dos limites que a biosfera apresenta, mas os poderosos não reconhecem este fato e continuam, aceleradamente, a nos conduzir ao abismo. Lutam pelo idiótico objetivo de serem os últimos a morrer… de fome, afogados ou queimados em secas, enchentes, incêndios e ondas de calor cada vez mais fortes e outros eventos súbitos. Vale lembrar que, embora 13% dos texanos vivam abaixo da sempre baixinha linha oficial de pobreza, o que lhes impede desfrutar de muitos dos confortos da “modernidade”, a “riqueza” de alguns texanos decorre de provocarem as mudanças climáticas, enchentes, incêndios, ondas de calor e outras pressões que nos aproximam do abismo. Riqueza assassina?
Sim, mesmo quando reconhecemos que o petróleo e os demais combustíveis fósseis trouxeram muitos benefícios para muitos humanos. Assim como as drogas letais trazem prazer ao iniciante e o destrói em seguida.
“Como viver sem petróleo”, é pergunta que muitos se fazem, e os poderosos nela se baseiam para seguir rumo a desastres crescentes. A pergunta adequada, hoje, é: como sobreviver usando o petróleo, o aço, o concreto e outros produtos e serviços como temos feito?
Cientistas e a Agência Internacional de Energia já declararam que nenhum novo campo de petróleo deve ser explorado, se quisermos evitar as mudanças ambientais descontroladas, decorrentes da ultrapassagem dos pontos de inflexão que revolucionarão o clima, as correntes marítimas e outros fundamentos da vida.
Ignorando completamente essa realidade, congressistas brasileiros e lobistas estão de olho na exploração da droga fóssil na foz do Amazonas. Argumentam que isso é essencial para melhorar a qualidade de vida da população local, e omitem o fato de que, por exemplo no Rio de Janeiro, onde se extrai tanto dessa droga a tantos anos, a miséria persiste.
Como dito acima, não é o eventual crescimento da economia que trará melhorias para a maioria; o que necessitamos é reconhecer que somos 99% e legislar para distribuir boa parte da riqueza do 1%, forçando nossos congressistas a aprovar a taxação dos super ricos e a desoneração completa dos impostos sobre os mais pobres.
Assinar:
Comentários (Atom)



_1.jpg?itok=f_JL1pB3)