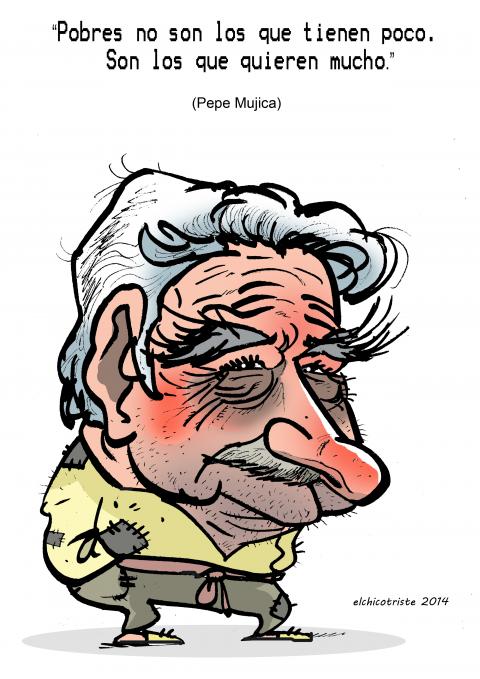segunda-feira, 19 de maio de 2025
O que se passa com os rapazes?
“Boys will be boys” diz a famosa expressão condescendente em língua inglesa… e agora os rapazes preferem a extrema-direita.
No relatório "From Provider to Precarious: How Young Men’s Economic Decline Fuels the Antifeminist Backlash", publicado há dias pelo European Policy Center, vemos que, em Portugal, por cada rapariga (com menos de 25 anos) que vota num partido de extrema-direita, 4,9 rapazes fazem o mesmo. O número é tão alto que só a Croácia nos ultrapassa.
Outro estudo, de que um artigo no site do European Consortium for Political Research dá conta, mostra que, em 2024, 21% dos jovens rapazes europeus (com idades entre 18 e 29 anos) apoiavam partidos de extrema-direita, enquanto as raparigas se ficavam pelos 14%. O que se passa aqui?
No relatório "From Provider to Precarious: How Young Men’s Economic Decline Fuels the Antifeminist Backlash", publicado há dias pelo European Policy Center, vemos que, em Portugal, por cada rapariga (com menos de 25 anos) que vota num partido de extrema-direita, 4,9 rapazes fazem o mesmo. O número é tão alto que só a Croácia nos ultrapassa.
Outro estudo, de que um artigo no site do European Consortium for Political Research dá conta, mostra que, em 2024, 21% dos jovens rapazes europeus (com idades entre 18 e 29 anos) apoiavam partidos de extrema-direita, enquanto as raparigas se ficavam pelos 14%. O que se passa aqui?
Estávamos habituados a que o clássico voto de protesto antissistema, tão caro à juventude, se situasse na extrema-esquerda. Mais liberais do que os seus pais conservadores, radicais e revolucionários, os jovens pendiam para um extremo político antes de se “aburguesarem”, com a meia-idade, no colo do centrão. O voto antissistema foi capturado pela extrema-direita. Com uma grave distinção: se o sistema que a extrema-esquerda combate é o capitalismo, o sistema que a extrema-direita repudia é a democracia.
Para Đorđe Milosav, um dos autores do segundo estudo acima mencionado, a questão dos rapazes vai muito além do simples “boys will be boys”, no sentido em que o voto masculino jovem reflete a idade da exploração da identidade, do testar de limites, do correr riscos, atitudes mais acentuadas do que no sexo feminino. Se assim fosse, esclarece o investigador de Ciência Política, essa realidade estaria refletida em toda a juventude de décadas passadas. Mas não está. “Esta diferença de género do voto na extrema-direita por parte dos jovens é muito mais pronunciada agora, na Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012), do que foi nas gerações passadas. Mas também vemos isso, embora em menor grau, nos Millennials (1981-1996)”, escreve.
“Muitos homens jovens veem o crescente sucesso das mulheres na educação e no trabalho como uma ameaça. Isto alimenta o ressentimento e o desejo de controlo”, acrescenta Đorđe Milosav, alertando para o facto de o voto na extrema-direita lhes dar um sentido de propósito e validação. Pior: “Os partidos de extrema-direita movem-se das franjas para o mainstream. Já não se trata só de um voto de provocação contra pais e professores – à medida que estes partidos se normalizam, a tendência é a de que o voto dos jovens neles não cesse à medida que vão envelhecendo.”
“Há uma crescente divisão ideológica entre os géneros”, diz, por seu lado, Javier Carbonell, autor do relatório do European Policy Center, “em que as mulheres são mais progressistas e os homens mais conservadores. Esta divisão mostra o poder eleitoral das forças antifeministas”. Mas a ascensão do feminismo não explica tudo.
“A deterioração das condições económicas tem levado a que os rapazes sejam menos escolarizados, ganhem menos e se debatam para estar à altura do que tradicionalmente é esperado do papel masculino: ser o sustento das suas famílias. A extrema-direita tem sabido explorar isto, oferecendo uma visão regressiva da masculinidade”, continua Javier Carbonell.
A ideia tradicional de masculinidade está ultrapassada e entrou em crise. O problema é quando são os próprios jovens a preferir olhar para trás em vez de seguir em frente.
Para Đorđe Milosav, um dos autores do segundo estudo acima mencionado, a questão dos rapazes vai muito além do simples “boys will be boys”, no sentido em que o voto masculino jovem reflete a idade da exploração da identidade, do testar de limites, do correr riscos, atitudes mais acentuadas do que no sexo feminino. Se assim fosse, esclarece o investigador de Ciência Política, essa realidade estaria refletida em toda a juventude de décadas passadas. Mas não está. “Esta diferença de género do voto na extrema-direita por parte dos jovens é muito mais pronunciada agora, na Geração Z (nascidos entre 1997 e 2012), do que foi nas gerações passadas. Mas também vemos isso, embora em menor grau, nos Millennials (1981-1996)”, escreve.
“Muitos homens jovens veem o crescente sucesso das mulheres na educação e no trabalho como uma ameaça. Isto alimenta o ressentimento e o desejo de controlo”, acrescenta Đorđe Milosav, alertando para o facto de o voto na extrema-direita lhes dar um sentido de propósito e validação. Pior: “Os partidos de extrema-direita movem-se das franjas para o mainstream. Já não se trata só de um voto de provocação contra pais e professores – à medida que estes partidos se normalizam, a tendência é a de que o voto dos jovens neles não cesse à medida que vão envelhecendo.”
“Há uma crescente divisão ideológica entre os géneros”, diz, por seu lado, Javier Carbonell, autor do relatório do European Policy Center, “em que as mulheres são mais progressistas e os homens mais conservadores. Esta divisão mostra o poder eleitoral das forças antifeministas”. Mas a ascensão do feminismo não explica tudo.
“A deterioração das condições económicas tem levado a que os rapazes sejam menos escolarizados, ganhem menos e se debatam para estar à altura do que tradicionalmente é esperado do papel masculino: ser o sustento das suas famílias. A extrema-direita tem sabido explorar isto, oferecendo uma visão regressiva da masculinidade”, continua Javier Carbonell.
A ideia tradicional de masculinidade está ultrapassada e entrou em crise. O problema é quando são os próprios jovens a preferir olhar para trás em vez de seguir em frente.
Submissão
Um homem submisso atrai naturalmente um homem que se compraz em submeter, em mandar. Mais cedo ou mais tarde, um homem muito submisso vai atrair e até criar um déspota junto a si. Eles formarão um casal.
Henri Michaux, "Um bárbaro na Ásia"
Transformando macarrão em pão: a luta de Gaza pela sobrevivência
Os moradores de Gaza são forçados a inovar e se adaptar para sobreviver à fome, enquanto esperam que o mundo abra suas portas para eles, agarrando-se a um vislumbre de esperança.
Em meio ao bloqueio imposto pela ocupação israelense e seu governo em Gaza, os moradores recorreram a meios não convencionais para sobreviver, incluindo transformar macarrão em pão depois que a farinha quase desapareceu dos mercados.
No norte da Faixa de Gaza, Fadwa Hussein compartilhou sua história com o The Palestine Chronicle: “Estamos vivendo em condições catastróficas. Desde que as passagens de fronteira foram fechadas, produtos e alimentos essenciais desapareceram dos mercados. Armazenei alguns suprimentos de comida, mas eles estão se esgotando rapidamente, pois não há alternativa para o que consumimos.”
Fadwa continuou: "Eu tinha dois sacos de farinha, mas com o fechamento das travessias, eles acabaram. Começamos a comprar farinha por quilo a preços altíssimos, mas a falta de dinheiro nos impossibilita de comprar mais a preços tão exorbitantes."
Ela explicou que pesquisou alternativas para fazer pão na internet e encontrou uma maneira de transformar macarrão em pão.
Comecei a experimentar com a minha filha e funcionou. Começamos deixando a massa de molho em água por 5 a 6 horas e depois a sovamos até ficar firme. Também reservei um pouco de farinha para misturar à massa, para ajudar a mantê-la unida.
À medida que a crise se agrava, Fadwa acrescentou: “Tentamos nos adaptar a todas as circunstâncias apenas para sobreviver. Apelamos a todas as consciências e nações vivas do mundo para que nos acompanhem, para que levantem nossas vozes e as vozes dos famintos para o mundo. Israel usa a fome como arma de punição contra nós, contra crianças, mulheres e bebês.”
Enquanto isso, em um centro de deslocados a oeste da Cidade de Gaza, Mona Salama, mãe de três filhos, agora vive com sua família depois de perder sua casa em um bombardeio.
"Depois de perdermos nossa casa, não temos mais dinheiro para comprar farinha por conta própria. Costumávamos contar com a ajuda da UNRWA, mas como a ajuda foi impedida de entrar, não temos condições de comprar nada", disse ela ao The Palestine Chronicle.
“Ouvi dizer que algumas famílias em Gaza começaram a usar lentilhas e macarrão para fazer pão, então perguntei e comecei a preparar pão para meus filhos com meu marido”, acrescentou.
Mona continua com tristeza: “Tenho filhos pequenos que não entendem o que significa fome. Eles choram constantemente, querendo comida. Fico impotente diante deles e, às vezes, choro porque não consigo lhes dar três refeições. Fazemos uma pequena quantidade de pão apenas para os nossos filhos, para aplacar a fome deles, enquanto meu marido e eu comemos o que mais encontramos.”
Mais de dois milhões de palestinos em Gaza estão enfrentando uma crise humanitária sem precedentes devido às restrições impostas por Israel à entrada de ajuda desde o início de março, após o colapso da primeira fase de um acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito, Catar e Estados Unidos em janeiro.
O Gabinete de Imprensa do Governo em Gaza alertou recentemente que os moradores estão "à beira da morte em massa" devido à fome crescente e ao colapso completo de setores vitais, pedindo a criação imediata de um corredor humanitário para resgatar mais de 2,4 milhões de palestinos.
Em um comunicado, o gabinete confirmou que “a fome em Gaza se tornou uma realidade sombria, não apenas uma ameaça, depois que 52 mortes foram registradas devido à fome e à desnutrição, incluindo 50 crianças, em um dos cenários mais horríveis de matança lenta”.
A UNRWA disse que tem milhares de caminhões prontos para entrar em Gaza e que suas equipes estão preparadas para aumentar as entregas assim que forem permitidas.
Em uma publicação no Facebook, a UNRWA escreveu: “Já se passaram mais de nove semanas de bloqueio em Gaza, com Israel impedindo a entrada de toda ajuda humanitária, suprimentos médicos e produtos comerciais.”
A agência acrescentou: “Quanto mais tempo esse bloqueio durar, mais danos irreversíveis serão causados a inúmeras vidas”.
Em meio a essa trágica realidade, os moradores de Gaza são forçados a inovar e se adaptar para sobreviver à fome, enquanto esperam que o mundo abra suas portas para eles, agarrando-se a um vislumbre de esperança para salvar as vidas de milhares de crianças, mulheres e idosos.
Em meio ao bloqueio imposto pela ocupação israelense e seu governo em Gaza, os moradores recorreram a meios não convencionais para sobreviver, incluindo transformar macarrão em pão depois que a farinha quase desapareceu dos mercados.
No norte da Faixa de Gaza, Fadwa Hussein compartilhou sua história com o The Palestine Chronicle: “Estamos vivendo em condições catastróficas. Desde que as passagens de fronteira foram fechadas, produtos e alimentos essenciais desapareceram dos mercados. Armazenei alguns suprimentos de comida, mas eles estão se esgotando rapidamente, pois não há alternativa para o que consumimos.”
Fadwa continuou: "Eu tinha dois sacos de farinha, mas com o fechamento das travessias, eles acabaram. Começamos a comprar farinha por quilo a preços altíssimos, mas a falta de dinheiro nos impossibilita de comprar mais a preços tão exorbitantes."
Ela explicou que pesquisou alternativas para fazer pão na internet e encontrou uma maneira de transformar macarrão em pão.
Comecei a experimentar com a minha filha e funcionou. Começamos deixando a massa de molho em água por 5 a 6 horas e depois a sovamos até ficar firme. Também reservei um pouco de farinha para misturar à massa, para ajudar a mantê-la unida.
À medida que a crise se agrava, Fadwa acrescentou: “Tentamos nos adaptar a todas as circunstâncias apenas para sobreviver. Apelamos a todas as consciências e nações vivas do mundo para que nos acompanhem, para que levantem nossas vozes e as vozes dos famintos para o mundo. Israel usa a fome como arma de punição contra nós, contra crianças, mulheres e bebês.”
Enquanto isso, em um centro de deslocados a oeste da Cidade de Gaza, Mona Salama, mãe de três filhos, agora vive com sua família depois de perder sua casa em um bombardeio.
"Depois de perdermos nossa casa, não temos mais dinheiro para comprar farinha por conta própria. Costumávamos contar com a ajuda da UNRWA, mas como a ajuda foi impedida de entrar, não temos condições de comprar nada", disse ela ao The Palestine Chronicle.
“Ouvi dizer que algumas famílias em Gaza começaram a usar lentilhas e macarrão para fazer pão, então perguntei e comecei a preparar pão para meus filhos com meu marido”, acrescentou.
Mona continua com tristeza: “Tenho filhos pequenos que não entendem o que significa fome. Eles choram constantemente, querendo comida. Fico impotente diante deles e, às vezes, choro porque não consigo lhes dar três refeições. Fazemos uma pequena quantidade de pão apenas para os nossos filhos, para aplacar a fome deles, enquanto meu marido e eu comemos o que mais encontramos.”
Mais de dois milhões de palestinos em Gaza estão enfrentando uma crise humanitária sem precedentes devido às restrições impostas por Israel à entrada de ajuda desde o início de março, após o colapso da primeira fase de um acordo de cessar-fogo mediado pelo Egito, Catar e Estados Unidos em janeiro.
O Gabinete de Imprensa do Governo em Gaza alertou recentemente que os moradores estão "à beira da morte em massa" devido à fome crescente e ao colapso completo de setores vitais, pedindo a criação imediata de um corredor humanitário para resgatar mais de 2,4 milhões de palestinos.
Em um comunicado, o gabinete confirmou que “a fome em Gaza se tornou uma realidade sombria, não apenas uma ameaça, depois que 52 mortes foram registradas devido à fome e à desnutrição, incluindo 50 crianças, em um dos cenários mais horríveis de matança lenta”.
A UNRWA disse que tem milhares de caminhões prontos para entrar em Gaza e que suas equipes estão preparadas para aumentar as entregas assim que forem permitidas.
Em uma publicação no Facebook, a UNRWA escreveu: “Já se passaram mais de nove semanas de bloqueio em Gaza, com Israel impedindo a entrada de toda ajuda humanitária, suprimentos médicos e produtos comerciais.”
A agência acrescentou: “Quanto mais tempo esse bloqueio durar, mais danos irreversíveis serão causados a inúmeras vidas”.
Em meio a essa trágica realidade, os moradores de Gaza são forçados a inovar e se adaptar para sobreviver à fome, enquanto esperam que o mundo abra suas portas para eles, agarrando-se a um vislumbre de esperança para salvar as vidas de milhares de crianças, mulheres e idosos.
Mujica foi, antes de tudo, um homem inteiro
Sendo a vida um rio que precisa ser atravessado, cabe-nos construir uma ponte capaz de nos sustentar do primeiro engatinhar ao último arrastar de perna. Não é tarefa pouca. Tanto assim que boa parte dos bípedes acaba desperdiçando fortunas ou aflições erigindo passarelas impermanentes, ocas, que desabam ao primeiro infortúnio e acabam varridas da História. José “Pepe” Mujica, que completaria 90 anos nesta terça-feira, nunca confundiu o ser com o ter. Atravessou o tumultuoso rio de sua vida sem precisar escorar-se em vanglórias nem vitimizações. Sua ponte a tudo resistiu. Fora construída de material nobre e raro: a simples decência humana.
A julgar pelos registros nas mídias, elogiosos segundo a régua convencional de atributos, havia morrido um “símbolo da esquerda”, um “ícone da esquerda” ou, no máximo, um “herói da esquerda da América Latina”. Assim fazendo, apequenaram o morto. Isso porque Mujica foi, antes de tudo, um homem inteiro. Seus valores eram universais, e sua moral danada de límpida. “Dediquei a vida a mudar o mundo e não mudei nada, mas não importa — dei sentido à minha vida sonhando, lutando, pelejando. Parto daqui feliz”, explicou ao jornal El País no ano passado, já bastante doente.
A trajetória política do uruguaio José Alberto Mujica Cordano é conhecida: nascido em ambiente rural nos arredores de Montevidéu, aderiu cedo ao movimento guerrilheiro Tupamaro, foi preso quatro vezes, conseguiu fugir duas — uma das quais com lances cinematográficos —, mas acabou recapturado em 1972 para mofar ou enlouquecer no cárcere. O filme “Uma noite de 12 anos”, de 2018, dirigido por Álvaro Brechner, retrata bem o que foram seus 12 anos de cativeiro na ditadura militar uruguaia. Sete deles foram passados em solitária, numa cela-buraco de pouco mais de 1 metro quadrado, privado de leitura ou raio de sol. Espancado e torturado, chegou a comer sabão e alucinar.
Quando finalmente libertado, estava com 50 anos de idade. Não perdera a razão, nem a humanidade. Nem a companheira de militância Lucía Topolansky, com quem se casaria em 2005 e que o acompanhou até o final. Estava pronto para retomar a política redemocratizada e recebeu dos patrícios votos e aprovação — primeiro como membro do Congresso, depois como presidente da República. Ao contrário do que ocorreu na Argentina e no Chile pós-ditadura, decidiu não processar os militares responsáveis pela tortura, mortes e desaparecimentos ocorridos nos porões uruguaios. Tampouco se arrependeu das várias ações de guerrilha urbana de que participou. “Na vida há feridas que não têm cura, é preciso aprender a continuar a viver”, dizia. Assim fez.
Poucas horas depois do anúncio de sua morte, um vídeo caseiro de menos de três minutos mostrava uma bailarina anônima numa viela deserta de Montevidéu. É noite. À frente de um muro descascado com os dizeres “GRACIAS PEPE POR TANTA POESIA” e de uma dezena de velas acesas no chão, a bailarina dança um dos solos mais belos do “Lago dos cisnes”, de Tchaikovsky. Difícil imaginar outro líder mundial que gere manifestação de pesar tão significante. Vez por outra, poesia, política e humanidade conseguem conviver e frutificar. São raras essas vezes — somente quando o ser humano foi maior que sua obra estritamente política. Assim foi com o sul-africano Nelson Mandela, assim foi com o argentino Papa Francisco e assim foi com o americano Jimmy Carter.
No seminal livro de Primo Levi “É isto um homem?”, o sobrevivente de Auschwitz nos intima a refletir sobre os abismos e cumes do que é ser humano. Talvez lhe fizesse bem saber que, para Mujica, o significado da vida pode ser encontrado no que nos diferencia das demais espécies — graças a nosso desenvolvimento intelectual, e se exercitarmos nossa consciência, podemos dar à vida algum sentido, escolher uma causa, vivê-la. Mujica diz ter conseguido ser livre por ter escapado da lei da necessidade. Levi não teve essa oportunidade. Coube-lhe a missão desumana de narrar o que não suportamos ver. Ainda assim, também ele inicia seu livro máximo com um poema: “Se questo è un uomo”.
A julgar pelos registros nas mídias, elogiosos segundo a régua convencional de atributos, havia morrido um “símbolo da esquerda”, um “ícone da esquerda” ou, no máximo, um “herói da esquerda da América Latina”. Assim fazendo, apequenaram o morto. Isso porque Mujica foi, antes de tudo, um homem inteiro. Seus valores eram universais, e sua moral danada de límpida. “Dediquei a vida a mudar o mundo e não mudei nada, mas não importa — dei sentido à minha vida sonhando, lutando, pelejando. Parto daqui feliz”, explicou ao jornal El País no ano passado, já bastante doente.
A trajetória política do uruguaio José Alberto Mujica Cordano é conhecida: nascido em ambiente rural nos arredores de Montevidéu, aderiu cedo ao movimento guerrilheiro Tupamaro, foi preso quatro vezes, conseguiu fugir duas — uma das quais com lances cinematográficos —, mas acabou recapturado em 1972 para mofar ou enlouquecer no cárcere. O filme “Uma noite de 12 anos”, de 2018, dirigido por Álvaro Brechner, retrata bem o que foram seus 12 anos de cativeiro na ditadura militar uruguaia. Sete deles foram passados em solitária, numa cela-buraco de pouco mais de 1 metro quadrado, privado de leitura ou raio de sol. Espancado e torturado, chegou a comer sabão e alucinar.
Quando finalmente libertado, estava com 50 anos de idade. Não perdera a razão, nem a humanidade. Nem a companheira de militância Lucía Topolansky, com quem se casaria em 2005 e que o acompanhou até o final. Estava pronto para retomar a política redemocratizada e recebeu dos patrícios votos e aprovação — primeiro como membro do Congresso, depois como presidente da República. Ao contrário do que ocorreu na Argentina e no Chile pós-ditadura, decidiu não processar os militares responsáveis pela tortura, mortes e desaparecimentos ocorridos nos porões uruguaios. Tampouco se arrependeu das várias ações de guerrilha urbana de que participou. “Na vida há feridas que não têm cura, é preciso aprender a continuar a viver”, dizia. Assim fez.
Poucas horas depois do anúncio de sua morte, um vídeo caseiro de menos de três minutos mostrava uma bailarina anônima numa viela deserta de Montevidéu. É noite. À frente de um muro descascado com os dizeres “GRACIAS PEPE POR TANTA POESIA” e de uma dezena de velas acesas no chão, a bailarina dança um dos solos mais belos do “Lago dos cisnes”, de Tchaikovsky. Difícil imaginar outro líder mundial que gere manifestação de pesar tão significante. Vez por outra, poesia, política e humanidade conseguem conviver e frutificar. São raras essas vezes — somente quando o ser humano foi maior que sua obra estritamente política. Assim foi com o sul-africano Nelson Mandela, assim foi com o argentino Papa Francisco e assim foi com o americano Jimmy Carter.
No seminal livro de Primo Levi “É isto um homem?”, o sobrevivente de Auschwitz nos intima a refletir sobre os abismos e cumes do que é ser humano. Talvez lhe fizesse bem saber que, para Mujica, o significado da vida pode ser encontrado no que nos diferencia das demais espécies — graças a nosso desenvolvimento intelectual, e se exercitarmos nossa consciência, podemos dar à vida algum sentido, escolher uma causa, vivê-la. Mujica diz ter conseguido ser livre por ter escapado da lei da necessidade. Levi não teve essa oportunidade. Coube-lhe a missão desumana de narrar o que não suportamos ver. Ainda assim, também ele inicia seu livro máximo com um poema: “Se questo è un uomo”.
Ética, confiança e democracia
É generalizada a percepção de que, no momento atual da vida brasileira, a preocupação com a ética não tem predominado na conduta dos atores políticos, tanto da situação quanto da oposição.
Dessa carência de eticidade provém a redução da confiança nas instituições do País que alcança o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Democracia requer confiança. Uma confiança que se vê comprometida pela presença de uma política “fértil em meios e manhas” (nas palavras de Rui Barbosa), voltada para o bem particular de alguns.
São requisitos de confiança nas regras da democracia, como esclarece Bobbio, tanto a confiança da cidadania nas instituições quanto a confiança recíproca entre os cidadãos que integram a comunidade política. Esta, por sua vez, se vê comprometida pela fragmentação polarizadora, permeada pela intolerância da sociedade brasileira.
Neste contexto, vale a pena lembrar que a palavra corrupção vem do latim, corrumpere, com o significado originário de estragar, decompor, perverter. Este significado na filosofia aristotélica é uma das espécies do movimento que leva à destruição da substância. A falta de ética é um movimento destruidor da substância do Estado Democrático de Direito, consagrado pela Constituição cidadã de 1988.
A perversão da corrupção, proveniente da falta de ética, vai além da transgressiva conduta de pessoas, empresas e associações em esferas da vida nacional. Transcende igualmente o elenco de crimes tipificados pelo Direito Penal. É um sério problema de profundo alcance político ao ensejar a corrupção do espírito público, como aponta Raymond Aron.
É o cupim da corrupção na imagem de Políbio, que transubstancia as formas boas de governo em formas más. No nosso caso, a democracia de governo de muitos, numa oclocracia de submissão e apequenamento. Esta, ao consolidar-se, dá espaço para as manhas e meios de demagogos inconsequentes, propicia as aspirações do cesarismo de falsas lideranças e promove os vínculos espúrios do dinheiro com o poder que leva à plutocracia. Isso acaba no que Michelangelo Bovero denomina de caquistocracia – o governo dos piores.
No Brasil, um ingrediente da caquistocracia da corrupção é um crescente hiato entre o preconizado pela Constituição de 1988 e os costumes constitucionais, que são a melhor garantia da Constituição. O costume tem a necessidade das instituições para desenvolver-se. As instituições têm a necessidade do costume para perdurarem. Uma das virtudes do Estado Democrático de Direito é o respeito às leis e, muito especialmente, à Constituição, e uma dimensão da falta de virtude ética é a complacência no afrouxamento de sua força obrigatória. Evoco nesse sentido os princípios do artigo 37 da Constituição.
Começo com o princípio da moralidade, que aponta para o fato de que o direito, como disciplina da convivência humana, sempre tem como piso um mínimo ético. Esse mínimo ético está em sintonia com os valores da sociedade, que na redemocratização presidiram a elaboração da Constituição. Dele emana a cobertura axiológica da boa-fé e da confiança, que deve nortear, na relação governante-governados, a aquisição e o exercício do poder. O princípio da moralidade adquire especificidade com os princípios da legalidade e da impessoalidade.
O princípio da legalidade afirma que as atividades dos atores políticos regem-se pelo atendimento das normas jurídicas, com base na lei, cuja finalidade é sempre a preservação do interesse público. O princípio está voltado a embargar os ilícitos da corrupção provenientes dos desmandos e dos favoritismos no exercício do poder.
O princípio da impessoalidade prescreve que todos devem ser tratados sem distinção, em obediência ao republicano princípio da igualdade. É o que se contrapõe ao clientelismo das nomeações, ao compadrio do favoritismo da família. Em síntese, as modalidades de corrupção provenientes da confusão entre o público e o privado, entre a casa e a rua, para lembrar a formulação de Roberto DaMatta.
Por último, mas de grande relevo para a eficácia dos demais, o princípio da publicidade. Este parte de um pressuposto essencial da democracia na passagem do dever do súdito para o direito do cidadão: o público, por ser comum a todos, deve ser do conhecimento de todos, e não ser guardado em sigilo por interesses privados.
A transparência, propiciada pela publicidade e fortalecida pelo respeito à veracidade, está voltada para embargar as modalidades de corrupção que se escondem para não passar pelo teste da moralidade oferecida pelo sol da publicidade. A cidadania deve poder saber quem é um ator político, o que faz e com quem anda. E, sobretudo, deve saber tudo em relação àqueles que têm o poder de decidir no âmbito dos poderes e detêm as consequentes competências jurídicas para fazer-se obedecer.
Machado de Assis observa que “a corrupção escondida vale tanto quanto a pública: a diferença é que não fede”. No momento atual, os costumes da falta de ética minam a confiança na democracia, enquanto o mau cheiro da fumaça está asfixiando a cidadania brasileira.
Celso Lafer
Dessa carência de eticidade provém a redução da confiança nas instituições do País que alcança o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Democracia requer confiança. Uma confiança que se vê comprometida pela presença de uma política “fértil em meios e manhas” (nas palavras de Rui Barbosa), voltada para o bem particular de alguns.
São requisitos de confiança nas regras da democracia, como esclarece Bobbio, tanto a confiança da cidadania nas instituições quanto a confiança recíproca entre os cidadãos que integram a comunidade política. Esta, por sua vez, se vê comprometida pela fragmentação polarizadora, permeada pela intolerância da sociedade brasileira.
Neste contexto, vale a pena lembrar que a palavra corrupção vem do latim, corrumpere, com o significado originário de estragar, decompor, perverter. Este significado na filosofia aristotélica é uma das espécies do movimento que leva à destruição da substância. A falta de ética é um movimento destruidor da substância do Estado Democrático de Direito, consagrado pela Constituição cidadã de 1988.
A perversão da corrupção, proveniente da falta de ética, vai além da transgressiva conduta de pessoas, empresas e associações em esferas da vida nacional. Transcende igualmente o elenco de crimes tipificados pelo Direito Penal. É um sério problema de profundo alcance político ao ensejar a corrupção do espírito público, como aponta Raymond Aron.
É o cupim da corrupção na imagem de Políbio, que transubstancia as formas boas de governo em formas más. No nosso caso, a democracia de governo de muitos, numa oclocracia de submissão e apequenamento. Esta, ao consolidar-se, dá espaço para as manhas e meios de demagogos inconsequentes, propicia as aspirações do cesarismo de falsas lideranças e promove os vínculos espúrios do dinheiro com o poder que leva à plutocracia. Isso acaba no que Michelangelo Bovero denomina de caquistocracia – o governo dos piores.
No Brasil, um ingrediente da caquistocracia da corrupção é um crescente hiato entre o preconizado pela Constituição de 1988 e os costumes constitucionais, que são a melhor garantia da Constituição. O costume tem a necessidade das instituições para desenvolver-se. As instituições têm a necessidade do costume para perdurarem. Uma das virtudes do Estado Democrático de Direito é o respeito às leis e, muito especialmente, à Constituição, e uma dimensão da falta de virtude ética é a complacência no afrouxamento de sua força obrigatória. Evoco nesse sentido os princípios do artigo 37 da Constituição.
Começo com o princípio da moralidade, que aponta para o fato de que o direito, como disciplina da convivência humana, sempre tem como piso um mínimo ético. Esse mínimo ético está em sintonia com os valores da sociedade, que na redemocratização presidiram a elaboração da Constituição. Dele emana a cobertura axiológica da boa-fé e da confiança, que deve nortear, na relação governante-governados, a aquisição e o exercício do poder. O princípio da moralidade adquire especificidade com os princípios da legalidade e da impessoalidade.
O princípio da legalidade afirma que as atividades dos atores políticos regem-se pelo atendimento das normas jurídicas, com base na lei, cuja finalidade é sempre a preservação do interesse público. O princípio está voltado a embargar os ilícitos da corrupção provenientes dos desmandos e dos favoritismos no exercício do poder.
O princípio da impessoalidade prescreve que todos devem ser tratados sem distinção, em obediência ao republicano princípio da igualdade. É o que se contrapõe ao clientelismo das nomeações, ao compadrio do favoritismo da família. Em síntese, as modalidades de corrupção provenientes da confusão entre o público e o privado, entre a casa e a rua, para lembrar a formulação de Roberto DaMatta.
Por último, mas de grande relevo para a eficácia dos demais, o princípio da publicidade. Este parte de um pressuposto essencial da democracia na passagem do dever do súdito para o direito do cidadão: o público, por ser comum a todos, deve ser do conhecimento de todos, e não ser guardado em sigilo por interesses privados.
A transparência, propiciada pela publicidade e fortalecida pelo respeito à veracidade, está voltada para embargar as modalidades de corrupção que se escondem para não passar pelo teste da moralidade oferecida pelo sol da publicidade. A cidadania deve poder saber quem é um ator político, o que faz e com quem anda. E, sobretudo, deve saber tudo em relação àqueles que têm o poder de decidir no âmbito dos poderes e detêm as consequentes competências jurídicas para fazer-se obedecer.
Machado de Assis observa que “a corrupção escondida vale tanto quanto a pública: a diferença é que não fede”. No momento atual, os costumes da falta de ética minam a confiança na democracia, enquanto o mau cheiro da fumaça está asfixiando a cidadania brasileira.
Celso Lafer
A cara do Brasil
De passagem pelo Brasil, anos atrás, perguntaram a Umberto Eco o que era afinal Silvio Berlusconi, então eleito primeiro-ministro. “Infelizmente ele é a cara da Itália de hoje”, respondeu. Não havia ali ironia, apenas cínico conformismo diante do personagem folclórico e corrupto. O Brasil de 2025 seriam os 315 deputados que votaram para aliviar o golpista Alexandre Ramagem e o chefe do bando? Ou seria o notório ex-ministro Carlos Lupi? Sem muito esforço: é Lula da Silva e sua Janja, ao lado de Nicolás Maduro, entusiasmado com o ditador Vladimir Putin?
Posso olhar para o lado, fugindo dos tipos eleitos pelo voto popular, e pensar em Alaíde Costa, que, aos 89 anos, lança um álbum avassalador: “Uma estrela para Dalva”, em homenagem a Dalva de Oliveira. É um Brasil com outro tipo de civilização, ainda educado e poético, que não precisa mostrar a bunda, como Anitta, em assanhada vulgaridade. Ao lado de Guinga, Antonio Adolfo e André Mehmari, entre outros, Alaíde oferece um repertório de canções — algumas de Herivelto Martins, com quem Dalva foi casada, como “Ave Maria no morro” — de quando o brasileiro acreditava no país do futuro. Mais certo se aferrar à definição de Oswald de Andrade, imbatível: “O Brasil é um monte de gente dando adeus”. Ou seria um “país de chegadas”?
Nos quarenta anos de democracia, a polarização nos coloca falsamente entre a cruz dos Adoradores do Golpe ou das genuflexões para o Populismo de Esquerda. O mundo delicado de Guimarães Rosa e Noel Rosa desapareceu sepultado pelas emendas secretas, pelo fundo eleitoral e pelas redes sociais. A política de coalizão substituiu a possibilidade de Drummond de Andrade pela realidade ralé de Valdemar Costa Neto e Sóstenes Cavalcante. Ou pelo ativismo reverso de Anielle Franco.
A culpa não é dos eleitores, mas de um sistema que nos prende às imagens de mundo do passado, capaz de afastar da política os melhores quadros. Não deve causar entusiasmo levantar da cama na segunda pela manhã sabendo de uma reunião com Arthur Lira. Ou discutir questões atuariais com Carlos Lupi. O desaforado filósofo Sócrates escolheu tomar cicuta para demonstrar na prática ao povo de Atenas sua descrença na democracia, como escrito por I.F. Stone em “O julgamento de Sócrates”. Passados alguns séculos, com algumas graves guerras pela História, e a ortografia de Bolsonaro, as instituições ganharam camadas de proteção. Mas sempre escapa uma Carla Zambelli por baixo da porta.
O historiador Robert Paxton, em sua “Anatomia do fascismo”, caminha pelo surgimento das representações políticas modernas. Ao buscar as raízes do nascimento dos extremismos de direita, mostra a reação das elites ao voto universal, ao surgimento do político profissional (o primeiro Parlamento a dar salário a deputados foi o francês, ainda no século XIX) e a manipulação do eleitorado. Colocado em prática na eleição de 1848, Luís Napoleão (sobrinho do Imperador) foi eleito com ampla maioria (74%) — depois deu um golpe. O velho Marx errou sua aposta ao imaginar a vitória do proletariado sobre a burguesia. Nem ele, tampouco Engels, imaginavam a possibilidade de os trabalhadores votarem num representante das elites (o patrão, na linguagem usual). Parece a surpresa dos democratas ao ser novamente derrotados por Donald Trump.
A extrema direita sempre mostrou habilidades na manipulação dos eleitores nos momentos de crise econômica ou de mudanças nos processos de produção (lá, a Revolução Industrial; agora, a Revolução Digital). Ninguém deve esquecer que tanto Mussolini como Hitler foram eleitos. E já pregavam várias de suas atrocidades.
Mesmo com a volta à democracia, o sistema eleitoral brasileiro sempre se mostrou imperfeito. Nunca houve modelo capaz de representar mais fielmente a vontade popular. Agravando as distorções, na véspera de cada eleição os políticos promovem mudanças em benefício próprio. Em poucos anos, o fundo eleitoral se transformou num maná, surgiram as emendas secretas (e bilionárias) somadas à manipulação das redes sociais.
Sem reforma eleitoral, com um novo sistema, a começar pelo voto distrital, o eleitor manipulado continuará a ser uma arma contra a democracia. A continuar assim, a política permanecerá na mão dos profissionais pagos pelo próprio povo. Como 315 deputados votam para inocentar alguém que quis dar um golpe? Seriam eles representantes da maioria ou instrumento de um grupo minoritário? A manobra de Hugo Motta para aumentar, e não diminuir, o número de deputados novamente deturpa a representação. Mas hoje ele é a face eleita do Brasil.
Miguel de Almeida
Posso olhar para o lado, fugindo dos tipos eleitos pelo voto popular, e pensar em Alaíde Costa, que, aos 89 anos, lança um álbum avassalador: “Uma estrela para Dalva”, em homenagem a Dalva de Oliveira. É um Brasil com outro tipo de civilização, ainda educado e poético, que não precisa mostrar a bunda, como Anitta, em assanhada vulgaridade. Ao lado de Guinga, Antonio Adolfo e André Mehmari, entre outros, Alaíde oferece um repertório de canções — algumas de Herivelto Martins, com quem Dalva foi casada, como “Ave Maria no morro” — de quando o brasileiro acreditava no país do futuro. Mais certo se aferrar à definição de Oswald de Andrade, imbatível: “O Brasil é um monte de gente dando adeus”. Ou seria um “país de chegadas”?
Nos quarenta anos de democracia, a polarização nos coloca falsamente entre a cruz dos Adoradores do Golpe ou das genuflexões para o Populismo de Esquerda. O mundo delicado de Guimarães Rosa e Noel Rosa desapareceu sepultado pelas emendas secretas, pelo fundo eleitoral e pelas redes sociais. A política de coalizão substituiu a possibilidade de Drummond de Andrade pela realidade ralé de Valdemar Costa Neto e Sóstenes Cavalcante. Ou pelo ativismo reverso de Anielle Franco.
A culpa não é dos eleitores, mas de um sistema que nos prende às imagens de mundo do passado, capaz de afastar da política os melhores quadros. Não deve causar entusiasmo levantar da cama na segunda pela manhã sabendo de uma reunião com Arthur Lira. Ou discutir questões atuariais com Carlos Lupi. O desaforado filósofo Sócrates escolheu tomar cicuta para demonstrar na prática ao povo de Atenas sua descrença na democracia, como escrito por I.F. Stone em “O julgamento de Sócrates”. Passados alguns séculos, com algumas graves guerras pela História, e a ortografia de Bolsonaro, as instituições ganharam camadas de proteção. Mas sempre escapa uma Carla Zambelli por baixo da porta.
O historiador Robert Paxton, em sua “Anatomia do fascismo”, caminha pelo surgimento das representações políticas modernas. Ao buscar as raízes do nascimento dos extremismos de direita, mostra a reação das elites ao voto universal, ao surgimento do político profissional (o primeiro Parlamento a dar salário a deputados foi o francês, ainda no século XIX) e a manipulação do eleitorado. Colocado em prática na eleição de 1848, Luís Napoleão (sobrinho do Imperador) foi eleito com ampla maioria (74%) — depois deu um golpe. O velho Marx errou sua aposta ao imaginar a vitória do proletariado sobre a burguesia. Nem ele, tampouco Engels, imaginavam a possibilidade de os trabalhadores votarem num representante das elites (o patrão, na linguagem usual). Parece a surpresa dos democratas ao ser novamente derrotados por Donald Trump.
A extrema direita sempre mostrou habilidades na manipulação dos eleitores nos momentos de crise econômica ou de mudanças nos processos de produção (lá, a Revolução Industrial; agora, a Revolução Digital). Ninguém deve esquecer que tanto Mussolini como Hitler foram eleitos. E já pregavam várias de suas atrocidades.
Mesmo com a volta à democracia, o sistema eleitoral brasileiro sempre se mostrou imperfeito. Nunca houve modelo capaz de representar mais fielmente a vontade popular. Agravando as distorções, na véspera de cada eleição os políticos promovem mudanças em benefício próprio. Em poucos anos, o fundo eleitoral se transformou num maná, surgiram as emendas secretas (e bilionárias) somadas à manipulação das redes sociais.
Sem reforma eleitoral, com um novo sistema, a começar pelo voto distrital, o eleitor manipulado continuará a ser uma arma contra a democracia. A continuar assim, a política permanecerá na mão dos profissionais pagos pelo próprio povo. Como 315 deputados votam para inocentar alguém que quis dar um golpe? Seriam eles representantes da maioria ou instrumento de um grupo minoritário? A manobra de Hugo Motta para aumentar, e não diminuir, o número de deputados novamente deturpa a representação. Mas hoje ele é a face eleita do Brasil.
Miguel de Almeida
A única coisa de jeito que podemos aprender com Trump
Sim, Donald Trump é um perigo ambulante, um narcisista descontrolado com pouquíssimo amor às regras da democracia e sem qualquer respeito pelas suas instituições. Já sabemos tudo isto de cor e salteado. Mas há um aspecto da sua governação a que convém prestar atenção, porque podemos aprender alguma coisa com ele. Estima-se que desde o início deste seu segundo mandato Donald Trump já tenha emitido cerca de 140 ordens executivas, entre questões de imigração, educação ou ambiente. É um recorde absoluto. Por um lado, Trump toma essa opção para fugir a possíveis bloqueios do congresso, e fazer o que lhe dá na real gana. Mas, por outro lado – e é esse o lado que me interessa discutir hoje aqui –, há um claro desejo de reclamar mais força para o poder executivo. E esse desejo não me parece tão despropositado assim. Vale a pena explicar porquê.
Uma das coisas que sempre me impressionaram quando ocasionalmente conversei com pessoas que é suposto terem poder – ministros, presidentes de câmaras, diretores de grandes instituições ligadas ao Estado – foi a enorme quantidade de queixas acerca daquilo que “não se consegue fazer”. Não porque a oposição o impedisse ou lhes faltasse apoio político, mas porque o “sistema” não deixava: as leis eram complexas, a regulação uma tortura, os serviços insuficientes, a burocracia infrene. Queriam fazer, mas não conseguiam. Este sentimento de impotência existe mesmo, e é muito significativo por parte de políticos eleitos. Eles jamais o admitem em público, para não fazerem figura de fraca gente, mas queixam-se abundantemente disso em privado.
Nos Estados Unidos, passa-se o mesmo, ainda com maior intensidade. A oposição entre “Mainstreet” e “Wall Street”, de que tantas vezes ouvimos falar, deriva daqui: da existência de poderes fácticos que, segundo os mais descontentes, têm tornado praticamente inútil o voto – o poder está capturado pelo chamado “deep state”, e é este “Estado profundo”, obscuro e sem escrutínio, que a direita de Trump quer desmantelar (dizem eles). Sendo esse o objetivo, esta segunda vaga trumpista tem vindo a utilizar intensivamente uma táctica conhecida como “flood the zone” – “inundar a área” –, alegada criação do guru Steve Bannon, que consiste em avançar muito rapidamente contra aquilo que se quer derrubar, emitindo um vendaval de ordens executivas e de declarações altamente controversas. A ideia é que ninguém consiga acompanhar o ritmo: nem a oposição, nem os tribunais, nem a comunicação social, que são obrigados a escolher dez ou 20 lutas e indignações, e a deixar passar as outras 120 ou 130.
A estratégia é forte e é bruta, e, dada a falta de amor à democracia de Donald Trump, é também altamente perigosa. Mas ela corresponde a uma inquietação genuína. Quando Trump obtém 77 milhões de votos, nós achamos que há 77 milhões de americanos a concordar com as suas ideias. Pode não ser isso. Basta que concordem com ele numa única grande ideia: não querer que as coisas fiquem como estão. Não se trata, pois, de opor esquerda e direita, mas mudança e imobilidade. Muita gente não gosta de Trump, mas vê nele o político certo para que o poder executivo volte efetivamente a “executar”, sem ficar capturado numa rede de interesses subterrâneos com imenso poder, mas sem legitimidade democrática. Há aqui muita teoria de conspiração? Sim, há. Mas há também um fundo de verdade, que seria bom que os verdadeiros democratas começassem a levar a sério.
João Miguel Tavares
Uma das coisas que sempre me impressionaram quando ocasionalmente conversei com pessoas que é suposto terem poder – ministros, presidentes de câmaras, diretores de grandes instituições ligadas ao Estado – foi a enorme quantidade de queixas acerca daquilo que “não se consegue fazer”. Não porque a oposição o impedisse ou lhes faltasse apoio político, mas porque o “sistema” não deixava: as leis eram complexas, a regulação uma tortura, os serviços insuficientes, a burocracia infrene. Queriam fazer, mas não conseguiam. Este sentimento de impotência existe mesmo, e é muito significativo por parte de políticos eleitos. Eles jamais o admitem em público, para não fazerem figura de fraca gente, mas queixam-se abundantemente disso em privado.
Nos Estados Unidos, passa-se o mesmo, ainda com maior intensidade. A oposição entre “Mainstreet” e “Wall Street”, de que tantas vezes ouvimos falar, deriva daqui: da existência de poderes fácticos que, segundo os mais descontentes, têm tornado praticamente inútil o voto – o poder está capturado pelo chamado “deep state”, e é este “Estado profundo”, obscuro e sem escrutínio, que a direita de Trump quer desmantelar (dizem eles). Sendo esse o objetivo, esta segunda vaga trumpista tem vindo a utilizar intensivamente uma táctica conhecida como “flood the zone” – “inundar a área” –, alegada criação do guru Steve Bannon, que consiste em avançar muito rapidamente contra aquilo que se quer derrubar, emitindo um vendaval de ordens executivas e de declarações altamente controversas. A ideia é que ninguém consiga acompanhar o ritmo: nem a oposição, nem os tribunais, nem a comunicação social, que são obrigados a escolher dez ou 20 lutas e indignações, e a deixar passar as outras 120 ou 130.
A estratégia é forte e é bruta, e, dada a falta de amor à democracia de Donald Trump, é também altamente perigosa. Mas ela corresponde a uma inquietação genuína. Quando Trump obtém 77 milhões de votos, nós achamos que há 77 milhões de americanos a concordar com as suas ideias. Pode não ser isso. Basta que concordem com ele numa única grande ideia: não querer que as coisas fiquem como estão. Não se trata, pois, de opor esquerda e direita, mas mudança e imobilidade. Muita gente não gosta de Trump, mas vê nele o político certo para que o poder executivo volte efetivamente a “executar”, sem ficar capturado numa rede de interesses subterrâneos com imenso poder, mas sem legitimidade democrática. Há aqui muita teoria de conspiração? Sim, há. Mas há também um fundo de verdade, que seria bom que os verdadeiros democratas começassem a levar a sério.
João Miguel Tavares
Assinar:
Comentários (Atom)