
domingo, 6 de agosto de 2017
Reformar para pior
Depois de a Câmara dos Deputados rejeitar a continuidade das investigações da denúncia de corrupção contra o presidente Michel Temer, as reformas voltaram à baila. Mas com sinal invertido. As da Previdência e tributária, essenciais à saúde econômica do país, têm menos chance de sair do papel do que o arremedo de reforma política que o Congresso pretende aprovar até 2 de outubro, data limite para alterar regras quanto ao pleito de 2018.
Até aí, nada de novo. O script sempre se repete no ano que antecede eleições, com o digníssimo propósito de garantir benefícios aos que já têm mandato. O eleitor? Ele que se dane. Melhor ainda se ele não questionar as mudanças e seus propósitos.
Claro que há boas ideias. Mas, por contrariar interesses dos eleitos, elas acabam engavetadas.
Em novembro do ano passado, o Senado aprovou a cláusula de barreira, mecanismo que impede a proliferação endêmica de partidos políticos, e o fim das coligações em eleições proporcionais. As matérias não foram votadas pela Câmara, que, pelas mãos do deputado Vicente Cândido (PT-SP), se debruça em outro projeto de reforma, sob o argumento de ser mais ampla.
E ela até poderia ser caso o interesse não fosse o de garantir a própria pele. A tentativa de emplacar a “emenda Lula”, que proíbe prender políticos até oito meses antes da eleição, é prova cabal disso.
O relatório, que deve ser votado na comissão especial ainda este mês, prevê instrumentos inéditos no Brasil, alguns bastante avançados como a possibilidade de recall para revogação de mandatos de presidente, governador, prefeito e senador. Traz ainda a combinação de voto proporcional com distrital, neste caso com candidatos definidos previamente pelo partido e apresentados em lista fechada, escondendo-os do eleitor. Em sintonia com o século 21, autoriza a propaganda paga na internet, e retrocede décadas ao aumentar as regalias de gênero, estabelecendo mais vantagens para candidatas.
Mas o ponto central, o único que interessa aos políticos, é o financiamento público das eleições, pago pelo contribuinte sem perguntar ao eleitor se ele topa ou não custear candidaturas.
Se aprovada -- talvez até com esquisitices como o Distritão, que só existe na Jordânia, no Afeganistão e em duas ilhas do Pacífico, Vanuatu e Pitcairn, mas é defendido por Temer e por parcela significativa dos seus apoiadores --, a matéria terá de voltar ao Senado. Lá, pode ser corrigida ou ainda mais vitimada.
Entre os senadores, a tese do parlamentarismo ressurge – o que sempre acontece quando o país se vê diante de crises - e pode se tornar mais robusta se o tucano José Serra assumir a relatoria da Comissão que tratará do tema.
Ideia, no mínimo, extemporânea. Não devido ao fato de o sistema ter sido rejeitado em plebiscito por duas vezes, em 1963 e 1993. Mas pela necessidade de, antes de adotá-lo, estabelecer vínculos entre o Parlamento e o país, elo que se perdeu há tempos e que não será fácil reconstruir.
Ainda que o parlamentarismo seja um regime de governo com características democráticas indiscutíveis, sua adoção depende de premissas que o Brasil não exibe hoje. E está longe de alcançar. A primeira delas é ter um Legislativo em que o cidadão confie. Que verdadeiramente represente os interesses do eleitor e não o dos que lá se assentam.
Para tal, além de antídoto para sem-vergonhice, seria obrigatório rever os critérios de proporcionalidade, revogando de vez o Pacote de Abril do governo Geisel, e o sistema eleitoral, adotando voto distrital puro ou misto, mais compatível com o parlamentarismo. O modelo também não combina com o voto obrigatório. Portanto, seria imprescindível facultá-lo ao eleitor.
O país teria muito a ganhar em um debate sobre regime de governo e sistemas eleitorais, mas nunca se faz isso a sério. Entra ano, sai ano, de eleição em eleição, todos são unânimes em dizer da essencialidade da reforma política, de se aproximar o eleitor do eleito. E o que se tem é a aprovação de remendos que só aumentam esse fosso.
Estejam certos, desta vez não será diferente.
Batizado com o nome pomposo de Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que, coitada, é aviltada cotidianamente, vem aí mais subvenção pública para custear campanhas eleitorais que o país não quer ver, com dinheiro que o país não tem.
Até aí, nada de novo. O script sempre se repete no ano que antecede eleições, com o digníssimo propósito de garantir benefícios aos que já têm mandato. O eleitor? Ele que se dane. Melhor ainda se ele não questionar as mudanças e seus propósitos.
Claro que há boas ideias. Mas, por contrariar interesses dos eleitos, elas acabam engavetadas.
Em novembro do ano passado, o Senado aprovou a cláusula de barreira, mecanismo que impede a proliferação endêmica de partidos políticos, e o fim das coligações em eleições proporcionais. As matérias não foram votadas pela Câmara, que, pelas mãos do deputado Vicente Cândido (PT-SP), se debruça em outro projeto de reforma, sob o argumento de ser mais ampla.
E ela até poderia ser caso o interesse não fosse o de garantir a própria pele. A tentativa de emplacar a “emenda Lula”, que proíbe prender políticos até oito meses antes da eleição, é prova cabal disso.
O relatório, que deve ser votado na comissão especial ainda este mês, prevê instrumentos inéditos no Brasil, alguns bastante avançados como a possibilidade de recall para revogação de mandatos de presidente, governador, prefeito e senador. Traz ainda a combinação de voto proporcional com distrital, neste caso com candidatos definidos previamente pelo partido e apresentados em lista fechada, escondendo-os do eleitor. Em sintonia com o século 21, autoriza a propaganda paga na internet, e retrocede décadas ao aumentar as regalias de gênero, estabelecendo mais vantagens para candidatas.
Mas o ponto central, o único que interessa aos políticos, é o financiamento público das eleições, pago pelo contribuinte sem perguntar ao eleitor se ele topa ou não custear candidaturas.
Se aprovada -- talvez até com esquisitices como o Distritão, que só existe na Jordânia, no Afeganistão e em duas ilhas do Pacífico, Vanuatu e Pitcairn, mas é defendido por Temer e por parcela significativa dos seus apoiadores --, a matéria terá de voltar ao Senado. Lá, pode ser corrigida ou ainda mais vitimada.
Entre os senadores, a tese do parlamentarismo ressurge – o que sempre acontece quando o país se vê diante de crises - e pode se tornar mais robusta se o tucano José Serra assumir a relatoria da Comissão que tratará do tema.
Ideia, no mínimo, extemporânea. Não devido ao fato de o sistema ter sido rejeitado em plebiscito por duas vezes, em 1963 e 1993. Mas pela necessidade de, antes de adotá-lo, estabelecer vínculos entre o Parlamento e o país, elo que se perdeu há tempos e que não será fácil reconstruir.
Ainda que o parlamentarismo seja um regime de governo com características democráticas indiscutíveis, sua adoção depende de premissas que o Brasil não exibe hoje. E está longe de alcançar. A primeira delas é ter um Legislativo em que o cidadão confie. Que verdadeiramente represente os interesses do eleitor e não o dos que lá se assentam.
Para tal, além de antídoto para sem-vergonhice, seria obrigatório rever os critérios de proporcionalidade, revogando de vez o Pacote de Abril do governo Geisel, e o sistema eleitoral, adotando voto distrital puro ou misto, mais compatível com o parlamentarismo. O modelo também não combina com o voto obrigatório. Portanto, seria imprescindível facultá-lo ao eleitor.
O país teria muito a ganhar em um debate sobre regime de governo e sistemas eleitorais, mas nunca se faz isso a sério. Entra ano, sai ano, de eleição em eleição, todos são unânimes em dizer da essencialidade da reforma política, de se aproximar o eleitor do eleito. E o que se tem é a aprovação de remendos que só aumentam esse fosso.
Estejam certos, desta vez não será diferente.
Batizado com o nome pomposo de Fundo Especial de Financiamento da Democracia, que, coitada, é aviltada cotidianamente, vem aí mais subvenção pública para custear campanhas eleitorais que o país não quer ver, com dinheiro que o país não tem.
Artigo de imitação
A democracia no Brasil lembra uma dessas fotos antigas de reis africanos que de vez em quando ilustram livros de história. Muitos deles, ouvindo oficiais do Império Britânico ou outros figurões europeus da época colonial que lhes davam lições de civilização, progresso e bons modos, parecem encantados. Acreditavam, como lhes era dito, que a Europa e as coisas europeias representavam o máximo a ser sonhado por um ser humano — e em geral chegavam à conclusão de que teriam muito a ganhar transformando a si próprios em soberanos civilizados o mais depressa possível. O meio prático de fazer isso, em sua maneira de ver as coisas, era imitar os trajes, jeitos e enfeites dos peixes graúdos que lhes falavam das maravilhas da rainha Vitória ou do imperador Napoleão III. Que atalho melhor para atingir esse estágio superior na evolução das sociedades humanas? O resultado aparece nas fotografias. As mais clássicas mostram uns negros magros, ou gordíssimos, com uma cartola de segunda mão na cabeça, ou um desses capacetes de caçador inglês, calças rasgadas aqui e ali, pés descalços — ou calçados com uma bota só, velha e sem graxa. Uns aparecem com casacas usadas, uma fileira de medalhas no peito e três ou quatro relógios saindo dos bolsos. Outros fazem questão de exibir-se para a câmera segurando um guarda-chuva aberto. É triste. Imaginavam-se nobres, modernos e iguais aos seus pares europeus. Eram apenas uns pobres coitados.
O problema é que nada tinha mudado na vida real. Junto com as novas roupas e os acessórios, as fotos mostram que os retratados conservavam, como sempre, seus colares com ossos, pulseiras de metal e argolas na orelha ou no nariz — e a história iria provar com fatos, em seguida, quanto foi inútil todo esse esforço de imitação. Das nações mais evoluídas, suas majestades copiavam os trajes. Não aprenderam as virtudes. Continuaram desgraçando a si e a seu país enquanto eram roubados até o último papagaio pelos que vieram ensiná-los a ter valores cristãos, avançados e democráticos.

Por outras vias, acontece no Brasil mais ou menos a mesma coisa. Na fotografia aparece uma democracia de Primeiro Mundo — mas a realidade do dia a dia mostra pouco mais que uma cópia barata e malsucedida do artigo legítimo. Temos uma Constituição, eleições a cada dois anos e uma Câmara de Deputados. Temos, imaginem só, um Senado e até um presidente do Senado. Temos um Supremo Tribunal Federal e até uma presidenta do Supremo Tribunal Federal; seus juízes se chamam ministros, usam togas pretas como os reis africanos usavam cartolas, e escrevem (às vezes até uma frase inteira) em latim. Temos partidos políticos. Temos procuradores gerais, parciais, federais, estaduais, municipais, especializados em acidentes do trabalho, patrimônio histórico, meio ambiente, infância, urbanismo e praticamente todas as demais áreas da atividade humana. Temos uma Justiça Eleitoral. Temos centenas de direitos legais, inclusive ao lazer, à moradia e ao amparo, se formos desamparados. Não falta nada — a não ser a democracia.
Pode passar pela cabeça de alguém que exista democracia num país com 60 000 homicídios por ano?
Em matéria de democracia, como em tantas outras coisas que separam as nações desenvolvidas das subdesenvolvidas, o Brasil ficou só na foto. Há uma Constituição, é claro, pois todo regime democrático precisa de uma — mas ela tem 250 artigos, que se metem a regular tudo, até a licença-paternidade, sem entregar realmente nada, e já foi modificada mais de 100 vezes em menos de trinta anos. As eleições são subordinadas a todo tipo de patifaria, a começar pelo voto obrigatório, seguido do horário eleitoral compulsório no rádio e na televisão e de deformações propositais que entopem a Câmara dos Deputados com políticos das regiões que têm menor número de eleitores. Os resultados são um monumento à demagogia, à corrupção e à estupidez. Dos quatro presidentes eleitos após a volta das eleições diretas, em 1989, dois foram depostos por impeachment e um está condenado a nove anos e meio de cadeia. Dos 513 deputados e 81 senadores, cerca de 40% respondem a algum tipo de procedimento penal, a maioria por corrupção — fora das penitenciárias, é a maior concentração de criminosos em potencial por metro quadrado que existe no território nacional. Na última campanha presidencial, a candidata Dilma Rousseff gastou 300 milhões de reais, boa parte fornecidos pelos maiores criminosos confessos do Brasil. O eleitorado, em grande parcela, é ignorante, desinformado e desinteressado pelos seus direitos. Temos uma aberração, a Justiça Eleitoral, que existe para dar ao país eleições exemplares — mas permite a produção dos políticos mais ladrões do mundo.
O Supremo Tribunal Federal, que na teoria tem a função de servir como o nível máximo da Justiça brasileira, é uma contrafação da corte suprema dos países desenvolvidos. Seu último feito, possivelmente sem similar em nenhuma outra nação, foi aprovar o perdão perpétuo para o autor confesso de mais de 200 crimes, dono de um patrimônio de bilhões de dólares, atendendo a um pedido até hoje inexplicável do procurador-geral da República — que, também na teoria, é encarregado justamente de pedir a punição dos criminosos. Seus juízes decidem tudo, do destino dos presidentes ao furto de codornas, e escrevem sentenças em português incompreensível. Temos 35 partidos políticos, que se reproduzem como ratos; alguns não têm um único deputado ou senador no Congresso. Essa monstruosidade não tem nada a ver com liberdade política. Quase todos os partidos brasileiros são criados apenas para meter a mão nas verbas de um “fundo partidário”, que já anda perto de 1 bilhão de reais por ano, tirados dos impostos pagos pelos contribuintes e distribuídos aos políticos. Recebem uma cota de tempo no horário eleitoral obrigatório, que põem à venda nos anos em que há eleição; também cobram para aceitar a inscrição de candidatos. Até outro dia, com o apoio em massa dos partidos de “esquerda”, o Brasil era talvez o único país onde se defendia um imposto, o imposto sindical, como se fosse um direito do cidadão — da mesma maneira como se transforma o voto, que é um direito, em obrigação legal.
Os direitos dos cidadãos, na verdade, talvez representem a área mais notável das semelhanças entre a democracia brasileira e os reis africanos que aparecem nas fotos-símbolo do colonialismo.
Nunca houve tantos direitos escritos nas leis; nunca o poder público foi tão incompetente para mantê-los. Não consegue, para desgraça geral, garantir nem o mais importante de todos eles — o direito à vida. Com 60 000 assassinatos por ano, o Brasil é hoje um dos países onde a vida humana tem o menor valor. Há uma recusa sistemática em combater o crime por parte de nove entre dez políticos com algum peso; o maior pavor deles é ser considerados, por causa disso, como gente da “direita”. Acham melhor, como as classes intelectuais, os comunicadores e os bispos, falar mal da polícia. Pode passar pela cabeça de alguém que exista democracia num país que tem 60 000 homicídios por ano?
A democracia, até agora, é uma experiência que não deu certo por aqui.
O problema é que nada tinha mudado na vida real. Junto com as novas roupas e os acessórios, as fotos mostram que os retratados conservavam, como sempre, seus colares com ossos, pulseiras de metal e argolas na orelha ou no nariz — e a história iria provar com fatos, em seguida, quanto foi inútil todo esse esforço de imitação. Das nações mais evoluídas, suas majestades copiavam os trajes. Não aprenderam as virtudes. Continuaram desgraçando a si e a seu país enquanto eram roubados até o último papagaio pelos que vieram ensiná-los a ter valores cristãos, avançados e democráticos.

Pode passar pela cabeça de alguém que exista democracia num país com 60 000 homicídios por ano?
Em matéria de democracia, como em tantas outras coisas que separam as nações desenvolvidas das subdesenvolvidas, o Brasil ficou só na foto. Há uma Constituição, é claro, pois todo regime democrático precisa de uma — mas ela tem 250 artigos, que se metem a regular tudo, até a licença-paternidade, sem entregar realmente nada, e já foi modificada mais de 100 vezes em menos de trinta anos. As eleições são subordinadas a todo tipo de patifaria, a começar pelo voto obrigatório, seguido do horário eleitoral compulsório no rádio e na televisão e de deformações propositais que entopem a Câmara dos Deputados com políticos das regiões que têm menor número de eleitores. Os resultados são um monumento à demagogia, à corrupção e à estupidez. Dos quatro presidentes eleitos após a volta das eleições diretas, em 1989, dois foram depostos por impeachment e um está condenado a nove anos e meio de cadeia. Dos 513 deputados e 81 senadores, cerca de 40% respondem a algum tipo de procedimento penal, a maioria por corrupção — fora das penitenciárias, é a maior concentração de criminosos em potencial por metro quadrado que existe no território nacional. Na última campanha presidencial, a candidata Dilma Rousseff gastou 300 milhões de reais, boa parte fornecidos pelos maiores criminosos confessos do Brasil. O eleitorado, em grande parcela, é ignorante, desinformado e desinteressado pelos seus direitos. Temos uma aberração, a Justiça Eleitoral, que existe para dar ao país eleições exemplares — mas permite a produção dos políticos mais ladrões do mundo.
O Supremo Tribunal Federal, que na teoria tem a função de servir como o nível máximo da Justiça brasileira, é uma contrafação da corte suprema dos países desenvolvidos. Seu último feito, possivelmente sem similar em nenhuma outra nação, foi aprovar o perdão perpétuo para o autor confesso de mais de 200 crimes, dono de um patrimônio de bilhões de dólares, atendendo a um pedido até hoje inexplicável do procurador-geral da República — que, também na teoria, é encarregado justamente de pedir a punição dos criminosos. Seus juízes decidem tudo, do destino dos presidentes ao furto de codornas, e escrevem sentenças em português incompreensível. Temos 35 partidos políticos, que se reproduzem como ratos; alguns não têm um único deputado ou senador no Congresso. Essa monstruosidade não tem nada a ver com liberdade política. Quase todos os partidos brasileiros são criados apenas para meter a mão nas verbas de um “fundo partidário”, que já anda perto de 1 bilhão de reais por ano, tirados dos impostos pagos pelos contribuintes e distribuídos aos políticos. Recebem uma cota de tempo no horário eleitoral obrigatório, que põem à venda nos anos em que há eleição; também cobram para aceitar a inscrição de candidatos. Até outro dia, com o apoio em massa dos partidos de “esquerda”, o Brasil era talvez o único país onde se defendia um imposto, o imposto sindical, como se fosse um direito do cidadão — da mesma maneira como se transforma o voto, que é um direito, em obrigação legal.
Os direitos dos cidadãos, na verdade, talvez representem a área mais notável das semelhanças entre a democracia brasileira e os reis africanos que aparecem nas fotos-símbolo do colonialismo.
Nunca houve tantos direitos escritos nas leis; nunca o poder público foi tão incompetente para mantê-los. Não consegue, para desgraça geral, garantir nem o mais importante de todos eles — o direito à vida. Com 60 000 assassinatos por ano, o Brasil é hoje um dos países onde a vida humana tem o menor valor. Há uma recusa sistemática em combater o crime por parte de nove entre dez políticos com algum peso; o maior pavor deles é ser considerados, por causa disso, como gente da “direita”. Acham melhor, como as classes intelectuais, os comunicadores e os bispos, falar mal da polícia. Pode passar pela cabeça de alguém que exista democracia num país que tem 60 000 homicídios por ano?
A democracia, até agora, é uma experiência que não deu certo por aqui.
Pendurado no vento
O governo Michel Temer, que começou no rastro de um impeachment, já com uma carga naturalmente dramática, conquistou agora uma segunda chance. Não pode desperdiçá-la, mas o presidente consumiu sua energia política e seu “poder de convencimento” garantindo os votos na Câmara contra a denúncia da PGR e não cuidou de algo essencial: uma agenda que, além de sacudir o governo e o Congresso, mobilize a opinião pública.
Até o furacão JBS, Temer se esforçava para “descolar” a economia da crise política. Depois, concentrou-se em “descolar” os votos do Congresso da sua rejeição popular. Deu certo. Barrou a denúncia, apesar dos míseros 5% de popularidade, algo que só um congressista muito experiente como ele conseguiria.

A vitória na Câmara, porém, não encerra a crise, nem a fragilidade do governo, e a única carta na manga de Temer para manter a esperança do setor privado e o fio de ligação com a opinião pública está sendo... a reforma da Previdência, que não é nada popular e os parlamentares estão a quase um ano das eleições.
Assim, o ministro Henrique Meirelles desagradou o Planalto ao acenar, publicamente, com a possibilidade de votação da reforma da Previdência até outubro. Foi um excesso de otimismo que tende a se transformar rapidamente numa grande frustração e deixa o governo pendurado no vento.
Incomodado, Temer despachou o articulador do governo, Antônio Imbassahy, para almoçar com Rodrigo Maia na sexta-feira, na residência oficial da presidência da Câmara. Afinal, quem define a pauta e o cronograma da Câmara e do Senado não é o ministro da Fazenda e sim os presidentes das duas Casas, Maia e o senador Eunício Oliveira.
Imbassahy tem sido o bombeiro nos incêndios entre o Planalto e Rodrigo Maia, depois que a situação de Temer se deteriorou a ponto de o mercado financeiro e o senador Tasso Jereissati, presidente interino do PSDB (partido de Imbassahy), admitirem com naturalidade a troca de Temer por Maia. Outros palacianos passaram a olhar com desconfiança para o “sucessor”, mas Imbassahy tratou de desfazer intrigas.
Se, em algum momento, Rodrigo Maia foi picado pela mosca azul, logo recuou. Ele é mais novo do que as feras do governo e do Congresso, mas não é bobo. Assumir o Planalto com tantas turbulências, a recuperação frágil da economia, a sociedade mal-humorada e o PT precisando ressuscitar? Portanto, pesaram o senso de lealdade, mas também o cálculo político: tudo tem sua hora.
E qual a avaliação de Maia sobre as chances da reforma da Previdência ainda neste ano? Realista, com seu jeitão de dizer as coisas diretamente, sem subterfúgios, ele admite: “É muito difícil”. Ninguém perde ou ganha eleição por votar contra a denúncia de Temer, por mais que ele tenha recorde negativo nas pesquisas, mas votar numa reforma vendida pela esquerda como arma para “tirar direitos dos mais pobres” pode, sim, interferir nas ambições eleitorais de 2018.
Enquanto o governo distrai a plateia com a reforma da Previdência, o Congresso trabalha na reforma política. Sem mudar o sistema, continuam a proliferação de legendas e o naufrágio dos principais partidos, com cidadãos honestos destruindo suas biografias como políticos. Mas, até agora, a reforma só chega a três pontos: cláusula de barreira para reduzir o número de partidos, troca do voto proporcional pelo “distritão” e fim das coligações partidárias.
E essa pauta não é do Planalto, é do Congresso. Não resolve a falta de marca e de agenda de um governo que só fala em cortar despesas, aumentar impostos e rever o teto de gastos que ele próprio acaba de criar a duras penas. Conclusão: Temer conseguiu manter o mandato, mas ainda não mostrou exatamente para quê.
Eliane Cantanhêde
Até o furacão JBS, Temer se esforçava para “descolar” a economia da crise política. Depois, concentrou-se em “descolar” os votos do Congresso da sua rejeição popular. Deu certo. Barrou a denúncia, apesar dos míseros 5% de popularidade, algo que só um congressista muito experiente como ele conseguiria.

A vitória na Câmara, porém, não encerra a crise, nem a fragilidade do governo, e a única carta na manga de Temer para manter a esperança do setor privado e o fio de ligação com a opinião pública está sendo... a reforma da Previdência, que não é nada popular e os parlamentares estão a quase um ano das eleições.
Assim, o ministro Henrique Meirelles desagradou o Planalto ao acenar, publicamente, com a possibilidade de votação da reforma da Previdência até outubro. Foi um excesso de otimismo que tende a se transformar rapidamente numa grande frustração e deixa o governo pendurado no vento.
Incomodado, Temer despachou o articulador do governo, Antônio Imbassahy, para almoçar com Rodrigo Maia na sexta-feira, na residência oficial da presidência da Câmara. Afinal, quem define a pauta e o cronograma da Câmara e do Senado não é o ministro da Fazenda e sim os presidentes das duas Casas, Maia e o senador Eunício Oliveira.
Imbassahy tem sido o bombeiro nos incêndios entre o Planalto e Rodrigo Maia, depois que a situação de Temer se deteriorou a ponto de o mercado financeiro e o senador Tasso Jereissati, presidente interino do PSDB (partido de Imbassahy), admitirem com naturalidade a troca de Temer por Maia. Outros palacianos passaram a olhar com desconfiança para o “sucessor”, mas Imbassahy tratou de desfazer intrigas.
Se, em algum momento, Rodrigo Maia foi picado pela mosca azul, logo recuou. Ele é mais novo do que as feras do governo e do Congresso, mas não é bobo. Assumir o Planalto com tantas turbulências, a recuperação frágil da economia, a sociedade mal-humorada e o PT precisando ressuscitar? Portanto, pesaram o senso de lealdade, mas também o cálculo político: tudo tem sua hora.
E qual a avaliação de Maia sobre as chances da reforma da Previdência ainda neste ano? Realista, com seu jeitão de dizer as coisas diretamente, sem subterfúgios, ele admite: “É muito difícil”. Ninguém perde ou ganha eleição por votar contra a denúncia de Temer, por mais que ele tenha recorde negativo nas pesquisas, mas votar numa reforma vendida pela esquerda como arma para “tirar direitos dos mais pobres” pode, sim, interferir nas ambições eleitorais de 2018.
Enquanto o governo distrai a plateia com a reforma da Previdência, o Congresso trabalha na reforma política. Sem mudar o sistema, continuam a proliferação de legendas e o naufrágio dos principais partidos, com cidadãos honestos destruindo suas biografias como políticos. Mas, até agora, a reforma só chega a três pontos: cláusula de barreira para reduzir o número de partidos, troca do voto proporcional pelo “distritão” e fim das coligações partidárias.
E essa pauta não é do Planalto, é do Congresso. Não resolve a falta de marca e de agenda de um governo que só fala em cortar despesas, aumentar impostos e rever o teto de gastos que ele próprio acaba de criar a duras penas. Conclusão: Temer conseguiu manter o mandato, mas ainda não mostrou exatamente para quê.
Eliane Cantanhêde
Privilégio que mata
Não se dá sem tirar
O gasto irresponsável de um governo dura até acabar o dinheiro dos contribuintes. Quando acaba, é necessário emitir moeda para honrar compromissos oficiais. A injeção de liquidez para tapar o rombo impulsiona artificialmente a procura de bens que ainda não foram produzidos.
O fenômeno que se segue é a inflação, que corrói o valor da moeda tirando poder de compra aos salários. Equacionam-se a procura e a demanda. Mais dinheiro com menor poder de compra, ou seja, uma farsa.

O caso das aposentadorias pagas pela União chega a ser surreal quando comparado às maiores economias do planeta. No Brasil arrecada-se muito, mas paga-se até dez vezes mais para o setor público. Embora não seja a única razão de desequilíbrio, agravam-se substancialmente as contas públicas.
Em 2012, a presidente Dilma sancionou a Lei 12.618, que institui o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), gerando um teto único entre aposentadorias pública e privada; as eventuais diferenças serão pagas em regime de sustentabilidade pelos fundos, eximindo assim a Previdência da União de arcar com as diferenças.
A regra, entretanto, vale para quem entra hoje e terá efeitos mais relevantes a partir de 2050. Até lá o déficit previdenciário será pago pela União, quer dizer, pelo contribuinte via arrecadação de impostos.
O que ocorreu em 2015 e continua em 2017 deriva, em parcela preponderante, das elevadas aposentadorias que beneficiam um universo de 980 mil servidores públicos inativos, que representam 2,9% de todos os aposentados. Em 2015 o déficit referente aos servidores foi de R$ 92,9 bilhões, proveniente da diferença entre a entrada por desconto em folha de R$ 12,6 bilhões e os pagamentos de R$ 105,5 bilhões a título de aposentadorias.
A média da aposentadoria “pública”, para os 980 mil beneficiados, era em 2015 de R$ 8.950 por mês, com déficit médio por aposentado de R$ 7.900, ou R$ 94,8 mil por ano; a correspondente “privada” registrou a média de R$ 1.255 para os 18,5 milhões de aposentados, com déficit médio mensal 19 vezes menor que o correspondente “público”, R$ 400 (contra R$ 7.900).
As contas da União precisarão arcar – até a Lei 12.618, sancionada por Dilma, gerar efeitos – com um rombo anual “público” próximo de R$ 100 bilhões para pagar apenas 3% do universo de aposentados no Brasil.
Hoje cem trabalhadores arcam com 13 aposentados, já em 2060 deverão arcar com 63. Isso é inconcebível, já que os 13 de hoje já geram um déficit assombroso.
Embora entenda-se que qualquer reforma seja vista como uma agressão aos trabalhadores, o déficit da Previdência, especialmente do setor “público”, ou de apenas 3% do universo brasileiro, aniquila a lógica e a capacidade de se sustentar. Hoje, entrelaçado com o “privado”, não se mostra tão impraticável, mas a cada dia será mais diferenciado, evidente e impagável.
Muitos pagarão a conta de poucos, e os muitos são exatamente os trabalhadores da economia privada. Apenas a presidente Dilma, por ser de esquerda e do PT, conseguiu aquilo em que todos os seus antecessores falharam, contando com o apoio de seu partido para aprovar uma medida que, ao menos, cola um limite no horizonte mais distante a cessão dos rombos atuais.
Entretanto, a progressão do envelhecimento da população deixa menor até a Lei 12.618.
Como propuseram analistas da esquerda, poder-se-ia congelar o que ultrapassa o teto da previdência privada e atender uma irredutibilidade constitucional. Isso também permitiria fazer-se justiça com melhores aumentos na base da pirâmide.
Por que não haver uma trégua e se discutir com maturidade? Tentar preservar um sistema que, antes de falir, deixará o país inteiro na bancarrota?
O “quanto pior, melhor”, que vale de regra universal na oposição, ou fora do governo, deveria ter uma trégua serena.
Embora o presidente não seja do PT, é recomendável haver uma discussão e abordagem objetivas. Uma análise de entradas e saídas, de possível, de recomendável, de saída da queda livre em que o sistema está lançado para a falência e ruína da nação.
Não tem cartola que possa compensar o tamanho desse déficit.
“O governo, seja de quem for, só pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém”.
O fenômeno que se segue é a inflação, que corrói o valor da moeda tirando poder de compra aos salários. Equacionam-se a procura e a demanda. Mais dinheiro com menor poder de compra, ou seja, uma farsa.

Em 2012, a presidente Dilma sancionou a Lei 12.618, que institui o Fundo de Previdência Complementar do Servidor Público Federal (Funpresp), gerando um teto único entre aposentadorias pública e privada; as eventuais diferenças serão pagas em regime de sustentabilidade pelos fundos, eximindo assim a Previdência da União de arcar com as diferenças.
A regra, entretanto, vale para quem entra hoje e terá efeitos mais relevantes a partir de 2050. Até lá o déficit previdenciário será pago pela União, quer dizer, pelo contribuinte via arrecadação de impostos.
O que ocorreu em 2015 e continua em 2017 deriva, em parcela preponderante, das elevadas aposentadorias que beneficiam um universo de 980 mil servidores públicos inativos, que representam 2,9% de todos os aposentados. Em 2015 o déficit referente aos servidores foi de R$ 92,9 bilhões, proveniente da diferença entre a entrada por desconto em folha de R$ 12,6 bilhões e os pagamentos de R$ 105,5 bilhões a título de aposentadorias.
A média da aposentadoria “pública”, para os 980 mil beneficiados, era em 2015 de R$ 8.950 por mês, com déficit médio por aposentado de R$ 7.900, ou R$ 94,8 mil por ano; a correspondente “privada” registrou a média de R$ 1.255 para os 18,5 milhões de aposentados, com déficit médio mensal 19 vezes menor que o correspondente “público”, R$ 400 (contra R$ 7.900).
As contas da União precisarão arcar – até a Lei 12.618, sancionada por Dilma, gerar efeitos – com um rombo anual “público” próximo de R$ 100 bilhões para pagar apenas 3% do universo de aposentados no Brasil.
Hoje cem trabalhadores arcam com 13 aposentados, já em 2060 deverão arcar com 63. Isso é inconcebível, já que os 13 de hoje já geram um déficit assombroso.
Embora entenda-se que qualquer reforma seja vista como uma agressão aos trabalhadores, o déficit da Previdência, especialmente do setor “público”, ou de apenas 3% do universo brasileiro, aniquila a lógica e a capacidade de se sustentar. Hoje, entrelaçado com o “privado”, não se mostra tão impraticável, mas a cada dia será mais diferenciado, evidente e impagável.
Muitos pagarão a conta de poucos, e os muitos são exatamente os trabalhadores da economia privada. Apenas a presidente Dilma, por ser de esquerda e do PT, conseguiu aquilo em que todos os seus antecessores falharam, contando com o apoio de seu partido para aprovar uma medida que, ao menos, cola um limite no horizonte mais distante a cessão dos rombos atuais.
Entretanto, a progressão do envelhecimento da população deixa menor até a Lei 12.618.
Como propuseram analistas da esquerda, poder-se-ia congelar o que ultrapassa o teto da previdência privada e atender uma irredutibilidade constitucional. Isso também permitiria fazer-se justiça com melhores aumentos na base da pirâmide.
Por que não haver uma trégua e se discutir com maturidade? Tentar preservar um sistema que, antes de falir, deixará o país inteiro na bancarrota?
O “quanto pior, melhor”, que vale de regra universal na oposição, ou fora do governo, deveria ter uma trégua serena.
Embora o presidente não seja do PT, é recomendável haver uma discussão e abordagem objetivas. Uma análise de entradas e saídas, de possível, de recomendável, de saída da queda livre em que o sistema está lançado para a falência e ruína da nação.
Não tem cartola que possa compensar o tamanho desse déficit.
“O governo, seja de quem for, só pode dar para alguém aquilo que tira de outro alguém”.
O rombo da meta moral
A meta fiscal do governo Temer, um déficit já bilionário, deve ser arrombada em breve. A irresponsabilidade com os gastos públicos continua, junto com o perdão de dívidas, a compra de votos e a farra de emendas. Essa parte da crise é matemática e não tem Henrique Meirelles que dê jeito. A conta das despesas deveria ser de subtração. Virou multiplicação – e deve piorar.
Seremos convocados mais uma vez a ajudar o pobre governo e as nobres Excelências a reduzir o vexame do descompromisso com o país. Extorsão seria uma palavra forte demais para definir possíveis aumentos de impostos? Crime seria uma palavra inadequada para qualificar o que pagamos para sustentar um Congresso fisiologista e uma máquina pública obesa, inchada de cargos e mordomias, arrotando torresmos com cachaça?
O rombo da meta moral é o outro lado da mesma moeda. E esse rombo não é matemático. O déficit dos políticos com a sociedade virou saco sem fundo após as duas últimas votações, da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e do plenário da Câmara Federal. Nem falo do espetáculo deprimente de dentadas em pixulecos, dinheiro falso jogado para o alto, lutas corporais e até tatuagem com nome do presidente no braço do deputado do Pará Wladimir Costa, acusado de desviar salários com funcionários fantasmas. “Doeu um pouco, mas eu me lembrava do Temer, passava a dor. Cada um com suas paixões.” Só aqui se vê uma cafonice dessas.
O desfecho da votação provocou uma ressaca histórica. O Brasil não esquecerá que a Câmara, com ajuda ostensiva ou omissa de partidos da situação e da oposição, barrou a investigação da denúncia de corrupção contra Michel Temer. A população sabe direitinho que os deputados não tinham a missão de absolver ou condenar o presidente. Eles simplesmente impediram o curso da Justiça, por medo da sentença do Supremo Tribunal Federal e também para salvar a própria pele. O voto foi para abafar o movimento contra a corrupção e dar esperança a bandidos presos.
Ignorou-se assim o maior escândalo já surgido contra um presidente da República no exercício do cargo. Um dossiê envolvendo de gravações a documentos, de delações a malas de dinheiro entregues ao homem de confiança, de encontros clandestinos no Palácio a conselhos nada republicanos. Tudo arquivado até o dia de São Nunca, porque só quem acredita em história da carochinha pensa que, ao sair da Presidência e perder o foro privilegiado, Temer acertará suas contas com a Justiça.
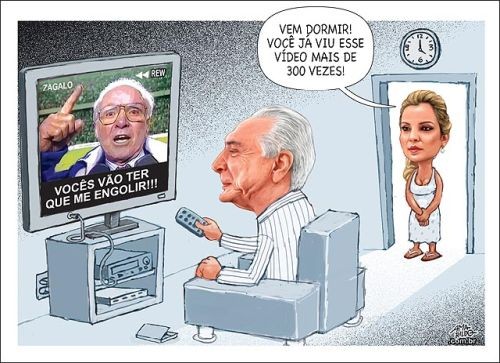
Ao referendar que as volumosas provas contra Temer não passariam de “peça de ficção”, a Câmara mostrou que de “representativa” não tem nada. Temer é rejeitado por mais de 90% de eleitores. O Brasil queria muito que Temer fosse investigado – e não só por não gostar dele. Era por uma questão de isonomia moral. De autoestima. De confiança na Lava Jato. Defender investigação contra quem, se um suspeito de crime de lesa-pátria se safa abrindo o cofre público, com seus malabarismos na língua e nos dedos? O que vale para um deveria valer para todos.
“Não somos salafrários”, afirmou o deputado federal Julio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. “Somos Excelências.” Lopes, secretário estadual de Transportes no governo de Sérgio Cabral, foi acusado de ter recebido R$ 4 milhões em propina de duas empreiteiras, a Odebrecht e a Queiroz Galvão. Julio figurava na lista de propinas como “Pavão”, “Bonitinho” e “Velhos”. O Rio lembra como Lopes, em janeiro de 2014, dava gargalhadas com os engenheiros da SuperVia quando um trem descarrilou na Zona Norte, provocando caos na vida dos passageiros. Lopes está indignado com a “criminalização da política” e é a favor de inocentar todos, “seja Lula, seja Temer”.
Em show de hipocrisia, a Câmara arrombou a meta moral do Brasil. Faltam bambu e flechas e assim o “quadrilhão” do PMDB se firma no poder até o fim de 2018. Com a ajuda inestimável de Aécio Neves, como provável coveiro do PSDB. E o silêncio cúmplice de Eduardo Cunha, que não tem nenhum interesse em abrir a boca. Cunha e os outros presos só aguardam a poeira baixar e o vento mudar, tanto na Procuradoria quanto no STF, onde Gilmar Mendes fala cada vez mais alto: “O STF também errou. O Supremo foi muito concessivo, contribuiu com essa bagunça completa. Ficou a reboque das loucuras do procurador (Rodrigo Janot)”.
Vamos ver quem conseguirá resgatar a meta moral do Brasil. A presidente do STF, Cármen Lúcia, já se disse contra aumento salarial de 16% para os juízes num país em crise. No Congresso, não há possibilidade de reforma mental de nossos parlamentares atuais. E ainda falam em parlamentarismo.
Seremos convocados mais uma vez a ajudar o pobre governo e as nobres Excelências a reduzir o vexame do descompromisso com o país. Extorsão seria uma palavra forte demais para definir possíveis aumentos de impostos? Crime seria uma palavra inadequada para qualificar o que pagamos para sustentar um Congresso fisiologista e uma máquina pública obesa, inchada de cargos e mordomias, arrotando torresmos com cachaça?
O rombo da meta moral é o outro lado da mesma moeda. E esse rombo não é matemático. O déficit dos políticos com a sociedade virou saco sem fundo após as duas últimas votações, da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e do plenário da Câmara Federal. Nem falo do espetáculo deprimente de dentadas em pixulecos, dinheiro falso jogado para o alto, lutas corporais e até tatuagem com nome do presidente no braço do deputado do Pará Wladimir Costa, acusado de desviar salários com funcionários fantasmas. “Doeu um pouco, mas eu me lembrava do Temer, passava a dor. Cada um com suas paixões.” Só aqui se vê uma cafonice dessas.
O desfecho da votação provocou uma ressaca histórica. O Brasil não esquecerá que a Câmara, com ajuda ostensiva ou omissa de partidos da situação e da oposição, barrou a investigação da denúncia de corrupção contra Michel Temer. A população sabe direitinho que os deputados não tinham a missão de absolver ou condenar o presidente. Eles simplesmente impediram o curso da Justiça, por medo da sentença do Supremo Tribunal Federal e também para salvar a própria pele. O voto foi para abafar o movimento contra a corrupção e dar esperança a bandidos presos.
Ignorou-se assim o maior escândalo já surgido contra um presidente da República no exercício do cargo. Um dossiê envolvendo de gravações a documentos, de delações a malas de dinheiro entregues ao homem de confiança, de encontros clandestinos no Palácio a conselhos nada republicanos. Tudo arquivado até o dia de São Nunca, porque só quem acredita em história da carochinha pensa que, ao sair da Presidência e perder o foro privilegiado, Temer acertará suas contas com a Justiça.
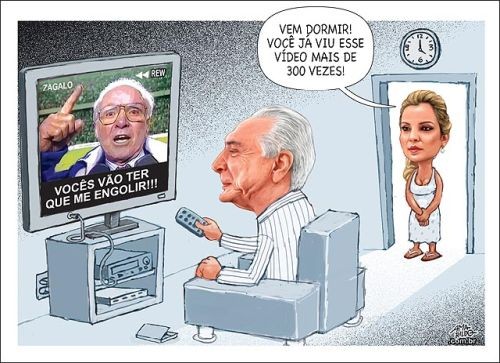
Ao referendar que as volumosas provas contra Temer não passariam de “peça de ficção”, a Câmara mostrou que de “representativa” não tem nada. Temer é rejeitado por mais de 90% de eleitores. O Brasil queria muito que Temer fosse investigado – e não só por não gostar dele. Era por uma questão de isonomia moral. De autoestima. De confiança na Lava Jato. Defender investigação contra quem, se um suspeito de crime de lesa-pátria se safa abrindo o cofre público, com seus malabarismos na língua e nos dedos? O que vale para um deveria valer para todos.
“Não somos salafrários”, afirmou o deputado federal Julio Lopes, do PP do Rio de Janeiro. “Somos Excelências.” Lopes, secretário estadual de Transportes no governo de Sérgio Cabral, foi acusado de ter recebido R$ 4 milhões em propina de duas empreiteiras, a Odebrecht e a Queiroz Galvão. Julio figurava na lista de propinas como “Pavão”, “Bonitinho” e “Velhos”. O Rio lembra como Lopes, em janeiro de 2014, dava gargalhadas com os engenheiros da SuperVia quando um trem descarrilou na Zona Norte, provocando caos na vida dos passageiros. Lopes está indignado com a “criminalização da política” e é a favor de inocentar todos, “seja Lula, seja Temer”.
Em show de hipocrisia, a Câmara arrombou a meta moral do Brasil. Faltam bambu e flechas e assim o “quadrilhão” do PMDB se firma no poder até o fim de 2018. Com a ajuda inestimável de Aécio Neves, como provável coveiro do PSDB. E o silêncio cúmplice de Eduardo Cunha, que não tem nenhum interesse em abrir a boca. Cunha e os outros presos só aguardam a poeira baixar e o vento mudar, tanto na Procuradoria quanto no STF, onde Gilmar Mendes fala cada vez mais alto: “O STF também errou. O Supremo foi muito concessivo, contribuiu com essa bagunça completa. Ficou a reboque das loucuras do procurador (Rodrigo Janot)”.
Vamos ver quem conseguirá resgatar a meta moral do Brasil. A presidente do STF, Cármen Lúcia, já se disse contra aumento salarial de 16% para os juízes num país em crise. No Congresso, não há possibilidade de reforma mental de nossos parlamentares atuais. E ainda falam em parlamentarismo.
Governo Temer, perguntas frequentes
Posso sair de casa durante o governo Temer?
Do ponto de vista constitucional, não existe nenhum impedimento para ir e vir no país. A maioria das pessoas é livre para percorrer as ruas – exceto os bolivianos escondidos em algum porão no Bom Retiro.
Por outro lado, estamos ficando bem parecidos com a Inglaterra, onde os costumes valem mais que as leis. Assim, mesmo não havendo nenhuma restrição oficial, é recomendável permanecer trancado em casa 24 horas por dia. Hoje em dia, a internet e o home office facilitam sobremaneira o dia a dia do enclausurado. Inclusive na encomenda de víveres, medicamentos e plasma.
Existe uma porcentagem de 99% de chances de ser ferido durante discussões sobre temas relacionados ao coxismo e ao petralhismo. O 1% que não sai machucado é agredido verbalmente nas redes sociais ou sofre bullying em ambiente corporativo. Fica a critério de cada um optar por determinado viés político, já que o regime brasileiro é democrático e republicano.
Se eu entrar com uma blusa vermelha numa manifestação neofascista posso ser surrado até a morte?
Sim, diariamente são registrados linchamentos. Um dos casos mais recentes foi o de um agricultor que passou no meio de uma manifestação segurando um martelo e uma foice que usaria para consertar uma cerca e capinar sua propriedade rural. Aos gritos de “vai pra Cuba com o Chico Buarque, seu bolchevique de merda!” acabou amarrado e empalado num dos arcos do McDonald’s.
Há eventos menores como fuzilamento sumário de craqueiros, por isso é prudente usar cores pastel em situações como essa.
O presidente supostamente cometeu um crime comum e a denúncia foi barrada na Câmara. A exemplo dele, também posso cometer crimes comuns?
Sim, pode. A recente votação no Parlamento certamente abrirá um precedente na Lei e todo cidadão brasileiro também terá o direito universal de corromper, ser corrompido e locupletar-se livremente, desde que obedecendo a Convenção de Genebra, as regras do Código Nacional de Trânsito e os Estatutos da Camorra.
Muita gente diz que os militares podem intervir caso a situação atual piore. É possível a situação piorar ainda mais do que está?
Parece paradoxal, mas a situação do Brasil ainda pode piorar. Para tanto basta que o dólar suba 10 centavos. Muitas pessoas estavam em pânico acreditando que o aumento poderia ocorrer a qualquer momento e os militares sairiam da caserna. Diante disso, o governo decretou que os cidadãos em pânico receberiam um bônus-extra do FGTS inativo. Nas últimas semanas não houve mais nenhum caso de pânico relacionado à flutuação da moeda.
Um político amigo da família nos ofereceu um milhão de reais para que não falássemos a ninguém que o vimos com uma mala cheia de dólares. Devemos avisar à polícia que sofremos uma tentativa de suborno?
Em hipótese alguma fale com a polícia.
O que vem depois do governo Temer?
Não há uma previsão 100% certa sobre o futuro dessa gestão. Mas alguns sociólogos arriscam que tudo é possível: até mesmo que um novo governo governe o país.
Carlos Castelo
Do ponto de vista constitucional, não existe nenhum impedimento para ir e vir no país. A maioria das pessoas é livre para percorrer as ruas – exceto os bolivianos escondidos em algum porão no Bom Retiro.
Por outro lado, estamos ficando bem parecidos com a Inglaterra, onde os costumes valem mais que as leis. Assim, mesmo não havendo nenhuma restrição oficial, é recomendável permanecer trancado em casa 24 horas por dia. Hoje em dia, a internet e o home office facilitam sobremaneira o dia a dia do enclausurado. Inclusive na encomenda de víveres, medicamentos e plasma.
Existe uma porcentagem de 99% de chances de ser ferido durante discussões sobre temas relacionados ao coxismo e ao petralhismo. O 1% que não sai machucado é agredido verbalmente nas redes sociais ou sofre bullying em ambiente corporativo. Fica a critério de cada um optar por determinado viés político, já que o regime brasileiro é democrático e republicano.
Se eu entrar com uma blusa vermelha numa manifestação neofascista posso ser surrado até a morte?
Sim, diariamente são registrados linchamentos. Um dos casos mais recentes foi o de um agricultor que passou no meio de uma manifestação segurando um martelo e uma foice que usaria para consertar uma cerca e capinar sua propriedade rural. Aos gritos de “vai pra Cuba com o Chico Buarque, seu bolchevique de merda!” acabou amarrado e empalado num dos arcos do McDonald’s.
Há eventos menores como fuzilamento sumário de craqueiros, por isso é prudente usar cores pastel em situações como essa.
O presidente supostamente cometeu um crime comum e a denúncia foi barrada na Câmara. A exemplo dele, também posso cometer crimes comuns?
Sim, pode. A recente votação no Parlamento certamente abrirá um precedente na Lei e todo cidadão brasileiro também terá o direito universal de corromper, ser corrompido e locupletar-se livremente, desde que obedecendo a Convenção de Genebra, as regras do Código Nacional de Trânsito e os Estatutos da Camorra.
Muita gente diz que os militares podem intervir caso a situação atual piore. É possível a situação piorar ainda mais do que está?
Parece paradoxal, mas a situação do Brasil ainda pode piorar. Para tanto basta que o dólar suba 10 centavos. Muitas pessoas estavam em pânico acreditando que o aumento poderia ocorrer a qualquer momento e os militares sairiam da caserna. Diante disso, o governo decretou que os cidadãos em pânico receberiam um bônus-extra do FGTS inativo. Nas últimas semanas não houve mais nenhum caso de pânico relacionado à flutuação da moeda.
Um político amigo da família nos ofereceu um milhão de reais para que não falássemos a ninguém que o vimos com uma mala cheia de dólares. Devemos avisar à polícia que sofremos uma tentativa de suborno?
Em hipótese alguma fale com a polícia.
O que vem depois do governo Temer?
Não há uma previsão 100% certa sobre o futuro dessa gestão. Mas alguns sociólogos arriscam que tudo é possível: até mesmo que um novo governo governe o país.
Carlos Castelo
Uma fronteira com a tirania
Cai ou não cai, o cara? O que é que vai acontecer por lá? As perguntas se sucedem nas ruas e não consigo respondê-las a contento. Não importa, também não há assim grande tensão nas perguntas. Se Temer cai, haverá apenas uma troca de seis por meia dúzia, parecem dizer. Todos pressentem um período medíocre, incapaz de provocar grandes paixões. Há quorum, falta quorum? Que interesse há nisso, uma vez que os deputados já fizeram suas apostas em cargos e emendas? E vão esperar um outro momento em que Temer se sinta com a corda no pescoço.
As pesquisas indicam que 81% dos entrevistados querem que a investigação sobre Temer prossiga, com todas as suas consequências. Mas essa mesma correlação de forças não se repete no Congresso. A opinião pública é refém dos eleitos, e eles se acham seguros para negociar. Ainda não se convenceram de que uma catástrofe eleitoral os espera.
Mesmo num quadro tão negativo, é possível se encontrar um certo alento. Se Dilma estivesse no governo, seria uma semana dura.

No auge de uma crise prolongada, mais de uma centenas de mortos nas ruas, a Venezuela entra numa ditadura: um fanfarrão de camisa vermelha dança “Despacito” e baixa o pau nos opositores. Pensei que a esquerda brasileira, na maré baixa, fosse mais discreta. Mas alguns dos seus partidos manifestaram seu apoio a Nicolás Maduro. Isso revela que, no fundo, o modelo bolivariano ainda a atrai. Está implícito em certas bandeiras, como no projeto de controle da imprensa.
Os projetos comuns no Brasil, como uma refinaria em Pernambuco, acabaram sendo um fardo para o Brasil. Chávez tirou o corpo fora e, no âmbito nacional, a corrupção correu solta. O governo petista mandou a Odebrecht que, para não perder a viagem, pagou US$ 9 milhões de propina à cúpula chavista, segundo a procuradora Luisa Ortega. A reeleição de Hugo Chávez contou com um decisivo apoio petista, somado à grana da Odebrecht, que, na verdade, era a grana do BNDES. Essa campanha foi narrada por João Santana e Mônica Moura e foi orçada em US$ 35 milhões.
Incapaz de compreender seus erros internos, parte substancial da esquerda brasileira mergulha nos erros alheios e defende um regime autoritário, violento e isolado internacionalmente.
O Brasil nunca seria uma Venezuela, talvez pudesse chegar perto se a crise avançasse. No entanto, a tentação de avançar nesse rumo não abandonou a esquerda e agora, com a queda de Dilma, ficou mais evidente por que o PT radicalizou.
O controle do Congresso, na base de cargos e verbas, é uma tática que se desdobra até hoje. Mas não é 100% eficaz em momentos dramáticos. O chamado controle social da mídia nunca foi palatável até para os aliados do governo petista. A única saída foi construir uma rede de apoios com blogs e guerrilha digital.
Resta outro ponto, presente na experiência da Venezuela, que jamais aconteceria no Brasil: o apoio das Forças Armadas. Sem esse apoio, o próprio Maduro já teria ido para o espaço.
Dilma pode ter sentido uma tentação de acionar os militares. Mas os sinais que vinham de lá eram desalentadores para um projeto de esquerda.
Apesar de ressaltar seus laços ideológicos e programáticos com o chavismo, no Brasil a esquerda não é protagonista no drama que se desenrola. Ela apenas é um ponto de apoio de um regime brutal. As lentes ideológicas de nada servem para tratar dos problemas que surgem com o mergulho da Venezuela numa ditadura.
Temos fronteiras comuns. Embora num nível menor do que na Colômbia, refugiados chegam em levas maiores em Pacaraima. Já temos um problema social na região. Roraima depende da energia produzida na Venezuela. Talvez seja necessário pensar em alternativas mesmo porque os constantes apagões são um aviso.
O território dos ianomâmi atravessa os dois países. Na década de 1990, chegamos a formar comissão mista Brasil-Venezuela para discutir uma política comum para os ianomâmi. Mas naquele tempo, ainda que imperfeitos, havia parlamentos com espaço para essa discussão.
Nas últimas viagens que fiz à fronteira, voltei com uma sensação de que era preciso uma avaliação do Brasil em face do novo momento. Um cenário provável é que a ditadura de Nicolás Maduro, produzindo mortes diárias, vai ser um tema global tratado na própria ONU.
No momento em grandes atores entram em cena, seria bom que o Brasil soubesse o que quer e o que precisa fazer. Caso contrário, seremos engolfados por uma política internacional sobre um tema que envolve, de uma certa forma, o nosso próprio território.
Não importa se Temer, Maia ou qualquer desses políticos assuma o comando, muito menos se o período é de desesperança. Escapamos, por exemplo, de ver um governo, em nome do Brasil, apoiar o golpe de Maduro e recitar a cantinela da solidariedade continental contra a pressão da direita. Pelo menos disso, escapamos. Agora, o resto está bravo.
Fernando Gabeira
As pesquisas indicam que 81% dos entrevistados querem que a investigação sobre Temer prossiga, com todas as suas consequências. Mas essa mesma correlação de forças não se repete no Congresso. A opinião pública é refém dos eleitos, e eles se acham seguros para negociar. Ainda não se convenceram de que uma catástrofe eleitoral os espera.
Mesmo num quadro tão negativo, é possível se encontrar um certo alento. Se Dilma estivesse no governo, seria uma semana dura.

Os projetos comuns no Brasil, como uma refinaria em Pernambuco, acabaram sendo um fardo para o Brasil. Chávez tirou o corpo fora e, no âmbito nacional, a corrupção correu solta. O governo petista mandou a Odebrecht que, para não perder a viagem, pagou US$ 9 milhões de propina à cúpula chavista, segundo a procuradora Luisa Ortega. A reeleição de Hugo Chávez contou com um decisivo apoio petista, somado à grana da Odebrecht, que, na verdade, era a grana do BNDES. Essa campanha foi narrada por João Santana e Mônica Moura e foi orçada em US$ 35 milhões.
Incapaz de compreender seus erros internos, parte substancial da esquerda brasileira mergulha nos erros alheios e defende um regime autoritário, violento e isolado internacionalmente.
O Brasil nunca seria uma Venezuela, talvez pudesse chegar perto se a crise avançasse. No entanto, a tentação de avançar nesse rumo não abandonou a esquerda e agora, com a queda de Dilma, ficou mais evidente por que o PT radicalizou.
O controle do Congresso, na base de cargos e verbas, é uma tática que se desdobra até hoje. Mas não é 100% eficaz em momentos dramáticos. O chamado controle social da mídia nunca foi palatável até para os aliados do governo petista. A única saída foi construir uma rede de apoios com blogs e guerrilha digital.
Resta outro ponto, presente na experiência da Venezuela, que jamais aconteceria no Brasil: o apoio das Forças Armadas. Sem esse apoio, o próprio Maduro já teria ido para o espaço.
Dilma pode ter sentido uma tentação de acionar os militares. Mas os sinais que vinham de lá eram desalentadores para um projeto de esquerda.
Apesar de ressaltar seus laços ideológicos e programáticos com o chavismo, no Brasil a esquerda não é protagonista no drama que se desenrola. Ela apenas é um ponto de apoio de um regime brutal. As lentes ideológicas de nada servem para tratar dos problemas que surgem com o mergulho da Venezuela numa ditadura.
Temos fronteiras comuns. Embora num nível menor do que na Colômbia, refugiados chegam em levas maiores em Pacaraima. Já temos um problema social na região. Roraima depende da energia produzida na Venezuela. Talvez seja necessário pensar em alternativas mesmo porque os constantes apagões são um aviso.
O território dos ianomâmi atravessa os dois países. Na década de 1990, chegamos a formar comissão mista Brasil-Venezuela para discutir uma política comum para os ianomâmi. Mas naquele tempo, ainda que imperfeitos, havia parlamentos com espaço para essa discussão.
Nas últimas viagens que fiz à fronteira, voltei com uma sensação de que era preciso uma avaliação do Brasil em face do novo momento. Um cenário provável é que a ditadura de Nicolás Maduro, produzindo mortes diárias, vai ser um tema global tratado na própria ONU.
No momento em grandes atores entram em cena, seria bom que o Brasil soubesse o que quer e o que precisa fazer. Caso contrário, seremos engolfados por uma política internacional sobre um tema que envolve, de uma certa forma, o nosso próprio território.
Não importa se Temer, Maia ou qualquer desses políticos assuma o comando, muito menos se o período é de desesperança. Escapamos, por exemplo, de ver um governo, em nome do Brasil, apoiar o golpe de Maduro e recitar a cantinela da solidariedade continental contra a pressão da direita. Pelo menos disso, escapamos. Agora, o resto está bravo.
Fernando Gabeira
Assinar:
Comentários (Atom)





