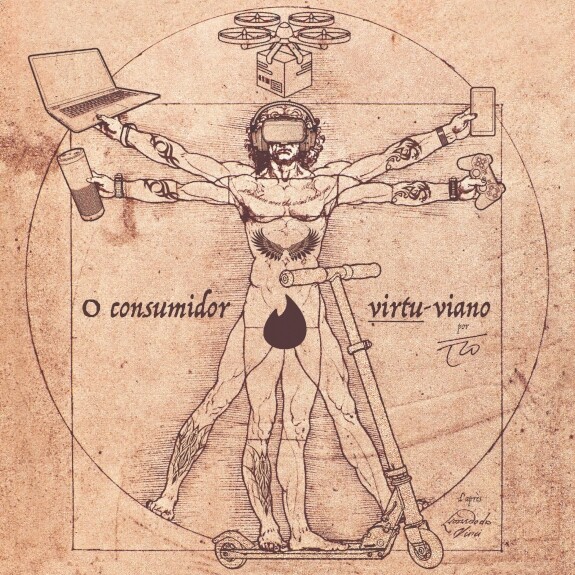sábado, 8 de novembro de 2025
O tempo desafia a lógica
No livro Epistemics and Economics, George Shackle cuida de encarar a questão da racionalidade, tão cara aos economistas. “O tempo e a lógica”, comenta Shackle, “são estranhos um ao outro. O primeiro implica a incerteza, o segundo demanda um sistema de axiomas, um sistema envolvendo tudo que é relevante. Mas, infelizmente, o vazio do futuro compromete a possibilidade da lógica”.
George Shackle afirma que a economia é uma área do conhecimento submetida às incertezas da vida humana em sociedade. Ela procura estudar o comportamento dos agentes privados em busca da riqueza, nos marcos de um quadro social e político determinado temporalmente, isto é, cada nova decisão de acumular riqueza tem um caráter crucial, porquanto tem o poder de reconfigurar as circunstâncias em que foi concebida.
Shackle está se referindo às decisões empresariais de investimento – introduzir novas tecnologias ou mudar a localização de seus empreendimentos. São decisões cruciais, na medida em que “criam o futuro”. Essa criação do futuro é, para ele, um ato originário e irredutível dos que controlam a criação de riqueza no capitalismo. Esse ato é irreversível e praticado em condições de incerteza radical.
Sir Isaiah Berlin valeu-se de Arquíloco para distinguir dois tipos de sabedoria e ciência: “A raposa sabe muitas coisas, o ouriço sabe uma grande coisa”. Shackle usou a frase de Berlin (que, aliás, gostava de garimpar frases no rico veio da poesia clássica) para definir Keynes e a Teoria Geral, diante do desencontro de ideias que assolou a chamada teoria econômica durante os anos 30.
Shackle sugeriu que, sob vistosa pelagem de raposa, escondia-se Keynes, o ouriço. Os detentores de riqueza sob a forma monetária são obrigados a saltar no vazio. Apostam que, entre sua decisão de empregar o seu dinheiro agora na contratação de fatores de produção e a recuperação do valor monetário acrescido no futuro, nenhum fenômeno perturbador vai ocorrer. Tais decisões são tomadas individualmente na suposição de que os demais vão continuar se comportando da mesma maneira ou de que, em última instância, a mão invisível estará a postos para coordenar as decisões individuais.
Keynes sugeriu que, ao contrário do que procurava demonstrar a bela arquitetura dos modelos de equilíbrio geral, a reprodução dessas sociedades não estava garantida. Estava, sim, sujeita aos impulsos, aos medos e às avaliações da categoria social que detém o controle dos meios de produção. Essa classe de empresários e senhores da finança pode usar o seu poder, conferido pela posse dos meios de produção e pelo controle do dinheiro e do crédito para enriquecer a si mesma e à sociedade ou simplesmente abandonar-se ao entesouramento e à proteção patrimonial.
Lembrei-me dos escritos de Aristóteles. O filósofo grego fez uma distinção entre a Aquisição Natural ou “Economia” e a Aquisição Artificial ou “Crematística”. A Aquisição Natural diz respeito às relações entre as necessidades humanas e os bens destinados a satisfazê-las. Já a Aquisição Artificial ou Crematística, “inventada para as necessidades de comércio, originou uma nova maneira de comerciar e adquirir. No princípio, era bastante simples; depois, com o tempo, passou a ser mais refinada, quando se soube de onde e de que maneira se podia tirar dela o maior lucro possível. É esse lucro pecuniário que ela postula; ela só se ocupa em procurar de onde vem mais dinheiro: é a mãe das grandes fortunas. De fato, comumente se faz consistir a riqueza na grande quantidade de dinheiro”.
No Tempos Modernos de Chaplin, o nascimento das ciências sociais e da economia busca enfrentar a questão da reprodução de uma sociedade fundada na divisão social do trabalho, no interesse individual e no impulso à acumulação monetária. Keynes, como bom ouriço, tratou dessa questão na perspectiva de Aristóteles.
Habermas sugere que, além de estarem submetidas à confirmação empírica (ou à rejeição), as teorias da sociedade devem estar sujeitas à demonstração de que são “reflexivamente aceitáveis”.
“A investigação não apenas das instituições e práticas sociais, mas também das convicções que os agentes têm sobre a sua própria sociedade – investigar não apenas a realidade social, mas o saber (…). Isto é, uma teoria social é uma teoria a respeito (entre outras coisas) das convicções dos agentes sobre a sua sociedade, sendo ela mesma uma dessas convicções.”
A questão da “reflexividade” foi investigada em outras órbitas do conhecimento da sociedade. A relação entre os meios de comunicação e a sociedade de massa foi examinada competentemente por muita gente boa, como Theodor Adorno e Marshall McLuhan. O meio é a mensagem, ensinou McLuhan ao tratar da formação das consciências nas sociedades de massa em que a informação é comandada pelos meios de comunicação. “A mídia afeta nossa estrutura conceitual nas dimensões pessoais, políticas, econômicas, estéticas, psicológicas, morais, éticas e sociais. Não deixa nenhuma parte intocada, inalterada. O meio é a mensagem. Qualquer compreensão da mudança social e cultural é impossível sem um conhecimento da forma como a mídia funciona.”
O economista Christian Marazzi, em seu livro Capital e Linguagem, cuidou das marchas e contramarchas das economias nos últimos 30 anos. Marazzi sublinha a natureza “performativa” da linguagem do dinheiro e dos mercados financeiros. Performativa quer dizer que a linguagem dos mercados financeiros contemporâneos não descreve, e muito menos “analisa”, um determinado estado de coisas, mas produz imediatamente consensos que “constroem” fatos reais.
Para não desmerecer a lógica, vou ousar recorrer a um trecho da Lógica de Hegel: “Quando as formas são tomadas como determinações fixas e, consequentemente, em sua separação uma da outra, e não como uma unidade orgânica, elas são formas mortas e o espírito que anima sua vida, a unidade concreta não reside nelas… O conteúdo das formas lógicas nada mais é senão o fundamento sólido e concreto dessas determinações abstratas; e o ser substancial dessas abstrações é usualmente buscado fora delas”.
George Shackle afirma que a economia é uma área do conhecimento submetida às incertezas da vida humana em sociedade. Ela procura estudar o comportamento dos agentes privados em busca da riqueza, nos marcos de um quadro social e político determinado temporalmente, isto é, cada nova decisão de acumular riqueza tem um caráter crucial, porquanto tem o poder de reconfigurar as circunstâncias em que foi concebida.
Shackle está se referindo às decisões empresariais de investimento – introduzir novas tecnologias ou mudar a localização de seus empreendimentos. São decisões cruciais, na medida em que “criam o futuro”. Essa criação do futuro é, para ele, um ato originário e irredutível dos que controlam a criação de riqueza no capitalismo. Esse ato é irreversível e praticado em condições de incerteza radical.
Sir Isaiah Berlin valeu-se de Arquíloco para distinguir dois tipos de sabedoria e ciência: “A raposa sabe muitas coisas, o ouriço sabe uma grande coisa”. Shackle usou a frase de Berlin (que, aliás, gostava de garimpar frases no rico veio da poesia clássica) para definir Keynes e a Teoria Geral, diante do desencontro de ideias que assolou a chamada teoria econômica durante os anos 30.
Shackle sugeriu que, sob vistosa pelagem de raposa, escondia-se Keynes, o ouriço. Os detentores de riqueza sob a forma monetária são obrigados a saltar no vazio. Apostam que, entre sua decisão de empregar o seu dinheiro agora na contratação de fatores de produção e a recuperação do valor monetário acrescido no futuro, nenhum fenômeno perturbador vai ocorrer. Tais decisões são tomadas individualmente na suposição de que os demais vão continuar se comportando da mesma maneira ou de que, em última instância, a mão invisível estará a postos para coordenar as decisões individuais.
Keynes sugeriu que, ao contrário do que procurava demonstrar a bela arquitetura dos modelos de equilíbrio geral, a reprodução dessas sociedades não estava garantida. Estava, sim, sujeita aos impulsos, aos medos e às avaliações da categoria social que detém o controle dos meios de produção. Essa classe de empresários e senhores da finança pode usar o seu poder, conferido pela posse dos meios de produção e pelo controle do dinheiro e do crédito para enriquecer a si mesma e à sociedade ou simplesmente abandonar-se ao entesouramento e à proteção patrimonial.
Lembrei-me dos escritos de Aristóteles. O filósofo grego fez uma distinção entre a Aquisição Natural ou “Economia” e a Aquisição Artificial ou “Crematística”. A Aquisição Natural diz respeito às relações entre as necessidades humanas e os bens destinados a satisfazê-las. Já a Aquisição Artificial ou Crematística, “inventada para as necessidades de comércio, originou uma nova maneira de comerciar e adquirir. No princípio, era bastante simples; depois, com o tempo, passou a ser mais refinada, quando se soube de onde e de que maneira se podia tirar dela o maior lucro possível. É esse lucro pecuniário que ela postula; ela só se ocupa em procurar de onde vem mais dinheiro: é a mãe das grandes fortunas. De fato, comumente se faz consistir a riqueza na grande quantidade de dinheiro”.
No Tempos Modernos de Chaplin, o nascimento das ciências sociais e da economia busca enfrentar a questão da reprodução de uma sociedade fundada na divisão social do trabalho, no interesse individual e no impulso à acumulação monetária. Keynes, como bom ouriço, tratou dessa questão na perspectiva de Aristóteles.
Habermas sugere que, além de estarem submetidas à confirmação empírica (ou à rejeição), as teorias da sociedade devem estar sujeitas à demonstração de que são “reflexivamente aceitáveis”.
“A investigação não apenas das instituições e práticas sociais, mas também das convicções que os agentes têm sobre a sua própria sociedade – investigar não apenas a realidade social, mas o saber (…). Isto é, uma teoria social é uma teoria a respeito (entre outras coisas) das convicções dos agentes sobre a sua sociedade, sendo ela mesma uma dessas convicções.”
A questão da “reflexividade” foi investigada em outras órbitas do conhecimento da sociedade. A relação entre os meios de comunicação e a sociedade de massa foi examinada competentemente por muita gente boa, como Theodor Adorno e Marshall McLuhan. O meio é a mensagem, ensinou McLuhan ao tratar da formação das consciências nas sociedades de massa em que a informação é comandada pelos meios de comunicação. “A mídia afeta nossa estrutura conceitual nas dimensões pessoais, políticas, econômicas, estéticas, psicológicas, morais, éticas e sociais. Não deixa nenhuma parte intocada, inalterada. O meio é a mensagem. Qualquer compreensão da mudança social e cultural é impossível sem um conhecimento da forma como a mídia funciona.”
O economista Christian Marazzi, em seu livro Capital e Linguagem, cuidou das marchas e contramarchas das economias nos últimos 30 anos. Marazzi sublinha a natureza “performativa” da linguagem do dinheiro e dos mercados financeiros. Performativa quer dizer que a linguagem dos mercados financeiros contemporâneos não descreve, e muito menos “analisa”, um determinado estado de coisas, mas produz imediatamente consensos que “constroem” fatos reais.
Para não desmerecer a lógica, vou ousar recorrer a um trecho da Lógica de Hegel: “Quando as formas são tomadas como determinações fixas e, consequentemente, em sua separação uma da outra, e não como uma unidade orgânica, elas são formas mortas e o espírito que anima sua vida, a unidade concreta não reside nelas… O conteúdo das formas lógicas nada mais é senão o fundamento sólido e concreto dessas determinações abstratas; e o ser substancial dessas abstrações é usualmente buscado fora delas”.
Eles têm medo de que não tenhamos medo
“Estão com medo? Quem trabalha uma vida inteira não tem medo de nada. Devem estar com medo de perder os tachos.” A frase não espera resposta. É um escarro atirado ao chão das redes sociais. Ninguém escreve à espera que lhe respondam. Escreve-se para deixar uma marca no chão. Escreve-se como quem atira pedras e foge. Pois, se alguém há de ir contra a ideia de uma ditadura, claro que o faz por medo. Talvez seja um bot a escrever. Sei que há armazéns cheios de telefones e fios ligados a máquinas que alimentam o ódio e nos fazem perder tempo a discutir com robots programados para nos incendiar de indignação até às cinzas da alienação. Mas respondo ainda assim. “Não tem medo? Não tem medo de perder o trabalho? Medo de perder o teto? De ficar doente e não ter médico? Temos medo, sim. Infelizmente, trabalhar não dá garantias de nada. E é por isso que é preciso lutar por um mundo mais justo, com menos medo e mais liberdade.”
Fico sem resposta. Vivemos num mundo de barricadas. De um lado e do outro, há medo. Mas nenhum de nós está disposto a reconhecer o medo do outro. Apagamos a luz e saímos do quarto, garantindo que não há monstros debaixo da cama. Mas o medo fica, farejando o escuro, deslizando pelas coisas, transfigurando-as. Um trabalhador de pele escura, que luta para enviar dinheiro à família e trabalha até que lhe sangre a alma, transforma-se num perigo, numa ameaça. É ele que vem roubar-nos o lugar no Centro de Saúde, na creche, na rua, que ocupa com as suas roupas estranhas e os cheiros exóticos da comida que faz, na vida, onde há de nos obrigar a rezar aos seus deuses. É como uma mancha de óleo que há de nos engolir a todos, garantem-nos os que nos querem assustados.
“A culpa é toda tua”, diz a avó ao neto que trabalha com migrações nas Nações Unidas e que me falou do ar acusatório com que foi recebido sem perceber porquê. A culpa? “És tu que os trazes para cá”, atirou a senhora, que vive numa cidade do Interior e nunca viu ao vivo um dos imigrantes que agora tanto a assustam, nas notícias e nos vídeos que rolam incessantemente pela internet, mostrando desacatos, tensão, violência. Ninguém está a salvo. Mesmo que tenha sido tudo filmado noutro país e há muitos anos. Se não é aqui, podia ser. Um dia será.
Shamim Hussein também deve ter sentido medo quando foi tentar recuperar a bicicleta que usava para levar comida, na Costa da Caparica, e foi esfaqueado. E é medo que seguramente sentirá a sua mulher que fica agora sozinha, num país estranho, que lhe matou o marido e a deixa com um bebé de 2 anos. Rachhpal Singh também deve ter ficado assustado, quando um grupo de homens com t-shirts do movimento 1143 o espancou numa área de serviço da A1, numa pausa do trabalho. Mas o medo que sentiu não lhe tolheu a coragem de os denunciar. E é a isso que me agarro. Porque a coragem não é a ausência do medo, mas o momento em que o olhamos de frente e lhe passamos por cima.
O medo é um bichinho pequeno, que mal se vê, mas que quando nos entra no corpo nos paralisa e nos cega. E é também uma poderosa ferramenta de poder. O medo de perder o emprego faz-nos calar as injustiças. O medo de ficar sem casa faz-nos esmifrar a vida, consumida em trabalho e preocupações. O medo do amanhã encolhe-nos. O medo de falar sufoca-nos.
E é por isso que há tantos que nos querem com medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Quem nos quer obedientes e calados, quem nos quer sossegados e alienados, quem nos quer explorados e agradecidos, quem nos quer para carne para canhão, quem nos quer para pagar e calar, quem nos quer para continuar a fazer girar a máquina que lhes enche os bolsos enquanto nos suga a vida, quer que tenhamos medo.
E é por isso que não tenho medo. A ideia de que eles vivem amedrontados com a nossa coragem espanta-me o medo. “A vida não é perigosa”, disse-me, um dia, um amigo, explicando-me as vantagens de avançar por ela de peito feito, sem olhar para trás, sem deixar que as pernas que nos tremem nos travem.
Sabem como é que se vence o medo? Com os olhos abertos e o coração cheio de amor. Pensei muito nisto enquanto andei, em reportagem, pelas ruas da Tapada das Mercês, em Sintra, e vi pessoas de todas as cores e de vários países, caminhando sorridentes e falando-se como se fala a um vizinho que também é um amigo. Aquelas ruas periféricas, que nos dizem que são perigosas, também são espaços de partilha e comunidade. E é isso que nos faz sentir seguros.
De cada vez que damos as mãos, perdemos o medo. Mas fazemos mais do que isso. Sentimos que não estamos sozinhos e temos a força de sermos muitos. Há quem não nos queira com esse poder. Há quem nos queira sós e assustados, para melhor poder controlar-nos e explorar-nos. A esses teremos de responder de cabeça erguida, olhos nos olhos, sorriso nos lábios e firmeza nos gestos. Vocês não nos assustam. Havemos de vencer o medo.
O primeiro passo para perder o medo é voltar a olhar para as coisas de olhos abertos. Aceitar que do outro lado pode estar (deve estar) alguém como nós, alguém com os mesmos sonhos e esperanças, alguém com os mesmos medos. Sair da toca das barricadas. Ouvir. Aceitar que nem todos temos de ser exatamente da mesma maneira para sermos iguais.
Fui sempre feliz quando me aproximei do que me era estranho. Porque essa aproximação conduz, quase sempre, à conclusão de que somos afinal muito parecidos. E somos sempre felizes quando nos encontramos. Não temos nada a perder a não ser o medo. Tenhamos a força de o arrancar de cima como quem lança ao ar uma capa que nos sufoca e impede de ver a realidade. Havemos de vencer o medo.
Margarida Davim
Fico sem resposta. Vivemos num mundo de barricadas. De um lado e do outro, há medo. Mas nenhum de nós está disposto a reconhecer o medo do outro. Apagamos a luz e saímos do quarto, garantindo que não há monstros debaixo da cama. Mas o medo fica, farejando o escuro, deslizando pelas coisas, transfigurando-as. Um trabalhador de pele escura, que luta para enviar dinheiro à família e trabalha até que lhe sangre a alma, transforma-se num perigo, numa ameaça. É ele que vem roubar-nos o lugar no Centro de Saúde, na creche, na rua, que ocupa com as suas roupas estranhas e os cheiros exóticos da comida que faz, na vida, onde há de nos obrigar a rezar aos seus deuses. É como uma mancha de óleo que há de nos engolir a todos, garantem-nos os que nos querem assustados.
“A culpa é toda tua”, diz a avó ao neto que trabalha com migrações nas Nações Unidas e que me falou do ar acusatório com que foi recebido sem perceber porquê. A culpa? “És tu que os trazes para cá”, atirou a senhora, que vive numa cidade do Interior e nunca viu ao vivo um dos imigrantes que agora tanto a assustam, nas notícias e nos vídeos que rolam incessantemente pela internet, mostrando desacatos, tensão, violência. Ninguém está a salvo. Mesmo que tenha sido tudo filmado noutro país e há muitos anos. Se não é aqui, podia ser. Um dia será.
Shamim Hussein também deve ter sentido medo quando foi tentar recuperar a bicicleta que usava para levar comida, na Costa da Caparica, e foi esfaqueado. E é medo que seguramente sentirá a sua mulher que fica agora sozinha, num país estranho, que lhe matou o marido e a deixa com um bebé de 2 anos. Rachhpal Singh também deve ter ficado assustado, quando um grupo de homens com t-shirts do movimento 1143 o espancou numa área de serviço da A1, numa pausa do trabalho. Mas o medo que sentiu não lhe tolheu a coragem de os denunciar. E é a isso que me agarro. Porque a coragem não é a ausência do medo, mas o momento em que o olhamos de frente e lhe passamos por cima.
O medo é um bichinho pequeno, que mal se vê, mas que quando nos entra no corpo nos paralisa e nos cega. E é também uma poderosa ferramenta de poder. O medo de perder o emprego faz-nos calar as injustiças. O medo de ficar sem casa faz-nos esmifrar a vida, consumida em trabalho e preocupações. O medo do amanhã encolhe-nos. O medo de falar sufoca-nos.
E é por isso que há tantos que nos querem com medo. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Quem nos quer obedientes e calados, quem nos quer sossegados e alienados, quem nos quer explorados e agradecidos, quem nos quer para carne para canhão, quem nos quer para pagar e calar, quem nos quer para continuar a fazer girar a máquina que lhes enche os bolsos enquanto nos suga a vida, quer que tenhamos medo.
E é por isso que não tenho medo. A ideia de que eles vivem amedrontados com a nossa coragem espanta-me o medo. “A vida não é perigosa”, disse-me, um dia, um amigo, explicando-me as vantagens de avançar por ela de peito feito, sem olhar para trás, sem deixar que as pernas que nos tremem nos travem.
Sabem como é que se vence o medo? Com os olhos abertos e o coração cheio de amor. Pensei muito nisto enquanto andei, em reportagem, pelas ruas da Tapada das Mercês, em Sintra, e vi pessoas de todas as cores e de vários países, caminhando sorridentes e falando-se como se fala a um vizinho que também é um amigo. Aquelas ruas periféricas, que nos dizem que são perigosas, também são espaços de partilha e comunidade. E é isso que nos faz sentir seguros.
De cada vez que damos as mãos, perdemos o medo. Mas fazemos mais do que isso. Sentimos que não estamos sozinhos e temos a força de sermos muitos. Há quem não nos queira com esse poder. Há quem nos queira sós e assustados, para melhor poder controlar-nos e explorar-nos. A esses teremos de responder de cabeça erguida, olhos nos olhos, sorriso nos lábios e firmeza nos gestos. Vocês não nos assustam. Havemos de vencer o medo.
O primeiro passo para perder o medo é voltar a olhar para as coisas de olhos abertos. Aceitar que do outro lado pode estar (deve estar) alguém como nós, alguém com os mesmos sonhos e esperanças, alguém com os mesmos medos. Sair da toca das barricadas. Ouvir. Aceitar que nem todos temos de ser exatamente da mesma maneira para sermos iguais.
Fui sempre feliz quando me aproximei do que me era estranho. Porque essa aproximação conduz, quase sempre, à conclusão de que somos afinal muito parecidos. E somos sempre felizes quando nos encontramos. Não temos nada a perder a não ser o medo. Tenhamos a força de o arrancar de cima como quem lança ao ar uma capa que nos sufoca e impede de ver a realidade. Havemos de vencer o medo.
Margarida Davim
Quando o veneno tem um sabor doce
Para alguns, as mortes na megaoperação parecem oferecer uma sensação de vingança. Mas trata-se de uma ilusão. É como beber algo que parece doce, mas é veneno.
O troglodita na nossa História
O Troglodita mandava na base da pancada. E a recente direita, assim também.
Noah, em “Sapiens”, nos fala sobre a breve estória de nossa História, de uma espécie, comprimida em um tempo curto, que por seus erros deve desaparecer “em um século ou mais”. O homem, segundo Noah, é um “acidente biológico”, que se autodenomina como sapiens, sem o sê-lo.
Surgimos a cerca de 300 mil anos, uma variação de macaco, como outras, com um pouco mais do que hoje se chama de “raciocínio lógico”. Povoamos a Terra. Há 50 mil anos, interagimos e cruzamos com os Neandertais, outra espécie, equivalente. Dois mil anos depois, os eliminamos. Possivelmente por razões territoriais, o que hoje se chama de Geopolítica. E seguimos no voo solo, para o desterro de todas as outras espécies.
Fizemos a revolução urbana há 10 mil anos atrás. Veio a Grécia. Veio Roma. A revolução industrial, há 250 anos atrás. Inventamos a bomba atômica, poluímos o mundo, criamos a insustentabilidade.
Tentamos, é verdade, sermos “civilizados”. Rousseau e Montesquieu nos falaram sobre as leis e o Contrato Social. Tentamos. Fomos em frente. Mas a equação perversa da economia e da ecologia impediu a realização dos nossos sonhos de Césars.
E, como disse Mike Tyson, “todo mundo tem um plano até levar um soco na cara”. Ficamos nocauteados no ringue.
Vem aí a direita, na desordem da ordem. E a direita vai pisar ainda mais no acelerador, da ignorância, gerando muito mais riqueza (para si próprios), para a destruição mais rápida do Planeta.
Mas as festas, até lá, serão colossais. Os devaneios serão tantos, de tirar a chapéu, de fazer inveja, mesmo, a Calígula nos idos de Roma.
Como futuro, podemos esperar, no máximo, a tragédia mostrada no exímio filme “A Máquina do Tempo” em 1960, do livro de H. G. Wells, dirigido por George Pal.
E assim vamos nós.
Como em Noah.
Noah, em “Sapiens”, nos fala sobre a breve estória de nossa História, de uma espécie, comprimida em um tempo curto, que por seus erros deve desaparecer “em um século ou mais”. O homem, segundo Noah, é um “acidente biológico”, que se autodenomina como sapiens, sem o sê-lo.
Surgimos a cerca de 300 mil anos, uma variação de macaco, como outras, com um pouco mais do que hoje se chama de “raciocínio lógico”. Povoamos a Terra. Há 50 mil anos, interagimos e cruzamos com os Neandertais, outra espécie, equivalente. Dois mil anos depois, os eliminamos. Possivelmente por razões territoriais, o que hoje se chama de Geopolítica. E seguimos no voo solo, para o desterro de todas as outras espécies.
Fizemos a revolução urbana há 10 mil anos atrás. Veio a Grécia. Veio Roma. A revolução industrial, há 250 anos atrás. Inventamos a bomba atômica, poluímos o mundo, criamos a insustentabilidade.
Tentamos, é verdade, sermos “civilizados”. Rousseau e Montesquieu nos falaram sobre as leis e o Contrato Social. Tentamos. Fomos em frente. Mas a equação perversa da economia e da ecologia impediu a realização dos nossos sonhos de Césars.
E, como disse Mike Tyson, “todo mundo tem um plano até levar um soco na cara”. Ficamos nocauteados no ringue.
Vem aí a direita, na desordem da ordem. E a direita vai pisar ainda mais no acelerador, da ignorância, gerando muito mais riqueza (para si próprios), para a destruição mais rápida do Planeta.
Mas as festas, até lá, serão colossais. Os devaneios serão tantos, de tirar a chapéu, de fazer inveja, mesmo, a Calígula nos idos de Roma.
Como futuro, podemos esperar, no máximo, a tragédia mostrada no exímio filme “A Máquina do Tempo” em 1960, do livro de H. G. Wells, dirigido por George Pal.
E assim vamos nós.
Como em Noah.
Circus Maximus Brasiliensis
Ocasionalmente, a sociedade brasileira quer ver sangue. Quer se vingar por viver em permanente insegurança; se vingar de todos os assaltos, furtos e homicídios que, diariamente, lançam milhares de pessoas no medo e no desespero. Quer compensar sua impotência.
O sangue nas ruas, os corpos mortos de jovens, na maioria negros, provocam uma satisfação arcaica e uma aprovação generalizada.
A operação policial nos complexos do Alemão e da Penha foi uma espécie de sangria pública. A maioria dos brasileiros – inclusive muitos moradores das favelas – aprova a ação, apesar de sua dimensão horrenda. Os mortos, segundo essa lógica, apenas encontraram o destino que escolheram. Ninguém os obrigou a portar armas, a se tornarem criminosos ou a manterem os moradores das favelas em brutal cativeiro. O massacre da semana passada foi o Circus Maximus Brasiliensis – a versão brasileira do anfiteatro romano.
As perguntas sobre a legalidade, o respeito aos direitos humanos e a eficácia dessas ações se tornam, assim, secundárias. As operações cumprem um propósito simbólico: esfriar o ânimo fervente do povo. Servem também aos políticos que as ordenam, para poderem se apresentar como firmes e resolutos.
A cada dois ou três anos ocorrem essas operações (quase sempre no Rio de Janeiro), e a cada vez o número de mortos aumenta. Depois – como já se comentou aqui – tudo volta a ser como antes, porque o Estado não dá o passo seguinte, o decisivo: ocupar e desenvolver de forma permanente os territórios dominados pelo crime organizado.
A grande questão é: por que o Estado não tem interesse nesses territórios? Seria porque seria preciso um contingente policial enorme para garanti-los de modo duradouro? Custaria demais desenvolver esses bairros pobres social e infraestruturalmente? Ou prefere a política deixar tudo como está, para ter sempre um bode expiatório a ser sacrificado em operações policiais espetaculares?
Pode até ser que o Estado tenha vencido, na semana passada, uma batalha contra o Comando Vermelho, mas ele perde a guerra se não retirar do CV o solo em que atua. Nesse sentido, o debate sobre classificar o grupo como organização terrorista é uma falsa polêmica populista de políticos ultradireitistas. O objetivo não é combater o CV de modo eficaz, mas sim encenar dureza e determinação.
Está claro que nem o Comando Vermelho, nem o PCC, muito mais organizado e poderoso, perseguem objetivos políticos por meio de atos terroristas. São máfias diversificadas e orientadas pelo lucro, que controlam à força territórios marcados pela ausência do Estado. A força deles se evidencia na expansão por todo o país e na infiltração em vários setores da economia – do garimpo ilegal na Amazônia ao mercado imobiliário nas cidades.
Reclassificar o CV e o PCC como grupos terroristas teria como consequência tornar as operações policiais nas favelas ainda mais sangrentas, sob o rótulo de "combate ao terrorismo", e aumentaria a violência de modo geral. Haveria o risco de uma "colombianização" do Brasil. A lógica militar avançaria ainda mais sobre as soluções sociais.
Mas organizações mafiosas não se derrotam por meios militares, porque penetram a sociedade e o próprio Estado. O exemplo do México mostra onde isso pode levar: quando, em 2006, o Exército foi enviado para combater os cartéis, começou um dos capítulos mais brutais da história do país, com centenas de milhares de mortos e desaparecidos. O resultado: os cartéis, reagrupados, continuam tão fortes quanto antes e dominam cidades inteiras.
Um argumento que talvez convença até cabeças-quentes de direita, como o deputado Nikolas Ferreira, que impulsiona a proposta de classificação do CV como grupo terrorista: se o Brasil anunciasse que há organizações terroristas atuando em seu território, investidores estrangeiros pensariam três vezes antes de aplicar seu dinheiro aqui – os custos de seguro disparariam.
Combate com inteligência
Se o objetivo fosse realmente combater o crime organizado de forma eficaz e duradoura, isso deveria ser feito com bisturi, não com punhal – com inteligência, não com brutalidade e estupidez.
Seria preciso seguir o dinheiro da máfia e usar novas tecnologias. A inteligência artificial, por exemplo, pode detectar transações suspeitas com precisão e rapidez, pois é capaz de processar volumes de dados que nenhum delegado conseguiria. Já a tecnologia blockchain permite rastrear as operações financeiras e documentar os fluxos de dinheiro de forma transparente.
Igualmente essencial seria melhorar a cooperação internacional entre instituições financeiras e autoridades para desmantelar redes mafiosas transnacionais.
Tudo isso ocorreria de maneira discreta e silenciosa. E atingiria o crime organizado em seu ponto mais sensível: o dinheiro. Enquanto, porém, a política brasileira preferir ver sangue nas ruas, nada mudará.
O sangue nas ruas, os corpos mortos de jovens, na maioria negros, provocam uma satisfação arcaica e uma aprovação generalizada.
A operação policial nos complexos do Alemão e da Penha foi uma espécie de sangria pública. A maioria dos brasileiros – inclusive muitos moradores das favelas – aprova a ação, apesar de sua dimensão horrenda. Os mortos, segundo essa lógica, apenas encontraram o destino que escolheram. Ninguém os obrigou a portar armas, a se tornarem criminosos ou a manterem os moradores das favelas em brutal cativeiro. O massacre da semana passada foi o Circus Maximus Brasiliensis – a versão brasileira do anfiteatro romano.
As perguntas sobre a legalidade, o respeito aos direitos humanos e a eficácia dessas ações se tornam, assim, secundárias. As operações cumprem um propósito simbólico: esfriar o ânimo fervente do povo. Servem também aos políticos que as ordenam, para poderem se apresentar como firmes e resolutos.
A cada dois ou três anos ocorrem essas operações (quase sempre no Rio de Janeiro), e a cada vez o número de mortos aumenta. Depois – como já se comentou aqui – tudo volta a ser como antes, porque o Estado não dá o passo seguinte, o decisivo: ocupar e desenvolver de forma permanente os territórios dominados pelo crime organizado.
A grande questão é: por que o Estado não tem interesse nesses territórios? Seria porque seria preciso um contingente policial enorme para garanti-los de modo duradouro? Custaria demais desenvolver esses bairros pobres social e infraestruturalmente? Ou prefere a política deixar tudo como está, para ter sempre um bode expiatório a ser sacrificado em operações policiais espetaculares?
Pode até ser que o Estado tenha vencido, na semana passada, uma batalha contra o Comando Vermelho, mas ele perde a guerra se não retirar do CV o solo em que atua. Nesse sentido, o debate sobre classificar o grupo como organização terrorista é uma falsa polêmica populista de políticos ultradireitistas. O objetivo não é combater o CV de modo eficaz, mas sim encenar dureza e determinação.
Está claro que nem o Comando Vermelho, nem o PCC, muito mais organizado e poderoso, perseguem objetivos políticos por meio de atos terroristas. São máfias diversificadas e orientadas pelo lucro, que controlam à força territórios marcados pela ausência do Estado. A força deles se evidencia na expansão por todo o país e na infiltração em vários setores da economia – do garimpo ilegal na Amazônia ao mercado imobiliário nas cidades.
Reclassificar o CV e o PCC como grupos terroristas teria como consequência tornar as operações policiais nas favelas ainda mais sangrentas, sob o rótulo de "combate ao terrorismo", e aumentaria a violência de modo geral. Haveria o risco de uma "colombianização" do Brasil. A lógica militar avançaria ainda mais sobre as soluções sociais.
Mas organizações mafiosas não se derrotam por meios militares, porque penetram a sociedade e o próprio Estado. O exemplo do México mostra onde isso pode levar: quando, em 2006, o Exército foi enviado para combater os cartéis, começou um dos capítulos mais brutais da história do país, com centenas de milhares de mortos e desaparecidos. O resultado: os cartéis, reagrupados, continuam tão fortes quanto antes e dominam cidades inteiras.
Um argumento que talvez convença até cabeças-quentes de direita, como o deputado Nikolas Ferreira, que impulsiona a proposta de classificação do CV como grupo terrorista: se o Brasil anunciasse que há organizações terroristas atuando em seu território, investidores estrangeiros pensariam três vezes antes de aplicar seu dinheiro aqui – os custos de seguro disparariam.
Combate com inteligência
Se o objetivo fosse realmente combater o crime organizado de forma eficaz e duradoura, isso deveria ser feito com bisturi, não com punhal – com inteligência, não com brutalidade e estupidez.
Seria preciso seguir o dinheiro da máfia e usar novas tecnologias. A inteligência artificial, por exemplo, pode detectar transações suspeitas com precisão e rapidez, pois é capaz de processar volumes de dados que nenhum delegado conseguiria. Já a tecnologia blockchain permite rastrear as operações financeiras e documentar os fluxos de dinheiro de forma transparente.
Igualmente essencial seria melhorar a cooperação internacional entre instituições financeiras e autoridades para desmantelar redes mafiosas transnacionais.
Tudo isso ocorreria de maneira discreta e silenciosa. E atingiria o crime organizado em seu ponto mais sensível: o dinheiro. Enquanto, porém, a política brasileira preferir ver sangue nas ruas, nada mudará.
A bolha da IA vai estourar?
A festa da Inteligência Artificial (IA) está a todo vapor, com dezenas de bilhões investidos em infraestrutura, startups e talentos.
Entre os anúncios mais notáveis deste ano está a notícia de que a OpenAI , o Softbank e a Oracle se comprometeram a investir US$ 500 bilhões em supercomputadores de IA.
Enquanto isso, na China, as gigantes Alibaba e Tencent aumentaram seus investimentos com a ambição de liderar o país no campo da IA até 2030.
Mas os sinais de estagnação estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. O uso da IA no mundo empresarial está em declínio. Muitos economistas acreditam que as preocupações com seu uso, apenas três anos após sua ampla disseminação, refutam a narrativa predominante de que a IA revolucionará a forma como as empresas operam, simplificando tarefas repetitivas e aprimorando as previsões.
"O grande investimento em infraestrutura pressupõe um aumento vertiginoso em seu uso. No entanto, diversas pesquisas mostram que esse uso vem diminuindo desde o verão", disse Carl-Benedikt Frey, professor de IA da Universidade de Oxford, à DW. "A menos que surjam em breve novos usos duradouros, a bolha pode estourar."
O Departamento do Censo dos EUA , que pesquisa 1,2 milhão de empresas naquele país a cada 15 dias, descobriu que o uso de ferramentas de IA em empresas com mais de 250 funcionários caiu de quase 14% em junho para menos de 12% em agosto.
O maior desafio para a IA é sua tendência a alucinar , ou seja, a gerar informações plausíveis, mas falsas. Outras fragilidades incluem sua falta de confiabilidade e o baixo desempenho de agentes autônomos, que concluem suas tarefas com sucesso apenas em um terço das vezes.
"Ao contrário de um aprendiz que aprende na prática, os sistemas de IA pré-treinados não melhoram com a experiência. Precisamos de aprendizado contínuo e de modelos que se adaptem às mudanças de circunstâncias", afirma Frey.
À medida que a distância entre as expectativas exorbitantes e a realidade comercial aumenta, o entusiasmo dos investidores pela IA começa a diminuir. No terceiro trimestre do ano, os investimentos de capital de risco em empresas privadas de IA caíram 22% em relação ao trimestre anterior.
"O que me incomoda é a escala do investimento em comparação com a receita gerada pela IA", disse o economista Stuart Mills, pesquisador sênior da London School of Economics.
A OpenAI, líder de mercado, gerou US$ 3,7 bilhões em receita no ano passado, em comparação com despesas operacionais totais de até US$ 9 bilhões. A empresa afirma estar a caminho de gerar cerca de US$ 13 bilhões em receita este ano, mas projeta gastar US$ 129 bilhões até 2029.
Poucos quantificaram a bolha da IA de forma tão definitiva quanto Julien Garran, sócio da empresa britânica MacroStrategy Partnership. Ele estima que o enorme volume de capital investido em IA — apesar das escassas evidências de lucratividade sustentável — supera em muito as especulações anteriores. "É 17 vezes maior do que o estouro da bolha da internet", disse ele à DW.
Resultados recentes de grandes empresas de tecnologia geraram um otimismo cauteloso, mas também novas dúvidas sobre o potencial da IA. A receita do terceiro trimestre da plataforma de análise de dados Palatir saltou 63%, mas o preço de suas ações caiu 7% após a divulgação da notícia. Os fortes resultados da AMD e da Meta também foram ofuscados pelas preocupações do mercado com a sustentabilidade do sistema.
Essa desconexão entre valores crescentes e fundamentos instáveis é exatamente o que preocupa Mills, que vê uma lacuna cada vez maior entre o que a IA promete e o que ela realmente entrega ao mercado.
Quando é que a bolha vai estourar?
"Com exceção da Nvidia , que está vendendo suas ações desenfreadamente, a maioria das empresas de IA generativa está extremamente sobrevalorizada", disse Gary Marcus, professor de psicologia e neurociência da Universidade de Nova York. "Prevejo que tudo vai desmoronar, possivelmente em breve. Os fundamentos, tanto técnicos quanto econômicos, simplesmente não fazem sentido."
Em um tom menos sombrio, Sarah Hoffman, diretora de Liderança de Pensamento em IA da AlphaSense, prevê mais uma "correção de mercado" do que um "estouro catastrófico de bolha".
Após um longo período de expectativas exageradas, o investimento empresarial em IA se tornará mais seletivo, explica Hoffman, com o foco mudando de "grandes promessas para evidências claras dos efeitos" da oferta, a fim de garantir que "os projetos gerem retornos quantificáveis".
Entre os anúncios mais notáveis deste ano está a notícia de que a OpenAI , o Softbank e a Oracle se comprometeram a investir US$ 500 bilhões em supercomputadores de IA.
Enquanto isso, na China, as gigantes Alibaba e Tencent aumentaram seus investimentos com a ambição de liderar o país no campo da IA até 2030.
Mas os sinais de estagnação estão se tornando cada vez mais difíceis de ignorar. O uso da IA no mundo empresarial está em declínio. Muitos economistas acreditam que as preocupações com seu uso, apenas três anos após sua ampla disseminação, refutam a narrativa predominante de que a IA revolucionará a forma como as empresas operam, simplificando tarefas repetitivas e aprimorando as previsões.
"O grande investimento em infraestrutura pressupõe um aumento vertiginoso em seu uso. No entanto, diversas pesquisas mostram que esse uso vem diminuindo desde o verão", disse Carl-Benedikt Frey, professor de IA da Universidade de Oxford, à DW. "A menos que surjam em breve novos usos duradouros, a bolha pode estourar."
O Departamento do Censo dos EUA , que pesquisa 1,2 milhão de empresas naquele país a cada 15 dias, descobriu que o uso de ferramentas de IA em empresas com mais de 250 funcionários caiu de quase 14% em junho para menos de 12% em agosto.
O maior desafio para a IA é sua tendência a alucinar , ou seja, a gerar informações plausíveis, mas falsas. Outras fragilidades incluem sua falta de confiabilidade e o baixo desempenho de agentes autônomos, que concluem suas tarefas com sucesso apenas em um terço das vezes.
"Ao contrário de um aprendiz que aprende na prática, os sistemas de IA pré-treinados não melhoram com a experiência. Precisamos de aprendizado contínuo e de modelos que se adaptem às mudanças de circunstâncias", afirma Frey.
À medida que a distância entre as expectativas exorbitantes e a realidade comercial aumenta, o entusiasmo dos investidores pela IA começa a diminuir. No terceiro trimestre do ano, os investimentos de capital de risco em empresas privadas de IA caíram 22% em relação ao trimestre anterior.
"O que me incomoda é a escala do investimento em comparação com a receita gerada pela IA", disse o economista Stuart Mills, pesquisador sênior da London School of Economics.
A OpenAI, líder de mercado, gerou US$ 3,7 bilhões em receita no ano passado, em comparação com despesas operacionais totais de até US$ 9 bilhões. A empresa afirma estar a caminho de gerar cerca de US$ 13 bilhões em receita este ano, mas projeta gastar US$ 129 bilhões até 2029.
Poucos quantificaram a bolha da IA de forma tão definitiva quanto Julien Garran, sócio da empresa britânica MacroStrategy Partnership. Ele estima que o enorme volume de capital investido em IA — apesar das escassas evidências de lucratividade sustentável — supera em muito as especulações anteriores. "É 17 vezes maior do que o estouro da bolha da internet", disse ele à DW.
Resultados recentes de grandes empresas de tecnologia geraram um otimismo cauteloso, mas também novas dúvidas sobre o potencial da IA. A receita do terceiro trimestre da plataforma de análise de dados Palatir saltou 63%, mas o preço de suas ações caiu 7% após a divulgação da notícia. Os fortes resultados da AMD e da Meta também foram ofuscados pelas preocupações do mercado com a sustentabilidade do sistema.
Essa desconexão entre valores crescentes e fundamentos instáveis é exatamente o que preocupa Mills, que vê uma lacuna cada vez maior entre o que a IA promete e o que ela realmente entrega ao mercado.
Quando é que a bolha vai estourar?
"Com exceção da Nvidia , que está vendendo suas ações desenfreadamente, a maioria das empresas de IA generativa está extremamente sobrevalorizada", disse Gary Marcus, professor de psicologia e neurociência da Universidade de Nova York. "Prevejo que tudo vai desmoronar, possivelmente em breve. Os fundamentos, tanto técnicos quanto econômicos, simplesmente não fazem sentido."
Em um tom menos sombrio, Sarah Hoffman, diretora de Liderança de Pensamento em IA da AlphaSense, prevê mais uma "correção de mercado" do que um "estouro catastrófico de bolha".
Após um longo período de expectativas exageradas, o investimento empresarial em IA se tornará mais seletivo, explica Hoffman, com o foco mudando de "grandes promessas para evidências claras dos efeitos" da oferta, a fim de garantir que "os projetos gerem retornos quantificáveis".
Assinar:
Comentários (Atom)