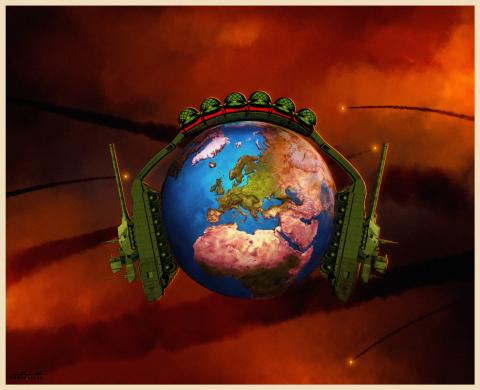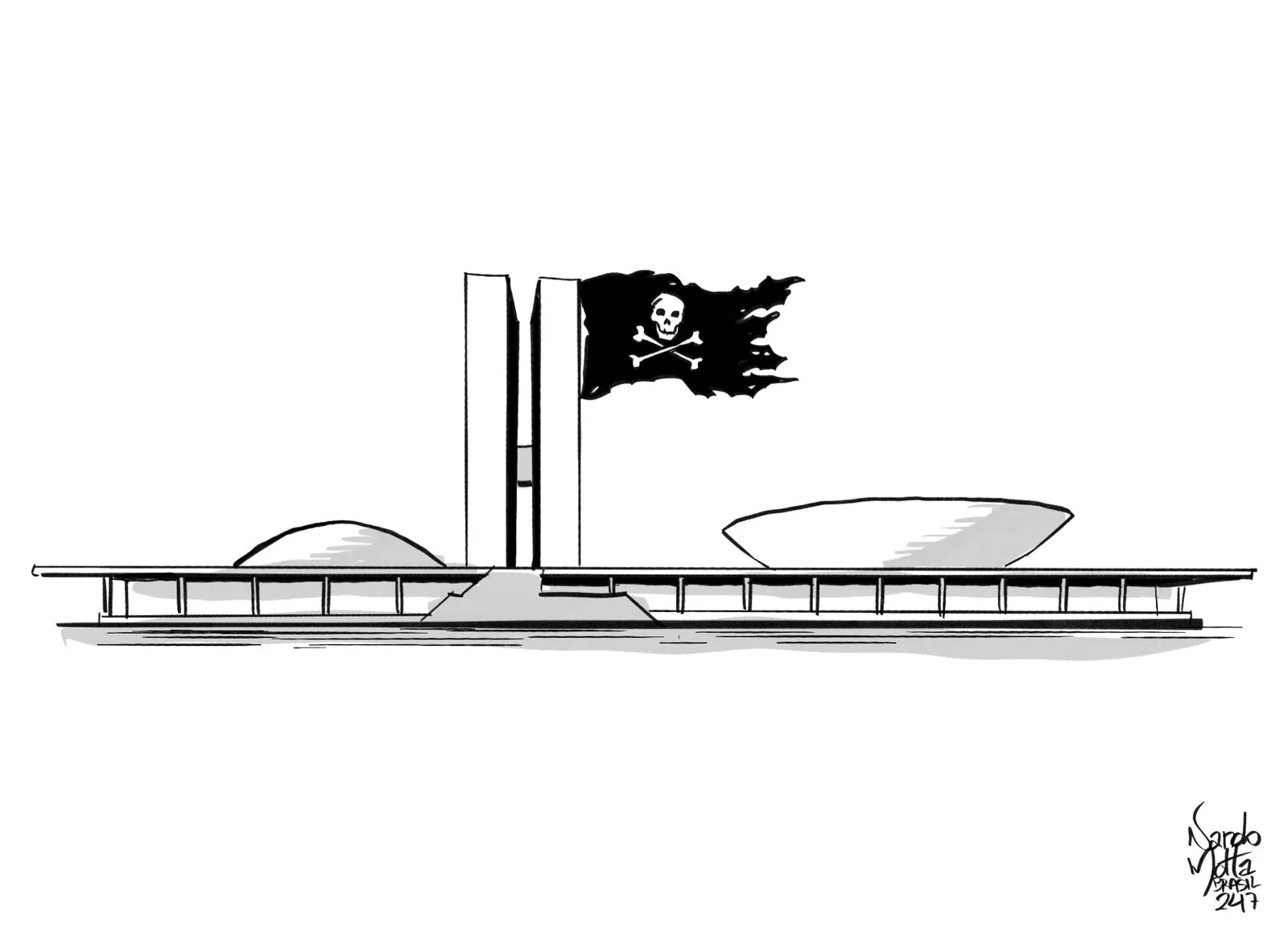sexta-feira, 9 de maio de 2025
Os planos de Israel para a 'conquista de Gaza'
O gabinete de segurança de Israel aprovou por unanimidade um plano para expandir sua ofensiva militar na Faixa de Gaza. Apelidada de "Operação Carros de Gideão", ela inclui a "conquista de Gaza" e a ocupação do território, disse uma autoridade israelense na segunda-feira, sem especificar quanto tempo duraria. O Gabinete também aprovou o recrutamento de dezenas de milhares de reservistas para realizar a operação.
De acordo com o que foi descoberto até agora, o plano prevê assumir o controle de Gaza, deslocar à força a população civil ao sul da Faixa, desmantelar o grupo militante Hamas, libertar os reféns restantes e estabelecer um novo mecanismo de ajuda — mas somente após o início da operação.
Não se espera que o plano seja totalmente implementado antes da visita do presidente dos EUA, Donald Trump, aos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita na próxima semana. Até lá, os esforços para chegar a um cessar-fogo e um acordo de reféns com o Hamas continuarão, disse a autoridade israelense.
De acordo com os últimos relatórios, 59 reféns permanecem em Gaza após o ataque terrorista liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Acredita-se que apenas 24 deles estejam vivos. Relatórios do Ministério da Saúde de Gaza afirmam que a enorme campanha militar lançada por Israel em Gaza em resposta resultou na morte de cerca de 52.000 palestinos, a maioria civis. As agências internacionais geralmente consideram a contagem de mortes do Ministério de Gaza confiável.
Após a decisão do gabinete, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, disse em uma mensagem de vídeo publicada no X que a nova ofensiva em Gaza terá como objetivo derrotar o Hamas. Ele acrescentou que "a população será deslocada para sua própria proteção".
Segundo o direito internacional, o deslocamento forçado de civis durante um conflito armado é um crime de guerra. Quando feito sistematicamente, também pode ser considerado um crime contra a humanidade.
Na segunda-feira, o porta-voz militar das IDF, Ephraim Defrin, declarou que "o objetivo é o retorno dos reféns e o desmantelamento e a derrota final do regime do Hamas". Ele também confirmou que um aspecto central da operação militar é a transferência forçada da "maioria da população da Faixa de Gaza" para áreas no sul. Não está claro o que aconteceria com as pessoas que não pudessem ou não quisessem sair.
Além disso, um alto funcionário de segurança disse a repórteres que os objetivos operacionais incluiriam um "programa de transferência voluntária" para pessoas deslocadas no sul, aparentemente aludindo à controversa proposta de Trump de que os Estados Unidos tomem posse do território e realoquem a população de Gaza para terceiros países. Autoridades das Nações Unidas chamaram essa medida de limpeza étnica.
Nos primeiros meses da guerra, quase 90% dos 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza foram forçados a deixar suas casas devido a "ordens de evacuação" emitidas pelos militares. Depois que Israel criou o Corredor Netzarim, uma zona militar que divide o norte e o sul de Gaza, eles não puderam retornar até que um cessar-fogo entrou em vigor em janeiro.
Ao contrário dos últimos meses, o exército israelense não planeja se retirar após uma operação terrestre, mas "permanecerá em qualquer área que seja conquistada", disse uma alta autoridade israelense a repórteres. Alguns relatórios sugerem que essas áreas se tornariam parte de uma zona de segurança, que o exército já estabeleceu e recentemente expandiu dentro da Faixa de Gaza. Outros sugerem tomar todo o território, que tem apenas cerca de 365 quilômetros quadrados.
Desde que Israel encerrou um cessar-fogo temporário de dois meses com o Hamas e retomou sua ofensiva em março, o exército expandiu suas chamadas zonas de segurança e mudou o mapa da Faixa de Gaza. Além do Corredor Netzarim, foi criado o Corredor Morag, separando Khan Yunis de Rafah. Ambos os corredores vão de leste a oeste, dividindo Gaza em três partes.
A ONU estima que, desde que Israel retomou sua ofensiva, cerca de 70% do território faz parte de uma "zona vermelha", exigindo coordenação com os militares, ou áreas sujeitas às chamadas "ordens de evacuação". Isso reduziu centenas de milhares de palestinos a um espaço cada vez menor, enquanto bombardeios e ataques aéreos continuam na Faixa de Gaza.
Na segunda-feira, o ministro das Finanças de extrema direita, Bezalel Smotrich, disse que o público israelense deveria "parar de ter medo da palavra 'ocupação'". Falando a repórteres do canal de televisão israelense Canal 12, ele declarou: "Finalmente vamos ocupar a Faixa de Gaza".
O gabinete também teria aprovado um novo mecanismo para distribuição de ajuda na Faixa de Gaza, mas os detalhes ainda não estão claros.
Desde o início de março, Israel não permite a entrada de nenhuma ajuda, alimentos, suprimentos médicos ou produtos comerciais. Organizações humanitárias dizem que a maior parte de seus suprimentos se esgotou. Grande parte da população não tem mais alimentos nem condições de pagar por produtos básicos, cujos preços dispararam. Organizações humanitárias declararam que o sistema humanitário está à beira do colapso e acusaram Israel de usar a ajuda como ferramenta política. Autoridades da ONU alertaram que a fome é um crime de guerra, mas Israel nega que essa tenha sido a intenção.
Autoridades israelenses dizem que o objetivo é impedir que o Hamas desvie ajuda para seus agentes. Em uma coletiva de imprensa, um alto funcionário de segurança israelense disse que o bloqueio humanitário permaneceria em vigor por enquanto e só seria suspenso após o início da ofensiva militar e uma "evacuação completa da população para o sul".
Em fevereiro, organizações humanitárias alertaram sobre as novas diretrizes propostas pelo COGAT, o Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios, que se reporta ao Ministério da Defesa de Israel.
Um documento interno que circula entre organizações de ajuda humanitária, visto pela DW, inclui a restrição de pontos de entrada para uma passagem de fronteira ao sul, perto do Egito, a transferência de ajuda para "centros" administrados por empresas de segurança privadas e supervisionados pelos militares israelenses, e um novo processo para organizações internacionais de ajuda humanitária buscarem a aprovação do COGAT antes de receberem permissão para operar.
Os chefes de todas as agências e organizações da ONU que operam na Faixa de Gaza chamaram esses planos de "inaceitáveis". Em uma declaração conjunta emitida no domingo, eles argumentaram que "eles violam princípios humanitários fundamentais e parecem ter como objetivo fortalecer o controle sobre suprimentos vitais como uma tática de pressão".
De acordo com o que foi descoberto até agora, o plano prevê assumir o controle de Gaza, deslocar à força a população civil ao sul da Faixa, desmantelar o grupo militante Hamas, libertar os reféns restantes e estabelecer um novo mecanismo de ajuda — mas somente após o início da operação.
Não se espera que o plano seja totalmente implementado antes da visita do presidente dos EUA, Donald Trump, aos Emirados Árabes Unidos, Catar e Arábia Saudita na próxima semana. Até lá, os esforços para chegar a um cessar-fogo e um acordo de reféns com o Hamas continuarão, disse a autoridade israelense.
De acordo com os últimos relatórios, 59 reféns permanecem em Gaza após o ataque terrorista liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023. Acredita-se que apenas 24 deles estejam vivos. Relatórios do Ministério da Saúde de Gaza afirmam que a enorme campanha militar lançada por Israel em Gaza em resposta resultou na morte de cerca de 52.000 palestinos, a maioria civis. As agências internacionais geralmente consideram a contagem de mortes do Ministério de Gaza confiável.
Após a decisão do gabinete, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, disse em uma mensagem de vídeo publicada no X que a nova ofensiva em Gaza terá como objetivo derrotar o Hamas. Ele acrescentou que "a população será deslocada para sua própria proteção".
Segundo o direito internacional, o deslocamento forçado de civis durante um conflito armado é um crime de guerra. Quando feito sistematicamente, também pode ser considerado um crime contra a humanidade.
Na segunda-feira, o porta-voz militar das IDF, Ephraim Defrin, declarou que "o objetivo é o retorno dos reféns e o desmantelamento e a derrota final do regime do Hamas". Ele também confirmou que um aspecto central da operação militar é a transferência forçada da "maioria da população da Faixa de Gaza" para áreas no sul. Não está claro o que aconteceria com as pessoas que não pudessem ou não quisessem sair.
Além disso, um alto funcionário de segurança disse a repórteres que os objetivos operacionais incluiriam um "programa de transferência voluntária" para pessoas deslocadas no sul, aparentemente aludindo à controversa proposta de Trump de que os Estados Unidos tomem posse do território e realoquem a população de Gaza para terceiros países. Autoridades das Nações Unidas chamaram essa medida de limpeza étnica.
Nos primeiros meses da guerra, quase 90% dos 2,3 milhões de habitantes da Faixa de Gaza foram forçados a deixar suas casas devido a "ordens de evacuação" emitidas pelos militares. Depois que Israel criou o Corredor Netzarim, uma zona militar que divide o norte e o sul de Gaza, eles não puderam retornar até que um cessar-fogo entrou em vigor em janeiro.
Ao contrário dos últimos meses, o exército israelense não planeja se retirar após uma operação terrestre, mas "permanecerá em qualquer área que seja conquistada", disse uma alta autoridade israelense a repórteres. Alguns relatórios sugerem que essas áreas se tornariam parte de uma zona de segurança, que o exército já estabeleceu e recentemente expandiu dentro da Faixa de Gaza. Outros sugerem tomar todo o território, que tem apenas cerca de 365 quilômetros quadrados.
Desde que Israel encerrou um cessar-fogo temporário de dois meses com o Hamas e retomou sua ofensiva em março, o exército expandiu suas chamadas zonas de segurança e mudou o mapa da Faixa de Gaza. Além do Corredor Netzarim, foi criado o Corredor Morag, separando Khan Yunis de Rafah. Ambos os corredores vão de leste a oeste, dividindo Gaza em três partes.
A ONU estima que, desde que Israel retomou sua ofensiva, cerca de 70% do território faz parte de uma "zona vermelha", exigindo coordenação com os militares, ou áreas sujeitas às chamadas "ordens de evacuação". Isso reduziu centenas de milhares de palestinos a um espaço cada vez menor, enquanto bombardeios e ataques aéreos continuam na Faixa de Gaza.
Na segunda-feira, o ministro das Finanças de extrema direita, Bezalel Smotrich, disse que o público israelense deveria "parar de ter medo da palavra 'ocupação'". Falando a repórteres do canal de televisão israelense Canal 12, ele declarou: "Finalmente vamos ocupar a Faixa de Gaza".
O gabinete também teria aprovado um novo mecanismo para distribuição de ajuda na Faixa de Gaza, mas os detalhes ainda não estão claros.
Desde o início de março, Israel não permite a entrada de nenhuma ajuda, alimentos, suprimentos médicos ou produtos comerciais. Organizações humanitárias dizem que a maior parte de seus suprimentos se esgotou. Grande parte da população não tem mais alimentos nem condições de pagar por produtos básicos, cujos preços dispararam. Organizações humanitárias declararam que o sistema humanitário está à beira do colapso e acusaram Israel de usar a ajuda como ferramenta política. Autoridades da ONU alertaram que a fome é um crime de guerra, mas Israel nega que essa tenha sido a intenção.
Autoridades israelenses dizem que o objetivo é impedir que o Hamas desvie ajuda para seus agentes. Em uma coletiva de imprensa, um alto funcionário de segurança israelense disse que o bloqueio humanitário permaneceria em vigor por enquanto e só seria suspenso após o início da ofensiva militar e uma "evacuação completa da população para o sul".
Em fevereiro, organizações humanitárias alertaram sobre as novas diretrizes propostas pelo COGAT, o Coordenador de Atividades Governamentais nos Territórios, que se reporta ao Ministério da Defesa de Israel.
Um documento interno que circula entre organizações de ajuda humanitária, visto pela DW, inclui a restrição de pontos de entrada para uma passagem de fronteira ao sul, perto do Egito, a transferência de ajuda para "centros" administrados por empresas de segurança privadas e supervisionados pelos militares israelenses, e um novo processo para organizações internacionais de ajuda humanitária buscarem a aprovação do COGAT antes de receberem permissão para operar.
Os chefes de todas as agências e organizações da ONU que operam na Faixa de Gaza chamaram esses planos de "inaceitáveis". Em uma declaração conjunta emitida no domingo, eles argumentaram que "eles violam princípios humanitários fundamentais e parecem ter como objetivo fortalecer o controle sobre suprimentos vitais como uma tática de pressão".
Representação enganosa
Enquanto o sindicalismo definha no país, o corporativismo prospera na Câmara, onde os deputados acabam de acrescentar 18 cadeiras às 513 existentes.
Sendo improvável que o Senado contrarie os companheiros de Casa e de causa, serão 531 os representantes dos 212 milhões de brasileiros. Nos EUA, referência habitual, a proporção é de 435 para 340 milhões de habitantes.
Em paralelo ao aumento das vagas, tramita um projeto de código eleitoral que prevê mandatos de cinco anos, e não mais de quatro, para deputados e de dez para senadores em substituição aos oito anos atuais.
A justificativa: o fim da reeleição e a unificação dos pleitos nacional, estaduais e municipais.
Antes de entrar nos detalhes dos dribles na representação popular, cabe levantar uma questão: precisamos de mais deputados ou de congressistas melhores?
Não há dúvida a respeito de qual seria a resposta do público caso viesse a ser consultado acerca de algo que, na condição de representado, lhe interessa diretamente.
Mas ouvir esse tipo de opinião não convém aos parlamentares, bem como não lhes pareceu conveniente deixar nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral a redistribuição das bancadas por estado como determinou o Supremo Tribunal Federal se, até 30 de junho, o Parlamento não revisse os cálculos.
Cientes de que o TSE o faria conforme os dados do censo demográfico do IBGE, segundo o qual onde há menos gente há também menos representantes, os deputados correram a aprovar —com urgência negada a pautas de fato urgentes— uma gambiarra para compensar as perdas e garantir ganhos cuja conta será espetada no bolso do público pagante.
Ao mesmo tempo, nossos congressistas mantêm intacta a distorção de representatividade decorrente da regra de no mínimo 8 e no máximo 70 delegados por unidade federativa. Pela proporcionalidade legal, São Paulo hoje teria 116 deputados e o Acre ficaria com 2. É só um exemplo, dentre vários aos quais o Congresso insiste em não dar atenção.
Sendo improvável que o Senado contrarie os companheiros de Casa e de causa, serão 531 os representantes dos 212 milhões de brasileiros. Nos EUA, referência habitual, a proporção é de 435 para 340 milhões de habitantes.
Em paralelo ao aumento das vagas, tramita um projeto de código eleitoral que prevê mandatos de cinco anos, e não mais de quatro, para deputados e de dez para senadores em substituição aos oito anos atuais.
A justificativa: o fim da reeleição e a unificação dos pleitos nacional, estaduais e municipais.
Antes de entrar nos detalhes dos dribles na representação popular, cabe levantar uma questão: precisamos de mais deputados ou de congressistas melhores?
Não há dúvida a respeito de qual seria a resposta do público caso viesse a ser consultado acerca de algo que, na condição de representado, lhe interessa diretamente.
Mas ouvir esse tipo de opinião não convém aos parlamentares, bem como não lhes pareceu conveniente deixar nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral a redistribuição das bancadas por estado como determinou o Supremo Tribunal Federal se, até 30 de junho, o Parlamento não revisse os cálculos.
Cientes de que o TSE o faria conforme os dados do censo demográfico do IBGE, segundo o qual onde há menos gente há também menos representantes, os deputados correram a aprovar —com urgência negada a pautas de fato urgentes— uma gambiarra para compensar as perdas e garantir ganhos cuja conta será espetada no bolso do público pagante.
Ao mesmo tempo, nossos congressistas mantêm intacta a distorção de representatividade decorrente da regra de no mínimo 8 e no máximo 70 delegados por unidade federativa. Pela proporcionalidade legal, São Paulo hoje teria 116 deputados e o Acre ficaria com 2. É só um exemplo, dentre vários aos quais o Congresso insiste em não dar atenção.
Judeus, por que não?
Todos sabemos que os judeus sofreram muito durante séculos. Políticos de vários países e épocas escolheram matá-los, expulsá-los, roubá-los e impor-lhes todo tipo de suplício. Essa é uma razão adicional para sentirmos irmandade com o povo hebreu; outra razão é porque, como nós, são humanos.
Por que a tão sofrida comunidade judaica não se pronuncia com firmeza, visibilidade e recursos, contra um pequeno grupo de hebreus que, tendo capturado o estado de Israel, tortura o povo palestino, impondo-lhe martírio análogo ao que tantos judeus já sofreram? Por que não?
São muitas as semelhanças entre o que os governantes hebreus atuais estão fazendo com os palestinos e o que Hitler fez com os antepassados desses mesmos dirigentes políticos. A maioria silencia por quê?
Certamente o governo de Israel tem direito de se defender de ataques. Mas o que se passa naquelas terras já deixou de ser legítima defesa, tornando-se uma covarde busca pelo extermínio de um povo. E, desta vez, as pessoas a serem suprimidas não são semitas!
Isso ficou ainda mais claro recentemente, quando o ministro das finanças de Israel afirmou que “Gaza deve ser completamente destruída e seus habitantes devem partir em grandes números para terceiros países”. Partir para onde?
Neste momento em que a prometida democratização da expressão de opiniões, na internet, parece ter se transformado em seu contrário, em razão dos algoritmos que espalham mais ódio que amor, chamar de antissemita todo aquele que critica o estado de Israel ficou fácil. Como é obvio, falar mal de um governo não significa depreciar o povo que ele governa! Mas, com o auxílio de centenas de milhões de dólares gastos pelo estado israelita para moldar a opinião pública, doméstica ou não, a pecha tende a colar. É também evidente que muitos judeus ocupam importantes posições de poder em outros governos, nas finanças, na ciência e na imprensa, o que leva muitos a evitar críticas àquele governo pode temer represálias.
Por que esse pequeno grupo de pessoas poderosas esquece a história da sua própria família e pratica, contra os palestinos, o que tantos algozes fizeram com seus avós, bisavós, trisavós, tetravós, penta, hexa e anteriores avós? E por que aqueles que, embora judeus, não participam desse grupo, não se manifestam em reprovação?
Não sei as respostas, mas devemos buscá-las. Encontrando-as, ampliaremos as chances de barbaridades como a que ocorre em Gaza não se repitam e os próximos séculos sejam de reconstrução e paz. Para todos, não para uma pequena parcela dos humanos.
Por que a tão sofrida comunidade judaica não se pronuncia com firmeza, visibilidade e recursos, contra um pequeno grupo de hebreus que, tendo capturado o estado de Israel, tortura o povo palestino, impondo-lhe martírio análogo ao que tantos judeus já sofreram? Por que não?
São muitas as semelhanças entre o que os governantes hebreus atuais estão fazendo com os palestinos e o que Hitler fez com os antepassados desses mesmos dirigentes políticos. A maioria silencia por quê?
Tomar a faixa de Gaza é guerra de conquista. Impedir ajuda humanitária de chegar ao encurralado povo palestino aproxima os dirigentes hebreus dos gestores dos campos nazistas. Por que a comunidade judaica, composta majoritariamente por pessoas como qualquer de nós, não se manifesta? Imagino que a maioria reprova o que tem feito o governo de Israel, cujas atitudes jamais podem ser atribuídas “aos judeus”, pois apenas um pequeno grupo é o responsável pela chacina em curso.
Certamente o governo de Israel tem direito de se defender de ataques. Mas o que se passa naquelas terras já deixou de ser legítima defesa, tornando-se uma covarde busca pelo extermínio de um povo. E, desta vez, as pessoas a serem suprimidas não são semitas!
Isso ficou ainda mais claro recentemente, quando o ministro das finanças de Israel afirmou que “Gaza deve ser completamente destruída e seus habitantes devem partir em grandes números para terceiros países”. Partir para onde?
Neste momento em que a prometida democratização da expressão de opiniões, na internet, parece ter se transformado em seu contrário, em razão dos algoritmos que espalham mais ódio que amor, chamar de antissemita todo aquele que critica o estado de Israel ficou fácil. Como é obvio, falar mal de um governo não significa depreciar o povo que ele governa! Mas, com o auxílio de centenas de milhões de dólares gastos pelo estado israelita para moldar a opinião pública, doméstica ou não, a pecha tende a colar. É também evidente que muitos judeus ocupam importantes posições de poder em outros governos, nas finanças, na ciência e na imprensa, o que leva muitos a evitar críticas àquele governo pode temer represálias.
Por que esse pequeno grupo de pessoas poderosas esquece a história da sua própria família e pratica, contra os palestinos, o que tantos algozes fizeram com seus avós, bisavós, trisavós, tetravós, penta, hexa e anteriores avós? E por que aqueles que, embora judeus, não participam desse grupo, não se manifestam em reprovação?
Não sei as respostas, mas devemos buscá-las. Encontrando-as, ampliaremos as chances de barbaridades como a que ocorre em Gaza não se repitam e os próximos séculos sejam de reconstrução e paz. Para todos, não para uma pequena parcela dos humanos.
Um Watergate todos os dias
A frase é de Jeffrey Goldberg, diretor da revista The Atlantic, o mesmo que foi adicionado acidentalmente a um canal de conversação privado na aplicação Signal onde a cúpula do Governo norte-americano, à excepção do Presidente, discutia planos militares confidenciais de ataque aos houthis no Iémen: “Cada dia é uma espécie de Watergate” com Donald Trump na Casa Branca, disse o jornalista nesta quarta-feira, numa conferência em Londres.
Já conhecíamos este registo incessante de casos da primeira passagem de Trump pela Casa Branca, mas o ritmo e a gravidade dos escândalos intensificam-se agora, em sentido inverso ao escrutínio de que o Presidente é objeto: o Congresso de maioria republicana abdicou do seu papel fiscalizador; as decisões da justiça norte-americana, que concedeu ao Presidente um estatuto de imunidade quase total, são abertamente contestadas ou ignoradas pela Casa Branca; a imprensa não alinhada é crescentemente alvo de tentativas de condicionamento; os democratas dividem-se entre os que querem ser oposição agora, ou em 2026, ou só em 2028.
Eis dois escândalos conhecidos nos últimos dias. O primeiro é relatado nesta quarta-feira pelo Washington Post. Vários países sujeitos às pesadas taxas alfandegárias decretadas por Trump estão a ser pressionados pela diplomacia norte-americana a fazer concessões à Starlink, a empresa de Internet por satélite de Elon Musk, o grande financiador da última campanha eleitoral republicana. Dá-se o exemplo do Lesoto, um pobre país africano de dois milhões de habitantes, alvo de proibitivas taxas de 50% sobre os seus produtos, que acaba de autorizar a entrada da companhia no seu mercado.
A relação direta entre as negociações sobre as taxas e a decisão dos reguladores do país africano de dar luz verde à Starlink não é uma mera conjectura do jornal norte-americano, mas algo que é reconhecido em comunicações internas do Departamento de Estado. A mesma operação de pressão está ou esteve em curso na Índia, Turquia, Camboja, Djibouti e noutros países em conversações com Washington.
O esforço de promoção da Starlink pelo Governo norte-americano não é novo e já vem da era Biden, mas era enquadrado na altura com a necessidade de travar a expansão de serviços correntes chineses e russos. As concessões à empresa de Musk parecem agora ser parte integral, embora não reconhecida publicamente, das exigências impostas aos países mais penalizados pela guerra comercial iniciada por Trump. Ou há Starlink, ou há taxas. É um triunfo para Musk que se soma à perspectiva de novos contratos, nos Estados Unidos, entre as suas Starlink e SpaceX, de um lado, e o Pentágono e a NASA, do outro. Ao mesmo tempo que o homem mais rico do mundo decide e executa cortes discricionários no Estado federal.
Mais evidentes ainda são os conflitos de interesse revelados na semana passada pelo New York Times. Trump e a sua família, que segundo a CBS terão visto os seus ativos de criptomoedas valorizarem em quase três mil milhões de dólares nos últimos tempos, têm estado a utilizar a presidência norte-americana para avançar os seus investimentos no sector. A World Liberty Financial (WLF), uma empresa de criptofinança controlada pelos Trump, recebe investimentos de empresários que têm visto os seus problemas com a justiça norte-americana serem resolvidos e arquivados.
Foi o caso de Justin Sun (o milionário chinês que comprou e comeu a banana de Maurizio Cattelan por 5,8 milhões de dólares), que investiu 75 milhões de euros na WLF e viu a CMVM norte-americana desistir de uma investigação às suas alegadas irregularidades financeiras. Ou de Arthur Hayes, outro empresário da área, que recebeu um perdão presidencial de Trump em março. Acrescem ainda as suspeitas de que a WLF terá recebido dinheiro de indivíduos estrangeiros que depois terá sido canalizado para o comité de tomada de posse de Trump. A lei norte-americana proíbe qualquer financiamento estrangeiro a este tipo de comités, a campanhas eleitorais ou qualquer atividade política.
A WLF terá ainda muito mais a ganhar se forem avante duas iniciativas nas mãos de Trump e dos republicanos: o estabelecimento de um fundo soberano de criptomoedas em que a ethereum terá, diz o Presidente, um papel central (a empresa é detentora de uma significativa quantidade desta moeda virtual), e a aprovação de um regime regulatório para as stablecoins (ou moedas estáveis, em paridade com divisas reais como o dólar, e que facilitam a compra e venda de criptomoedas), sendo que a WLF também comercializa este tipo de activo.
Trump é simultaneamente investidor e regulador da criptofinança, e o conflito parece não lhe causar um grande dilema. Pelo contrário: este mês, no dia 22, vai oferecer um jantar cuja cotação disparou com o anúncio. Chegou mesmo a prometer uma visita guiada à Casa Branca, mas a ideia foi entretanto apagada do site ligado à iniciativa.
No Congresso, os democratas pedem agora uma investigação aos investimentos em criptomoedas da família Trump, e senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Jeff Merkley acusam abertamente o Presidente de corrupção.
Ao mesmo tempo que enriquece, Trump pede paciência um prognóstico económico fortemente penalizado pelas suas tarifas. As crianças, disse o Presidente numa entrevista à NBC, “não precisam de 30 bonecas”, apenas “três ou quatro”. “Não precisam de 250 lápis, podem ter cinco”, defendeu.
É uma nova versão do “comam brioche” incorretamente atribuído a Maria Antonieta. Mas não será por isto que Trump perderá a cabeça como a rainha francesa. Amanhã haverá novos escândalos para nos distrairmos dos casos de hoje.
Já conhecíamos este registo incessante de casos da primeira passagem de Trump pela Casa Branca, mas o ritmo e a gravidade dos escândalos intensificam-se agora, em sentido inverso ao escrutínio de que o Presidente é objeto: o Congresso de maioria republicana abdicou do seu papel fiscalizador; as decisões da justiça norte-americana, que concedeu ao Presidente um estatuto de imunidade quase total, são abertamente contestadas ou ignoradas pela Casa Branca; a imprensa não alinhada é crescentemente alvo de tentativas de condicionamento; os democratas dividem-se entre os que querem ser oposição agora, ou em 2026, ou só em 2028.
Eis dois escândalos conhecidos nos últimos dias. O primeiro é relatado nesta quarta-feira pelo Washington Post. Vários países sujeitos às pesadas taxas alfandegárias decretadas por Trump estão a ser pressionados pela diplomacia norte-americana a fazer concessões à Starlink, a empresa de Internet por satélite de Elon Musk, o grande financiador da última campanha eleitoral republicana. Dá-se o exemplo do Lesoto, um pobre país africano de dois milhões de habitantes, alvo de proibitivas taxas de 50% sobre os seus produtos, que acaba de autorizar a entrada da companhia no seu mercado.
A relação direta entre as negociações sobre as taxas e a decisão dos reguladores do país africano de dar luz verde à Starlink não é uma mera conjectura do jornal norte-americano, mas algo que é reconhecido em comunicações internas do Departamento de Estado. A mesma operação de pressão está ou esteve em curso na Índia, Turquia, Camboja, Djibouti e noutros países em conversações com Washington.
O esforço de promoção da Starlink pelo Governo norte-americano não é novo e já vem da era Biden, mas era enquadrado na altura com a necessidade de travar a expansão de serviços correntes chineses e russos. As concessões à empresa de Musk parecem agora ser parte integral, embora não reconhecida publicamente, das exigências impostas aos países mais penalizados pela guerra comercial iniciada por Trump. Ou há Starlink, ou há taxas. É um triunfo para Musk que se soma à perspectiva de novos contratos, nos Estados Unidos, entre as suas Starlink e SpaceX, de um lado, e o Pentágono e a NASA, do outro. Ao mesmo tempo que o homem mais rico do mundo decide e executa cortes discricionários no Estado federal.
Mais evidentes ainda são os conflitos de interesse revelados na semana passada pelo New York Times. Trump e a sua família, que segundo a CBS terão visto os seus ativos de criptomoedas valorizarem em quase três mil milhões de dólares nos últimos tempos, têm estado a utilizar a presidência norte-americana para avançar os seus investimentos no sector. A World Liberty Financial (WLF), uma empresa de criptofinança controlada pelos Trump, recebe investimentos de empresários que têm visto os seus problemas com a justiça norte-americana serem resolvidos e arquivados.
Foi o caso de Justin Sun (o milionário chinês que comprou e comeu a banana de Maurizio Cattelan por 5,8 milhões de dólares), que investiu 75 milhões de euros na WLF e viu a CMVM norte-americana desistir de uma investigação às suas alegadas irregularidades financeiras. Ou de Arthur Hayes, outro empresário da área, que recebeu um perdão presidencial de Trump em março. Acrescem ainda as suspeitas de que a WLF terá recebido dinheiro de indivíduos estrangeiros que depois terá sido canalizado para o comité de tomada de posse de Trump. A lei norte-americana proíbe qualquer financiamento estrangeiro a este tipo de comités, a campanhas eleitorais ou qualquer atividade política.
A WLF terá ainda muito mais a ganhar se forem avante duas iniciativas nas mãos de Trump e dos republicanos: o estabelecimento de um fundo soberano de criptomoedas em que a ethereum terá, diz o Presidente, um papel central (a empresa é detentora de uma significativa quantidade desta moeda virtual), e a aprovação de um regime regulatório para as stablecoins (ou moedas estáveis, em paridade com divisas reais como o dólar, e que facilitam a compra e venda de criptomoedas), sendo que a WLF também comercializa este tipo de activo.
Trump é simultaneamente investidor e regulador da criptofinança, e o conflito parece não lhe causar um grande dilema. Pelo contrário: este mês, no dia 22, vai oferecer um jantar cuja cotação disparou com o anúncio. Chegou mesmo a prometer uma visita guiada à Casa Branca, mas a ideia foi entretanto apagada do site ligado à iniciativa.
No Congresso, os democratas pedem agora uma investigação aos investimentos em criptomoedas da família Trump, e senadores como Elizabeth Warren, Bernie Sanders e Jeff Merkley acusam abertamente o Presidente de corrupção.
Ao mesmo tempo que enriquece, Trump pede paciência um prognóstico económico fortemente penalizado pelas suas tarifas. As crianças, disse o Presidente numa entrevista à NBC, “não precisam de 30 bonecas”, apenas “três ou quatro”. “Não precisam de 250 lápis, podem ter cinco”, defendeu.
É uma nova versão do “comam brioche” incorretamente atribuído a Maria Antonieta. Mas não será por isto que Trump perderá a cabeça como a rainha francesa. Amanhã haverá novos escândalos para nos distrairmos dos casos de hoje.
O PCC entra na agenda Brasil-EUA
A agenda bilateral do Brasil com os EUA/Trump 2.0 inclui agora outro tema sensível: o Primeiro Comando da Capital (PCC), o mais perigoso grupo criminoso do país e que se expande globalmente.
Donald Trump assinou ordem executiva recentemente incluindo na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) do Departamento de Estado seis cartéis de droga do México e as gangues latino-americanas MS-13, originária de El Salvador, a Tren de Aragua, originária da Venezuela, e grupos criminosos do Haiti.
Para a Casa Branca, os cartéis internacionais são “uma ameaça à segurança nacional além daquela representada pelo crime organizado tradicional”, com atividades que abrangem “convergência com atores extra-hemisféricos, desde organizações designadas de terrorismo estrangeiro até governos estrangeiros antagônicos”, por exemplo.
É a primeira vez que grupos puramente criminosos são qualificados por Washington de terroristas. Essa designação era até agora utilizada para grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico, que utilizam a violência para fins políticos.
Essa designação tem amplas implicações para os países. Ela dá a Trump amplo poder para impor penalidades econômicas aos grupos criminosos, como também toda pessoa ou organização suspeita de fornecer apoio material, logístico ou financeiro aos cartéis será passível de punições pesadas impostas por Washington. A interpretação do que é apoio pode depender da vontade política do governo americano.
Além disso, autoridades do vizinho México, que se dizem ciosas de sua soberania, suspeitam que a designação de cartéis como terroristas abre brecha para eventualmente legitimar intervenções militares clandestinas dos EUA em vários países em que essas organizações são ativas. Elon Musk, aliado de Trump, disse que a ordem executiva do presidente significa que os cartéis agora são elegíveis a ataques de drones.
O PCC, a partir de sua base no Brasil, se tornou uma ameaça criminosa transnacional particularmente séria, explorando fraquezas de sistemas políticos, jurídicos e econômicos em diferentes partes do mundo.
O PCC hoje já é classificado pelos EUA como organização criminosa internacional - mas não como terrorista. E, pelo que apurou a coluna, o governo brasileiro não quer e não acha que deveria ser classificado como grupo terrorista, como foi feito com os grupos mexicanos, haitiano e salvadorenho. Isso porque deflagraria a legislação diferente e mais complexa nos EUA com efeitos colaterais mais graves para o país.
Por exemplo, em termos de sanções e outras ações autorizadas ao governo dos EUA, operação financeira do PCC poderia gerar sanções para o banco que processou, mesmo se o banco não soubesse que tratava com o grupo criminoso. A sanção viria se os EUA achassem que a instituição não tomou as medidas necessárias para evitar a operação.
Não há ainda articulações específicas entre Brasília e Washington. Os relatos são de que, por enquanto, o governo brasileiro está recebendo missões americanas, mostrando o que está sendo feito para combater o crime organizado e aumentando cooperação para que os EUA não considerem necessário classificar o PCC como grupo terrorista, com os estragos que viriam em seguida.
Quanto ao risco de o Brasil ser considerado país que abriga terrorismo, ao estilo do que Cuba é hoje, na visão trumpista, e que implicaria sanções mais graves ao país e complicaria o investimento externo, é uma hipótese que não se coloca e tem uma longa distância da realidade, segundo avaliação em Brasília.
O fato é que o PCC está no radar internacional. Quando impôs sanções no ano passado a um operador acusado de lavagem de R$ 1,2 bilhão para o grupo, o Departamento do Tesouro americano observou a forte atuação da facção na América do Sul e presença nos EUA, Europa, África e Ásia.
O governo do Reino Unido acaba de publicar relatório de uma missão enviada ao Brasil para estudar grupos criminosos organizados no país, que estima serem mais de 80, com domínio do PCC e do Comando Vermelho. Uma das constatações: “Existe corrupção em todos os níveis do sistema de justiça criminal e aqueles que ocupam posições estratégicas são vulneráveis à exploração por grupos criminosos. Entretanto, autoridades policiais expressam o desejo e a disposição de combater esses grupos e a corrupção”.
França, Portugal, Espanha, Itália e outros países também têm deflagrado o sinal de alerta contra a presença local do PCC. O Instituto Australiano de Políticas Estratégicas (Aspi) publicou análise apontando “uma nova ameaça à segurança da Austrália: tráfico de cocaína por grupos brasileiros”.
Um dos autores da nota é Rodrigo Duton, policial do Rio de Janeiro e especialista no momento no instituto australiano. Menciona a base das operações ilícitas como tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupção, assassinatos por encomenda. E destaca que autoridades brasileiras descobriram esquemas de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo imóveis, empresas de construção civil, postos de gasolina, coleta de lixo, igrejas, transporte público, concessionárias de veículos, mineração ilegal de ouro, fintechs, assistência médica pública, organizações não governamentais e operações de bitcoin.
Um relatório publicado em Genebra prevê que nos próximos 15 anos o crime organizado se tornará globalmente mais difundido e poderoso do que é hoje. É que o chama de uma nova “era de ouro” para os criminosos, explorando escassez com crises climáticas, conflitos geopolíticos e avanços tecnológicos.
Donald Trump assinou ordem executiva recentemente incluindo na lista de Organizações Terroristas Estrangeiras (FTOs) do Departamento de Estado seis cartéis de droga do México e as gangues latino-americanas MS-13, originária de El Salvador, a Tren de Aragua, originária da Venezuela, e grupos criminosos do Haiti.
Para a Casa Branca, os cartéis internacionais são “uma ameaça à segurança nacional além daquela representada pelo crime organizado tradicional”, com atividades que abrangem “convergência com atores extra-hemisféricos, desde organizações designadas de terrorismo estrangeiro até governos estrangeiros antagônicos”, por exemplo.
É a primeira vez que grupos puramente criminosos são qualificados por Washington de terroristas. Essa designação era até agora utilizada para grupos como Al-Qaeda e Estado Islâmico, que utilizam a violência para fins políticos.
Essa designação tem amplas implicações para os países. Ela dá a Trump amplo poder para impor penalidades econômicas aos grupos criminosos, como também toda pessoa ou organização suspeita de fornecer apoio material, logístico ou financeiro aos cartéis será passível de punições pesadas impostas por Washington. A interpretação do que é apoio pode depender da vontade política do governo americano.
Além disso, autoridades do vizinho México, que se dizem ciosas de sua soberania, suspeitam que a designação de cartéis como terroristas abre brecha para eventualmente legitimar intervenções militares clandestinas dos EUA em vários países em que essas organizações são ativas. Elon Musk, aliado de Trump, disse que a ordem executiva do presidente significa que os cartéis agora são elegíveis a ataques de drones.
O PCC, a partir de sua base no Brasil, se tornou uma ameaça criminosa transnacional particularmente séria, explorando fraquezas de sistemas políticos, jurídicos e econômicos em diferentes partes do mundo.
O PCC hoje já é classificado pelos EUA como organização criminosa internacional - mas não como terrorista. E, pelo que apurou a coluna, o governo brasileiro não quer e não acha que deveria ser classificado como grupo terrorista, como foi feito com os grupos mexicanos, haitiano e salvadorenho. Isso porque deflagraria a legislação diferente e mais complexa nos EUA com efeitos colaterais mais graves para o país.
Por exemplo, em termos de sanções e outras ações autorizadas ao governo dos EUA, operação financeira do PCC poderia gerar sanções para o banco que processou, mesmo se o banco não soubesse que tratava com o grupo criminoso. A sanção viria se os EUA achassem que a instituição não tomou as medidas necessárias para evitar a operação.
Não há ainda articulações específicas entre Brasília e Washington. Os relatos são de que, por enquanto, o governo brasileiro está recebendo missões americanas, mostrando o que está sendo feito para combater o crime organizado e aumentando cooperação para que os EUA não considerem necessário classificar o PCC como grupo terrorista, com os estragos que viriam em seguida.
Quanto ao risco de o Brasil ser considerado país que abriga terrorismo, ao estilo do que Cuba é hoje, na visão trumpista, e que implicaria sanções mais graves ao país e complicaria o investimento externo, é uma hipótese que não se coloca e tem uma longa distância da realidade, segundo avaliação em Brasília.
O fato é que o PCC está no radar internacional. Quando impôs sanções no ano passado a um operador acusado de lavagem de R$ 1,2 bilhão para o grupo, o Departamento do Tesouro americano observou a forte atuação da facção na América do Sul e presença nos EUA, Europa, África e Ásia.
O governo do Reino Unido acaba de publicar relatório de uma missão enviada ao Brasil para estudar grupos criminosos organizados no país, que estima serem mais de 80, com domínio do PCC e do Comando Vermelho. Uma das constatações: “Existe corrupção em todos os níveis do sistema de justiça criminal e aqueles que ocupam posições estratégicas são vulneráveis à exploração por grupos criminosos. Entretanto, autoridades policiais expressam o desejo e a disposição de combater esses grupos e a corrupção”.
França, Portugal, Espanha, Itália e outros países também têm deflagrado o sinal de alerta contra a presença local do PCC. O Instituto Australiano de Políticas Estratégicas (Aspi) publicou análise apontando “uma nova ameaça à segurança da Austrália: tráfico de cocaína por grupos brasileiros”.
Um dos autores da nota é Rodrigo Duton, policial do Rio de Janeiro e especialista no momento no instituto australiano. Menciona a base das operações ilícitas como tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupção, assassinatos por encomenda. E destaca que autoridades brasileiras descobriram esquemas de lavagem de dinheiro do PCC envolvendo imóveis, empresas de construção civil, postos de gasolina, coleta de lixo, igrejas, transporte público, concessionárias de veículos, mineração ilegal de ouro, fintechs, assistência médica pública, organizações não governamentais e operações de bitcoin.
Um relatório publicado em Genebra prevê que nos próximos 15 anos o crime organizado se tornará globalmente mais difundido e poderoso do que é hoje. É que o chama de uma nova “era de ouro” para os criminosos, explorando escassez com crises climáticas, conflitos geopolíticos e avanços tecnológicos.
Ler ou não ler? Eis a questão
Talvez nada resuma de forma tão sintética os tempos que vivemos, como o momento em que Donald Trump, em 2016, após a vitória nas primárias do Nevada, afirmou: “Adoro os pouco instruídos” (“I love the poorly educated”). A multidão aplaudiu, incapaz de se sentir insultada.
E, no entanto, estamos todos progressivamente a perder a capacidade de ler textos complexos, de selecionar de forma crítica o verdadeiro do falso, de demonstrar empatia pelo outro.
O fenómeno não é novo, mas agudiza-se à medida que, diariamente, consumimos, mais de 34 gigabytes de informação (o equivalente a 100 mil palavras), consultamos os nossos telemóveis dezenas de vezes ao dia, e saltamos, entre ecrãs e dispositivos. Lemos, mas não retemos. Passamos os olhos no ecrã, em busca das palavras-chave – o princípio, o meio e o fim do texto – uma leitura em “F”, onde os argumentos, que nos permitem questionar e compreender, se perdem. Stanley Kubrick preocupava-se não com o facto de os computadores ficarem mais parecidos com o ser humano, mas o oposto… Hoje, quantas vezes nos sentimos um motor de busca a selecionar extratos de informação, para incluir num memorandum ou relatório?
Ficámos mais eficientes, mas mais frágeis na nossa capacidade de analisar de forma crítica a informação que nos chega. A informação, ao invés de nos dar conhecimento e poder, distrai-nos, entretém. Os nazis, pioneiros na propaganda, queimaram livros e distribuíram rádios a pilhas.
O meio digital contaminou a nossa forma de ler. Tornou-se mais difícil “ler profundamente” (deep reading como lhe chamam os neurologistas). Imergir no texto e, no processo, ser transportado para a realidade do autor, percorrer as ruas com as suas personagens, viver com elas as alegrias, angústias, vitórias e derrotas. Quando a história nos captura, é hoje mais provável ler como se de um filme se tratasse, acelerando para o final, do que vivenciar com a personagem os seus pensamentos e ações.
Podemos dizer que é apenas o sinal dos tempos, que verdadeiramente não altera as nossas capacidades, mas a neurociência já provou que não. O cérebro humano não está biologicamente programado para ler, como está, por exemplo, para aprender a falar ou ver. Aprender a ler é um processo complexo, que altera a estrutura do cérebro, obrigando a novas ligações entre sinapses e a reutilizar de forma diferente partes do cérebro biologicamente pré-programadas para outras tarefas. E saber ler não é o mesmo que ter um elevado nível de literacia. Tal envolve um esforço, que só o tempo e a atenção permitem e que só a persistência mantém. Hoje, parcelamos a nossa atenção, e, como tal, o tempo de concentração de que somos capazes tem vindo a diminuir.
Os estudos confirmam que os fatores ambientais estão a causar uma sociedade com défice de atenção. A somar ao stresse que sentimos, a nossa perda coletiva da capacidade de empatia, de compreender o outro e as razões que o movem. A neurociência demonstrou aquilo que sabíamos intuitivamente, quando lemos e relemos um livro que nos apela particularmente, o nosso cérebro e o nosso corpo vivem com a personagem as suas aventuras e desventuras, e isso transforma-nos como pessoas. Ler torna-nos mais humanos, porque vemos o mundo de muitas perspectivas, saímos da nossa realidade e somos capazes de compreender melhor aqueles que estão ao nosso lado, mas também os que habitam mundos, que sendo distantes do nosso, vimos todos os dias, na rua, no ecrã do telemóvel ou da televisão, mas que apelidamos de “outro”, “estrangeiro”, “imigrante”, “refugiado”. Retomar a leitura profunda exige esforço e tempo. Reeducar o cérebro. Mas quando, finalmente, aceitamos que já não somos o leitor que fomos na nossa adolescência – num tempo pré-smartphones –, estamos preparados para fazer o esforço, e lentamente recuperar o poder de viajar, sem sair de casa. Estamos também cognitivamente mais resilientes, individual e coletivamente, para resistir às investidas daqueles para quem os “pouco instruídos” são adoráveis…
Sofia Santos Machado
Assinar:
Comentários (Atom)