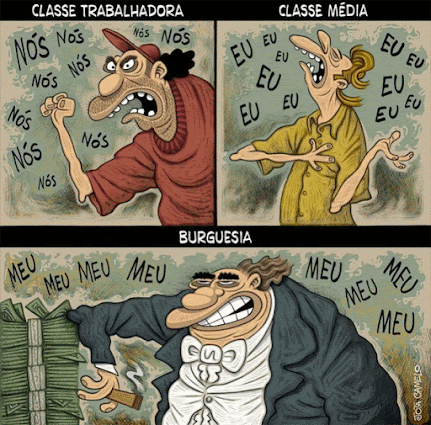segunda-feira, 26 de outubro de 2020
'Eleição de Bolsonaro inaugura república das milícias"
Duas das principais referências morais e profissionais na formação do presidente Jair Bolsonaro foram o general do Exército Newton Cruz e o coronel Carlos Brilhante Ustra. Em comum, ambos eram contrários ao processo de abertura que levaria à Nova República e assumiam a necessidade de sujar as mãos na disputa política que viam como uma guerra.
Chefe da agência central do SNI (Serviço Nacional de Informações), cargo que exerceu até 1983, quando foi para Brasília assumir o Comando Militar do Planalto, Cruz foi um dos representantes da linha dura na Presidência de João Baptista Figueiredo, organizando a resistência contra a redemocratização em um período em que pelo menos 40 bombas explodiram no Brasil.
A série de atentados, cujo objetivo era provocar medo para justificar novas medidas de endurecimento, culminou com a bomba no Riocentro, em 1981, que devia explodir durante um show de MPB com cerca de 20 mil pessoas. O artefato, contudo, estourou antes, dentro de um carro com dois militares. Cruz assumiu, anos depois, que havia sido informado dos planos e nada fez por falta de tempo.
Ustra, por sua vez, foi chefe do DOI-Codi (Destacamento de Operações de Informações) do 2º Exército em São Paulo entre 1970 e 1974. O então major era valorizado pelos militares da linha dura como o símbolo dos oficiais que sujaram a mão na guerra, em contraponto aos burocratas fardados que se articulavam na transição para entregar o poder aos inimigos civis.
Nos porões paulistas, liderados por Ustra, a tortura era prática comum. Dos 876 casos catalogados no livro “Brasil: Nunca Mais”, cerca de 400 ocorreriam no centro comandado por ele.
Ustra escreveria sua visão da história no livro “A Verdade Sufocada”, uma das bíblias bolsonaristas, no qual se queixou de que o Brasil sofria na democracia derrotas comprometedoras na batalha ideológica, que deveria ser vencida a qualquer custo.
As esquerdas, dizia ele, estavam na dianteira, ganhando a mente das massas, dominando postos estratégicos nas universidades, escolas, Redações dos jornais e no mundo das artes. A vitória cultural da esquerda também atrapalhava as polícias militares, cujo trabalho no combate ao crime sofria sabotagem dos defensores de direitos humanos.
Em março de 1985, quando José Sarney assumiu a Presidência, o nome de Newton Cruz foi retirado da lista de promoção ao topo da carreira. O general foi para a reserva, contribuindo para alimentar a mágoa de Bolsonaro, como conta Flávio, seu filho, na biografia que escreveu sobre o pai, “Mito ou Verdade: Jair Messias Bolsonaro”.
O coronel Freddie Perdigão, acusado de planejar o atentado no Riocentro e integrante da Casa da Morte (centro clandestino de tortura e assassinato), em Petrópolis, deixaria o Exército e se envolveria na segurança de bicheiros na Baixada Fluminense, associado a grupos de extermínio.
A ponte dos egressos da linha dura para a cena criminal e de extermínio do Rio seria feita com a ajuda de membros dos esquadrões da morte cariocas, como os policiais civis Mariel Mariscot e Euclides Nascimento —este último presidia a Scuderie Le Cocq, organização que levou as práticas de execução a outros estados, em especial o Espírito Santo.
Bolsonaro, inconformado com os ventos democráticos, passou a agitar contra os comandos da Nova República a partir de 1986. Primeiro, escrevendo um artigo, publicado na revista Veja, em que se queixava dos salários nas Forças Armadas.
No ano seguinte, ele daria um passo além e contaria em off a uma repórter da mesma revista os planos para explodir algumas bombas, tumultuar o ambiente político e demonstrar a fragilidade do então ministro do Exército, Leônidas Pires Gonçalves, e do presidente José Sarney.
Diante do risco real a terceiros, a revista revelou os planos de Bolsonaro, que passou por um processo militar, mas foi absolvido. A versão da revista, no entanto, era consistente e não havia como o capitão seguir carreira no Exército da democracia.
Com a fama adquirida após o episódio, o reformado Bolsonaro daria início a sua carreira política, atuando como sindicalista de luxo para aumentar salários e aposentadorias de policiais e militares. As mágoas em relação ao establishment político estavam mais vivas do que nunca e definiram sua trajetória. Em quase três décadas de carreira parlamentar, ele seria a antítese da política, o deputado em defesa da guerra contra o crime e a subversão esquerdista.
Em sua retórica explosiva, ultrapassava os limites da decência e do decoro, fortalecendo o sobrenome da família com infâmias que nem mesmo os linhas-duras tiveram coragem de falar em público durante a repressão. Mantinha vivo na democracia o discurso dos policiais exterminadores.
Bolsonaro era capaz de apoiar o uso do pau de arara contra suspeitos, celebrar grupos de extermínio e milícias e pregar o assassinato criminoso de “bandidos” por forças paramilitares, chegando ao ponto de dizer em um programa de TV que a solução para o Brasil era uma guerra civil, que levasse à morte pelo menos 30 mil pessoas.
Para ele, a Constituição de 1988 e as políticas de direitos humanos que tentavam controlar a violência policial eram amarras que impediam uma guerra necessária no país. Dessa forma, o parlamentar e seus filhos se tornaram porta-vozes ideológicos dos policiais que sujaram as mãos na batalha contra o crime.
Havia uma forte afinidade de valores entre eles: a violência redentora e fardada, mesmo quando agisse contra a lei, poderia salvar o Brasil, algo que o deputado e seu clã sempre alardearam abertamente em discursos e projetos parlamentares.
Pintados como heróis, esses policiais matadores, mais cedo ou mais tarde, usavam seu poder para enriquecer com diversos negócios criminosos. Foi assim que Bolsonaro e seus filhos se aproximaram de alguns dos milicianos mais perigosos do Rio.
Isso ocorreu por intermédio do policial militar Fabrício Queiroz, que tinha papel de destaque nos mandatos parlamentares do clã. Queiroz trabalhou a maior parte da carreira como policial do 18º batalhão, em Jacarepaguá, unidade cuja omissão seria fundamental para o processo de espraiamento das milícias a partir de 2000 no Rio.
Nesse período, Queiroz se envolveu em ações suspeitas, como um homicídio em 2003 praticado com um policial egresso do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais), que na década seguinte se tornaria um dos bandidos mais perigosos da nova cena criminal do Rio: o ex-capitão Adriano Magalhães da Nóbrega.
O laço de sangue e lealdade levou Queiroz a aproximar Adriano dos Bolsonaros, que passariam a defendê-lo e ajudá-lo por mais de uma década.
Nesses anos, Adriano organizou ações de matadores e ganhou dinheiro com empreendimentos ligados ao jogo de azar e com a venda de imóveis irregulares em áreas protegidas ambientalmente na região de Rio das Pedras, bairro com forte presença de milícias. Morreu em uma ação policial na Bahia em fevereiro deste ano, após quase um ano foragido.
Durante esse processo de embarque de Adriano no mundo do crime, os Bolsonaros prestaram diversas homenagens a ele. Flávio contratou como assessoras de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio a mãe e a mulher do ex-capitão da PM.
Esses e outros vínculos com criminosos e seu histórico compromisso com a defesa da violência e da ideologia paramilitar não impediram a vitória de Bolsonaro na eleição de 2018. Talvez tenham até ajudado.
A última disputa presidencial marcou também o ocaso da Nova República, 33 anos depois de seu nascimento. Desde pelo menos junho de 2013, com as manifestações de rua, o clima político parecia fora do eixo.
A situação se agravou depois de 2014, quando denúncias sobre corrupção e caixa dois envolvendo políticos, reveladas pela Lava Jato, passaram a dominar quase diariamente o noticiário.
Pouco depois, houve o impeachment de Dilma Rousseff (PT). Seu sucessor, Michel Temer (MDB), também foi alvo de denúncias de corrupção. Somado a tudo isso, o país enfrentou uma crise econômica e fiscal de proporções dramáticas, criando uma imensa sensação de impotência e de depressão coletiva, período marcado pela descrença na política e nos políticos da Nova República.
Quando se esvai a fé na política como forma de mediação dos conflitos, resta a polícia —uma autoridade capaz de estabelecer a ordem e garantir a obediência pelo uso da força. O discurso da violência redentora pregado por Bolsonaro ganhou receptividade ampla e nacional.
Os brasileiros escolheram como líder um apologista dos justiceiros, como se decidissem abandonar suas crenças nas instituições democráticas para transformar o país em um imenso Rio das Pedras.
Bolsonaro ainda recebeu em peso o apoio dos militares, que jogaram por terra três décadas de consolidação das Forças Armadas como instituição do Estado ao assumir um lado e participar da política. O vice-presidente, Hamilton Mourão, outro fã declarado de Ustra, puxou o bonde e atraiu membros da tropa militar para o governo.
A eleição de Bolsonaro marcou o fim da Nova República para inaugurar a imprevisível república das milícias.
Uso do governo para matar prova é delinquência
Jair Bolsonaro jogou o governo numa operação para matar provas contra o primogênito Flávio Bolsonaro. Mobilizou órgãos como o Gabinete de Segurança Institucional, a Agência Brasileira de Inteligência e a Receita Federal. Por enquanto, foi malsucedido. Mas tornou-se fornecedor de matéria-prima para uma nova investigação.
Se o procurador-geral da República Augusto Aras não tivesse aversão ao ofício de procurar, Bolsonaro estaria em apuros. Não fosse a blindagem que os partidos do centrão oferecem ao governo de Bolsonaro no Congresso, o caso acabaria em Comissão Parlamentar de Inquérito...
Reportagem da revista Época revelou que, em 25 de agosto, Bolsonaro reuniu-se no Planalto com duas advogadas de Flávio: Luciana Pires e Juliana Bierrenbach. Convocou para a conversa o general Augusto Heleno, ministro-chefe do GSI, e Alexandre Ramagem, diretor da Abin.... - Veja mais em
As defensoras do primogênito venderam um peixe podre na reunião. A Receita abrigaria em seus quadros organização criminosa que municiaria o Coaf de dados sigilosos contra empresários, servidores e políticos. Nessa versão, seria ilegal a origem dos dados que encrencaram Flávio e o operador de rachadinhas Fabrício Queiroz no caso de desvio de verbas públicas na Assembleia Legislativa do Rio.
Comprovando-se a teoria, as doutoras Luciana e Juliana teriam novos argumentos para questionar a legalidade das provas, requerendo, uma vez mais, o arquivamento da investigação contra o primogênito. Mobilizados, Heleno e Ramagem não conseguiram obter a comprovação da alegada devassa ilegal.
Flávio procurou o secretário da Receita, José Tostes. Depois, o próprio Bolsonaro chamou Tostes ao Planalto. Filho e pai foram informados de que não há vestígio do alegado vazamento. Informado, o Zero Um ainda procurou Gurjão Barreto, presidente do Serpro, o Serviço Federal de Processamento de Dados do governo. E nada.
Na política, convém evitar dois extremos. Num, estão os políticos incapazes de todo. Noutro, situam-se os políticos capazes de tudo. Bolsonaro frequenta polos. Coloca-se no segundo grupo quando jogar o governo num esforço para blindar o filho e Fabrício Queiroz, seu amigo de mais de três décadas.
O episódio faz lembrar uma passagem da fatídica reunião de 22 de abril, aquela em que Bolsonaro declarou que não iria esperar "foder minha família toda de sacanagem, ou amigo meu" ao mencionar o desejo de trocar "gente da segurança nossa no Rio".
Liberada pelo então ministro Celso de Mello, do Supremo, a gravação é peça do inquérito que apura se Bolsonaro tramou a conversão da PF num aparelho a serviço da família e dos amigos. O presidente ainda nem foi interrogado nessa investigação e já fornece material para a próxima. O uso do governo para matar provas e obstruir o trabalho da Justiça é delinquência.
Um surto de mediocridade
Quem entende o mundo dos generais garante que Santos Cruz é ouvido.
Vai-se a segunda pomba
Vai-se a primeira pomba despertada.../Vai-se outra mais.../ Mais outra.../ Enfim dezenas...
Quando menino, costumava declamar esse soneto de Raimundo Correia na escola. Éramos endiabrados e fazíamos piadas de duplo sentido quando a ingênua professora dizia para as meninas que liam os versos: mostrem a pomba.
Essa lembrança me veio à cabeça com a publicação do Anuário de Segurança Pública, revelando o fracasso da política de Bolsonaro para conter a violência no país. Vai-se a segunda pomba, pensei.
A primeira já se foi há algum tempo. Era a luta contra a corrupção. Bolsonaro demitiu Moro, Queiroz foi preso, surgiram inúmeros dados sobre rachadinhas e funcionários fantasmas na família do presidente. Rolou muito dinheiro vivo, compra de lojas, apartamentos , os Bolsonaros não confiam em banco. O dinheiro tanto rolou que terminou aparecendo na cueca do senador amigo, Chico Rodrigues.
Pobre lobo-guará. As notas com sua estampa estrearam nas nádegas de Chico. Conheço uma família de lobo-guará que come todas as noites no pátio do Colégio do Caraça. Os padres que alimentam os lobos precisam rezar por nós.
Apesar da pandemia, o número de mortes aumentou em 7% em 2020. Havia caído em 2019. Era resultado do governo Temer, que criou o Ministério da Segurança, o sistema integrado e fez a intervenção militar no Rio. Bolsonaro e Moro celebraram, faz parte do jogo. Mas o mérito estava lá atrás.
Um país que tem um estupro a cada oito minutos, com uma cidade como o Rio, que perdeu mais de 50% do território para as milícias, homenageadas no passado pelos Bolsonaros, é, no mínimo, inseguro, para não dizer falido.
No momento em que era preciso um olhar atento de um especialista em segurança, Bolsonaro não conseguiu ver as limitações do artigo que libertou André do Rap. Simplesmente, sancionou.
Não é apenas a segunda pomba que vai. Vai-se outra, mais outra. Ao ser acusado de estupro na Itália, o jogador Robinho disse que era como Bolsonaro, perseguido pelo demônio . Ele acha que basta citar Bolsonaro e um trecho de Bíblia para justificar crimes cruéis. Em breve, essa máscara de profunda religiosidade vai cair para mostrar a verdadeira face do oportunismo político. Eduardo Cunha era supercristão, elegia-se usando rádios religiosas. A deputada Flordelis, acusada de matar o marido, é pastora, e o pastor Everaldo, que batizou Bolsonaro, está na cadeia.
Numa dimensão mais profana, em breve voará a pomba dos devotos da Santa Margaret Thatcher. Ela sempre aparecia com a bolsa no pulso, sem mexer um músculo do braço. Seus discípulos tropicais rodam a bolsinha incessantemente em busca de recursos para garantir a reeleição de Bolsonaro.
Muitos eleitores não veem quais sonhos de campanha não voltam, como voltam as pombas ao entardecer. Ficam bravos, lembram que fui um perigoso terrorista ou que usava uma tanga de crochê, não importa. É importante, no entanto, continuar mostrando o voo das pombas e de suas ilusões.
Mesmo com parte do país em chamas, com o crescimento da fome, o aumento da violência e do jugo das milícias, é preciso argumentar com eles. Alguns seguirão fiéis ao líder, mas, no fim do caminho, o Brasil pode reencontrar sua chance de ser grande país.
Existe uma vacina contra a raiva, mas não existe uma vacina combinada contra raiva e estupidez. Bolsonaro não consegue ver um vírus tal como é, mas sempre como um vírus que tem partido: é chinês ou vota em Doria.
Ao cancelar a compra de vacinas formuladas na China, mas produzidas pelo Butantan, Bolsonaro não apenas desautorizou um general que deixou tudo para ajudá-lo, adotando uma política que ameaça inclusive a presunção de sensatez das Forças Armadas.
Da negação do coronavírus à apologia da cloroquina, Bolsonaro percorreu todas as etapas de uma política insana.
Foram-se todas as pombas, e só os bolsonaristas não viram.
Um governo pária
O que jamais pude imaginar foi assistir um Ministro das Relações Exteriores, formado no Instituto Rio Branco, vangloriar-se de fazer o Brasil um pária internacional: uma nação sem importância.
O Brasil tem grandes universidades e instituições de qualidade como o ITA, mas em nenhuma onde ensinei encontrei o padrão do Instituto Rio Branco. Impossível imaginar que dai sairia um discurso que ninguém entende, usando uma verborragia de falsa erudição, que o próprio autor não entenderia se alguém lhe mostrasse a gravação e pedisse para explicar.
Ao defender com orgulho o fato de ter feito o Brasil virar um país pária no cenário mundial, a fala do Ministro das Relações Exteriores nesta semana, na formatura dos nossos novos diplomatas, demonstra três fatos lamentáveis. Primeiro, pela lembrança da formação que ele recebeu, financiada pelo povo brasileiro, na instituição de máxima qualidade que temos. Segundo, por ele não reconhecer a vocação do Brasil, imposta pela geografia e a demografia, para ser um ator importante no mundo. Terceiro, porque a obrigação de um Chanceler é fazer seu país presente, reconhecido e respeitado, o contrário da situação de pária que ele diz defender.
É triste ver um ministro brasileiro dizendo que devemos nos orgulhar de sermos um pais pária no cenário mundial. Ainda mais grave, dizer isto na formatura dos diplomatas que representarão nosso país no futuro, pelos próxima trinta anos. Imagino o que pensaram os jovens ao ouvirem o discurso: que vão ser embaixadores aceitando nosso destino de um país isolado, ou não levaram a sério o discurso e não respeitarão este ministro atual; acreditam no ministro e terão vergonha do país ou acreditam no país e estão com vergonha do ministro. Ou, ainda pior, aceitam a liderança e o discurso do ministro e farão o possível para isolar ainda mais o Brasil no cenário mundial.
Ainda mais surpreendente e preocupante é que esta situação ocorre em um governo composto sobretudo por militares. No meu serviço militar, décadas atrás, ouvia a ideia de que, por nosso tamanho, precisamos de Forças Armadas fortes e uma Chancelaria competente. O que estão pensando os jovens que nesta semana receberam o espadachim de formados na Academia de Agulhas Negras, quase no mesmo dia da formatura dos novos diplomatas?
Este não é o Brasil sonhado por Caxias e Rio Branco, esse não é o discurso que eles fariam para nossos jovens. Esta não é a mentalidade que o Brasil precisa para seus jovens, qualquer deles, ainda menos para aqueles que escolheram ser diplomatas ou militares. Mas é isto o que o atual governo-pária está fazendo.
É humilhante que o país continue suportando a vergonheira nos seus Poderes
É uma chave suficiente para lançar a ambição reeleitoral e o próprio Bolsonaro, e antes alguns prefeitos, na famosa lixeira da história. É ainda a resposta do eleitor a quem o abandona aos piores riscos, se não já à vitimação perversa, à ausência inapagável de familiares. É a resposta necessária para compensar, ao menos no plano individual, o escapismo acovardado e vendilhão dos apelidados de autoridades institucionais. As figuras minúsculas incumbidas de resguardar a população, e seu país, da sanha louca que não os quer sob a proteção nem de incertas vacinas.
Surpreendo-me no dever de dar a João Doria o reconhecimento da única reação adequada ao desaforo feito ao país por Bolsonaro. “Não abrir mão” da sua “autoridade” para cancelar uma providência antipandemia, por politicagem obtusa, não é ato de autoridade. É o que disse Doria em seu momento até agora único: “O presidente da República negar o acesso a uma vacina aprovada pela Anvisa, em meio a uma pandemia que já vitimou 155 mil brasileiros e deixou 5,1 milhões infectados, é criminoso”.
O Brasil não tem governo. E é difícil saber o que lhe resta, inclusive vergonha. Seu nome é posto em acordo de um punhado de ditaduras contra direitos das mulheres. O governo Trump manda a Brasília uma comissão para acordos econômicos. Econômicos? O chefe da delegação foi o secretário de Segurança Nacional dos Estados Unidos. O grupo, na verdade, veio pressionar os generais de Bolsonaro e outros da ativa no Exército contra a China.
Pressão em especial contra a adoção do sistema 5G da Huawei, o mais avançado em prodígios da comunicação (os Estados Unidos estão com anos de atraso nesse campo). No seu disfarce habitual, que é um suborno nunca pago por completo, o governo Trump acenou com US$ 1 bilhão em ajuda, mas para comprar componentes americanos que substituam os da China em uso na telefonia daqui.
A Amazônia e o Pantanal ardem, e os 1.600 combatentes do fogo recebem ordem de voltar às bases, porque não foram disponibilizados R$ 19 milhões que pagassem três meses de salários em atraso. No mesmo dia, Paulo Guedes discursa com pedido de dinheiro a investidores americanos e lhes diz: “Nos ajudem, em vez de só criticar. Toda essa história de matar índios, queimar florestas, é exagero”. Saíam os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais: em setembro foram detectados 32.020 focos na Amazônia, 60% acima de setembro do ano passado. Na mesma comparação mensal, o aumento do fogo no Pantanal chegou a 180%, com o maior quadro de incêndios de sua história.
O cinismo, como o de Paulo Guedes, não pega mais. Nem por isso deixa de crescer. É o idioma desses que se passam por governo, dos que se deixam desmoralizar por Bolsonaro e desmoralizam seu generalato, dos que não podem fazer sessões no Supremo e podem fazer almoços e jantares com Bolsonaro e outros carnavalescos morais. Ao eleitor, é só não esquecer a ideia de Bolsonaro para escolher o voto. Mas é humilhante que o Brasil continue suportando, apenas para proveito do raso segmento de influentes, a vergonheira que se passa nos seus Poderes.
O país das obras paradas
Sem perspectiva de retomada, permanecem abandonadas em municípios do Nordeste (60%), Sudeste (16%) e Norte (15%), como demonstram os anexos fotográficos de um estudo setorial recém-concluído pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), em parceria com a Brain (Bureau de Inteligência Corporativa).
Para tanto, é fundamental analisar as razões do desleixo administrativo e instituir mecanismos eficazes de prevenção ao desperdício de recursos. Isso requer total transparência para que a sociedade possa acompanhar e questionar gestores públicos desde a justificativa de prioridade para inclusão de cada obra nos orçamentos até as fases de planejamento, execução e entrega.
Bolsonaro destrói o orgulho nacional
A rixa entre os Estados Unidos x URSS não impediu que os militares brasileiros, aliados de primeira hora do Tio Sam, utilizassem a tecnologia dos comunistas – um processo de secagem e drenagem do imunizante que, segundo relatos históricos da Fiocruz, possibilitava transportá-lo sem refrigeração e, assim, chegar aos locais mais distantes e quase inacessíveis do país.
Mais de meio século depois, o presidente Jair Bolsonaro alega a procedência comunista para rechaçar a CoronaVac, imunizante contra a Covid-19 desenvolvido pela chinesa Sinovac Biotech com o centenário Instituto Butantan.
Somam-se aí características típicas do presidente: birra, picuinha, pequenez. E outras de fundo: leviandade e autoritarismo. Sempre cevado por uma trupe de sabujos que a ele presta obediência cega. Um cerco de idólatras que o blinda de ver o que ele deveria ver e que prefere não ver.
Movido pelo instinto eleitoral que só o deixa enxergar 2022 à frente, Bolsonaro pode ter errado no cálculo.
Enquanto a politização da vacina se limitava ao debate extemporâneo sobre a obrigatoriedade ou não de aplicá-la, o embate entre ele e Doria se dava no mesmo plano, com ambos tentando tirar proveito da pandemia.
Tudo mudou com o recuo tresloucado ao aporte de recursos para a CoronaVac.
O destrambelho dos últimos dias reacendeu a revolta de governadores e fez com que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, há dias afastado do combate direto com o presidente, saísse em defesa de Doria. Ao vivo e em cores, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, com direito a chamar o governador de “amigo e aliado”.
Agitou também o Supremo. Nada menos de sete representações partidárias – seis contra e apenas uma em favor do presidente – foram apresentadas na sexta-feira. Cobram do governo responsabilidade vacinal e fixação de um calendário de imunização, além do cumprimento da lei que o próprio Bolsonaro assinou em fevereiro, pela qual as autoridades têm o poder de realizar vacinação compulsória ( Lei 13.979 de 6/2/2020, Art. 3º, Inciso III, alínea d.).
Criou ainda mais uma desnecessária indisposição com os chineses, já fartos com o amém do governo brasileiro às pressões dos Estados Unidos, com chances de surtirem efeito na participação da Huawei no leilão da tecnologia 5G. Uma gracinha para um Donald Trump em fim de mandato que agride o maior parceiro comercial do Brasil.
São mais de U$ 121 bilhões de produtos brasileiros exportados para a China, valor três vezes e meia maior do que para os norte-americanos, perfazendo um saldo de U$ 30 bilhões na balança comercial. Vendemos soja e minérios, importamos computadores, celulares, tecnologia e quinquilharias. Insumos fármacos e… vacinas.
Goste ou não o presidente, a mesma chinesa Sinovac está no Brasil com imunizantes contra H1N1 e hepatites. É um dos vários laboratórios internacionais que, associados à expertise das gigantes Fiocruz e Butantan, permitem ao país ter cobertura vacinal decente – que já foi invejável.