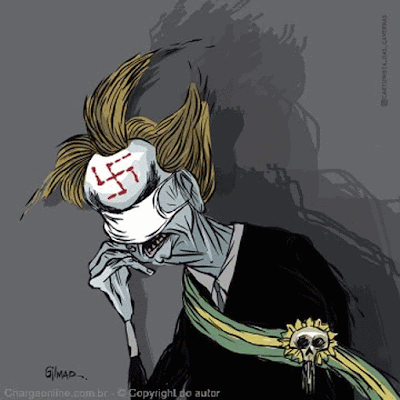É puro método a estratégia de corromper as instituições por dentro, que o bolsonarismo, tal qual uma praga de cupins, vai levando a cabo ao longo dos últimos dois anos e meio.
No caso das Forças Armadas, o atual presidente primeiro ganhou os generais com o canto da sereia da necessidade de acabar com a corrupção do PT. Graças a essa fantasia, fez com que os generais, que antes o desprezavam, passassem a vê-lo como seu candidato em 2018, a ponto de cruzarem, já ali, a linha ao ameaçar não aceitar a decisão do STF caso fosse concedido habeas corpus para soltar o ex-presidente Lula.
Vencida a eleição, os generais foram instalados de volta no poder, com direito a um vale-tudo em que os da ativa assumiram cargos políticos, algo que todos os conhecedores da hierarquia militar sempre alertaram que daria confusão.
A ascensão política rendeu frutos: foi feita uma reforma da Previdência sob medida para os fardados, cujos privilégios já eram evidentes, mas estão escancarados agora: um aumento de R$ 5,5 bilhões nos gastos com pessoal militar em 2020.
Como o poder vicia, os generais foram perdendo a mão dos limites, e cada vez mais atrelando a instituição aos anseios de Bolsonaro. Aceitaram graciosamente seu pedido de cabeça do comandante do Exército, Edson Pujol.
O general Braga Netto topou de bom grado substituir Fernando Azevedo e Silva, um de seus pares submetido ao moedor de carnes bolsonarista — mais um, depois de Santos Cruz e Otavio do Rêgo Barros.
E agora o Exército se prepara para uma nova capitulação: deve fechar os olhos para o escárnio da participação de Pazuello num comício de reeleição de Bolsonaro, zombando da CPI da Covid e da população enlutada.
A carta entregue pelo ex-ministro da Saúde para explicar sua presença num caminhão de som, sem máscara, para ouvir um discurso de campanha do presidente apenas dois dias depois de mentir perante a CPI já nasce um clássico do cinismo.
Pazuello diz que não foi a um ato político, mas a um… passeio de moto! Que o fato de não ser um evento político estaria demonstrado porque, vejam só, Bolsonaro não é filiado a nenhum partido. “Não contavam com a minha astúcia”, se jactaria o personagem mexicano Chapolin Colorado.
E a desculpa esfarrapada deverá ser engolida pelo comando das Forças Armadas, que ainda aceitou um “cala-boca” dado por Bolsonaro, que proibiu a emissão de qualquer nota a respeito da conduta de Pazuello.
A voracidade em subverter a disciplina é tamanha que ontem mesmo o presidente reuniu Braga Netto, o comandante do Exército e soldados numa preleção política, com direito a falar de 2022 e polarização eleitoral, ao inaugurar uma obra em São Gabriel da Cachoeira. No discurso, voltou a fazer menção à possibilidade de pedir que as Forças Armadas cumpram uma certa “missão”, “dentro das quatro linhas da Constituição”, para restabelecer uma “normalidade” que ele diz estar sendo conspurcada.
Essa interpretação mentirosa do que a Constituição determina como papel das Forças Armadas tem sido repetida pelo presidente e seus aliados em tom de ameaça toda vez que Bolsonaro se vê acuado, seja pela CPI, seja pela queda da popularidade, seja por pesquisas que mostram que ele não terá vida fácil nas urnas no ano que vem.
Ao aceitarem fazer parte desse roteiro com intenções golpistas, as Forças Armadas se apequenam e permitem a implosão da hierarquia e da disciplina, que deveriam ser seus dois pilares inegociáveis.