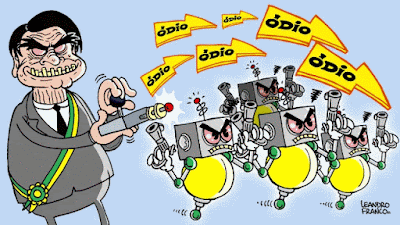quarta-feira, 13 de julho de 2022
O Brasil precisa de paz
A banalização da violência chegou à esfera política com o brutal, e sem sentido, assassinato de Marcelo Arruda, quando comemorava seu aniversário com uma festa tendo como tema Lula e o PT.
Era questão de dias – ou talvez de horas – para nos depararmos com um crime por motivação política em uma disputa eleitoral radicalizada. Atônita, a nação se vê diante do risco de viver a eleição mais violenta de sua história.
O episódio reflete uma mudança mais de fundo. O Brasil está se transformando em um país selvagem, com índices alarmantes em diversos campos. O país registrou 47.503 homicídios ao longo do último ano, equivalente a 130 assassinatos por dia, segundo dados divulgados, no último dia 28, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses números colocam o Brasil entre os dez países mais violentos do planeta. E 30 cidades brasileiras têm taxas acima de 100 mortes por 100 mil habitantes, o que faz com que o índice nesses municípios seja maior que o de qualquer país no mundo.
O desatino geral não poupa classes sociais ou região. Em um fato recente, por exemplo, um procurador foi denunciado por tentativa de feminicídio de uma procuradora-geral no Vale do Ribeira, São Paulo. A vereadora Marielle Franco foi morta de forma cruel no Rio de Janeiro. Um indigenista da FUNAI foi assassinado na companhia de um jornalista inglês, na Amazônia. Mulheres são estupradas em hospital, crianças morrem por balas perdidas, pessoas são agredidas, espancadas ou assassinadas, pela cor da sua pele ou por sua orientação sexual.
Como se tudo isso fosse pouco, agora perdem a vida por causa de sua preferência partidária ou por sua ideologia.
Onde está aquele Brasil no qual esquerda, centro e direita divergiam entre si, mas não ultrapassavam a fronteira do aceitável?
Independentemente do credo político ou religioso de cada um de nós, somos um mesmo povo e isso nos conformou como uma nação. Sempre fizemos das eleições uma festa cívica que agora foi transformada em palco de guerra política fratricida. Quantos outros tombarão? Hoje foi um militante do PT, amanhã pode ser qualquer um de nós.
A política, instrumento pela qual o Brasil transitou pacificamente de uma ditadura para a democracia, deixou de ser a forma civilizada e superior de resolvermos nossos conflitos para ser a continuidade da guerra por outros meios. Cabe à antropologia investigar essa mudança na sociedade, na qual, parafraseando João Guimarães Rosa, viver tornou-se bastante perigoso.
A violência esgarça não apenas nosso tecido social, mas também o arcabouço institucional do país. Em última instância, ameaça nossa democracia. No limite, pode comprometer valores que nos são caros e conquistados com muitas lutas, como a liberdade de expressão e o livre exercício do voto.
A gravidade do momento vai além do assassinato de Marcelo Arruda. A maior autoridade eleitoral do país, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, alertou recentemente que a eleição brasileira pode ser palco de um episódio mais dramático do que a invasão do Capitólio por seguidores de Donald Trump.
Urge deter a marcha da insensatez. Antes que seja tarde. O restabelecimento de um clima pacífico passou a ser prioridade nacional. Paz é o que querem os brasileiros.
As forças políticas e suas lideranças devem ser chamadas à responsabilidade, principalmente Jair Bolsonaro e Lula pelo papel que exercem em seus campos. Especialmente o presidente da República, por sua função institucional e por ser a principal autoridade do país. Os dois líderes nas pesquisas para as eleições deste ano não podem ser fator de instabilidade política ou de acirramento da radicalização.
Bolsonaro semeia a intolerância, ao reduzir a disputa eleitoral em uma batalha entre o bem e o mal. Enxerga um “inimigo interno” – conceito muito presente no período da ditadura militar – a ser extirpado da vida política nacional a qualquer preço, inclusive por meio de uma “guerra eleitoral assimétrica”. Contribui ainda para a potencialização da violência sua pregação em favor do armamento indiscriminado e sua campanha, sem evidências, para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro – uma referência mundial.
Na política, as bases são sempre mais radicais do que as lideranças. Se estas radicalizam, seus seguidores sentem-se autorizados a ir além. Certamente esse sentimento está por detrás de atos dos últimos episódios, inclusive no assassinato de Marcelo Arruda. Em tempos de redes sociais, qualquer declaração infeliz de uma liderança é mais gasolina na fogueira.
Chamá-los à responsabilidade é o primeiro passo para o restabelecimento de um clima de paz. A premissa vale para todos os presidenciáveis. Vale para Bolsonaro, vale para Lula. Um dia antes do triste episódio de Foz de Iguaçu, o candidato do PT enalteceu um vereador de seu partido, Manoel Eduardo Marinho, preso em 2018 por ter provocado traumatismo craniano em um empresário, quando o empurrou em frente de uma sede do PT, após o agredido ter xingado lideranças petistas.
O combate à violência não é uma tarefa exclusiva do mundo político e jurídico. A sociedade civil tem muito a fazer. E, em especial, a educação tem muito a contribuir no sentido de formar pessoas menos agressivas. O estabelecimento de uma cultura de paz nas escolas contribuirá para que ninguém perca sua vida por razões políticas e ideológicas. Educação é a chave de tudo. Ela pode contribuir – e muito – para os brasileiros se reconciliarem e para resgatar o caráter nobre da política como o melhor instrumento encontrado pela humanidade para dirimir seus conflitos.
Fora isso, é a barbárie.
Era questão de dias – ou talvez de horas – para nos depararmos com um crime por motivação política em uma disputa eleitoral radicalizada. Atônita, a nação se vê diante do risco de viver a eleição mais violenta de sua história.
O episódio reflete uma mudança mais de fundo. O Brasil está se transformando em um país selvagem, com índices alarmantes em diversos campos. O país registrou 47.503 homicídios ao longo do último ano, equivalente a 130 assassinatos por dia, segundo dados divulgados, no último dia 28, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Esses números colocam o Brasil entre os dez países mais violentos do planeta. E 30 cidades brasileiras têm taxas acima de 100 mortes por 100 mil habitantes, o que faz com que o índice nesses municípios seja maior que o de qualquer país no mundo.
O desatino geral não poupa classes sociais ou região. Em um fato recente, por exemplo, um procurador foi denunciado por tentativa de feminicídio de uma procuradora-geral no Vale do Ribeira, São Paulo. A vereadora Marielle Franco foi morta de forma cruel no Rio de Janeiro. Um indigenista da FUNAI foi assassinado na companhia de um jornalista inglês, na Amazônia. Mulheres são estupradas em hospital, crianças morrem por balas perdidas, pessoas são agredidas, espancadas ou assassinadas, pela cor da sua pele ou por sua orientação sexual.
Como se tudo isso fosse pouco, agora perdem a vida por causa de sua preferência partidária ou por sua ideologia.
Onde está aquele Brasil no qual esquerda, centro e direita divergiam entre si, mas não ultrapassavam a fronteira do aceitável?
Independentemente do credo político ou religioso de cada um de nós, somos um mesmo povo e isso nos conformou como uma nação. Sempre fizemos das eleições uma festa cívica que agora foi transformada em palco de guerra política fratricida. Quantos outros tombarão? Hoje foi um militante do PT, amanhã pode ser qualquer um de nós.
A política, instrumento pela qual o Brasil transitou pacificamente de uma ditadura para a democracia, deixou de ser a forma civilizada e superior de resolvermos nossos conflitos para ser a continuidade da guerra por outros meios. Cabe à antropologia investigar essa mudança na sociedade, na qual, parafraseando João Guimarães Rosa, viver tornou-se bastante perigoso.
A violência esgarça não apenas nosso tecido social, mas também o arcabouço institucional do país. Em última instância, ameaça nossa democracia. No limite, pode comprometer valores que nos são caros e conquistados com muitas lutas, como a liberdade de expressão e o livre exercício do voto.
A gravidade do momento vai além do assassinato de Marcelo Arruda. A maior autoridade eleitoral do país, o presidente do TSE, ministro Edson Fachin, alertou recentemente que a eleição brasileira pode ser palco de um episódio mais dramático do que a invasão do Capitólio por seguidores de Donald Trump.
Urge deter a marcha da insensatez. Antes que seja tarde. O restabelecimento de um clima pacífico passou a ser prioridade nacional. Paz é o que querem os brasileiros.
As forças políticas e suas lideranças devem ser chamadas à responsabilidade, principalmente Jair Bolsonaro e Lula pelo papel que exercem em seus campos. Especialmente o presidente da República, por sua função institucional e por ser a principal autoridade do país. Os dois líderes nas pesquisas para as eleições deste ano não podem ser fator de instabilidade política ou de acirramento da radicalização.
Bolsonaro semeia a intolerância, ao reduzir a disputa eleitoral em uma batalha entre o bem e o mal. Enxerga um “inimigo interno” – conceito muito presente no período da ditadura militar – a ser extirpado da vida política nacional a qualquer preço, inclusive por meio de uma “guerra eleitoral assimétrica”. Contribui ainda para a potencialização da violência sua pregação em favor do armamento indiscriminado e sua campanha, sem evidências, para desacreditar o sistema eleitoral brasileiro – uma referência mundial.
Na política, as bases são sempre mais radicais do que as lideranças. Se estas radicalizam, seus seguidores sentem-se autorizados a ir além. Certamente esse sentimento está por detrás de atos dos últimos episódios, inclusive no assassinato de Marcelo Arruda. Em tempos de redes sociais, qualquer declaração infeliz de uma liderança é mais gasolina na fogueira.
Chamá-los à responsabilidade é o primeiro passo para o restabelecimento de um clima de paz. A premissa vale para todos os presidenciáveis. Vale para Bolsonaro, vale para Lula. Um dia antes do triste episódio de Foz de Iguaçu, o candidato do PT enalteceu um vereador de seu partido, Manoel Eduardo Marinho, preso em 2018 por ter provocado traumatismo craniano em um empresário, quando o empurrou em frente de uma sede do PT, após o agredido ter xingado lideranças petistas.
O combate à violência não é uma tarefa exclusiva do mundo político e jurídico. A sociedade civil tem muito a fazer. E, em especial, a educação tem muito a contribuir no sentido de formar pessoas menos agressivas. O estabelecimento de uma cultura de paz nas escolas contribuirá para que ninguém perca sua vida por razões políticas e ideológicas. Educação é a chave de tudo. Ela pode contribuir – e muito – para os brasileiros se reconciliarem e para resgatar o caráter nobre da política como o melhor instrumento encontrado pela humanidade para dirimir seus conflitos.
Fora isso, é a barbárie.
O detentor do poder
Um verdadeiro poder não pode ser construído exclusivamente sobre vitórias fáceis. O terror que ele quer despertar, e no qual está propriamente interessado, depende da massa de vítimas.
É mais proveitoso para o detentor do poder se suas vítimas são inimigos; de qualquer modo, os amigos produzem resultado semelhante. Em nome de virtudes varonis, exigirá o mais difícil, o impossível, de seus súditos. Não lhe importa que estes sucumbam na execução da tarefa. É capaz de convencê-los de que é uma honra fazê-lo por ele. Através de rapinagens, cujo produto permite-lhes de início desfrutar, ele os ata a si. Servir-se-á então da voz de comando, a qual foi como que talhada para seus objetivos (não podemos, contudo, encetar aqui uma discussão detalhada dessa voz de comando, que é de extrema importância). É assim que, se entende do que faz, fará deles massas belicosas, incutindo-lhes ideias sobre a existência de tantos inimigos perigosos que, por fim, seus seguidores não poderão mais abandonar a massa de guerra que compõem. É claro que não lhes revela sua intenção mais profunda; sabe dissimular muito bem e, para tudo o que ordena, encontra centenas de pretextos convincentes. É possível que se traia, em sua arrogância, no círculo de amigos mais íntimos; mas, se assim for, o fará de forma radical, como fez Mussolini diante de Ciano, ao desdenhosamente chamar seu povo de rebanho, cuja vida, naturalmente, pouco importava.
Mas a real intenção de um verdadeiro detentor do poder é tão grotesca quanto inacreditável: ele quer ser o único. Quer sobreviver a todos, para que ninguém sobreviva a ele. Quer furtar-se à morte a todo custo; assim, não deve haver ninguém, absolutamente ninguém, que possa matá-lo. Jamais se sentirá seguro enquanto homens, quaisquer que sejam, continuarem existindo. Mesmo seu corpo de guarda, que o protege dos inimigos, pode voltar-se contra ele. Não é difícil provar que sempre teme secretamente aqueles a quem dá ordens. Sempre o assalta, também, o medo dos que lhe estão mais próximos.
Elias Canetti, "A consciência das palavras"
Todos os conquistadores famosos da história trilharam esse mesmo caminho. Posteriormente, foram-lhes atribuídas virtudes de toda espécie. Após séculos, historiadores ainda comparam conscientemente as qualidades de tais conquistadores, para — como acreditam — chegar a um juízo exato sobre eles. A ingenuidade fundamental dessa empreitada é palpável. De fato, estão ainda sob o fascínio de um poder de há muito ultrapassado. Assim, vivendo numa outra época, tornam-se contemporâneos daqueles que nela viveram, e algo do temor que estes sentiam ante a crueldade do poderoso acaba transferindo-se para eles; não sabem, porém, que se entregam a esses poderosos, enquanto observam honestamente os fatos. Soma-se a isso uma motivação mais nobre, da qual não estiveram livres nem mesmo grandes pensadores: é insuportável ter de afirmar que um número de seres humanos — cada um contendo em si o conjunto das possibilidades humanas — foi massacrado em vão, em prol de absolutamente nada; é por isso que então se passa a buscar um sentido para tais massacres.
Como a história prossegue, é sempre fácil encontrar um sentido aparente em sua continuidade: cuidando-se para que tal sentido receba uma certa dignidade. Aqui, porém, a verdade nada tem de dignidade. Ela é tão vergonhosa quanto foi aniquiladora. Trata-se exclusivamente de uma paixão privada do detentor do poder: seu prazer pela sobrevivência cresce com seu poder; este permite-lhe dar rédeas à sua paixão. O verdadeiro conteúdo desse poder é o desejo de sobreviver a massas de seres humanos.
É mais proveitoso para o detentor do poder se suas vítimas são inimigos; de qualquer modo, os amigos produzem resultado semelhante. Em nome de virtudes varonis, exigirá o mais difícil, o impossível, de seus súditos. Não lhe importa que estes sucumbam na execução da tarefa. É capaz de convencê-los de que é uma honra fazê-lo por ele. Através de rapinagens, cujo produto permite-lhes de início desfrutar, ele os ata a si. Servir-se-á então da voz de comando, a qual foi como que talhada para seus objetivos (não podemos, contudo, encetar aqui uma discussão detalhada dessa voz de comando, que é de extrema importância). É assim que, se entende do que faz, fará deles massas belicosas, incutindo-lhes ideias sobre a existência de tantos inimigos perigosos que, por fim, seus seguidores não poderão mais abandonar a massa de guerra que compõem. É claro que não lhes revela sua intenção mais profunda; sabe dissimular muito bem e, para tudo o que ordena, encontra centenas de pretextos convincentes. É possível que se traia, em sua arrogância, no círculo de amigos mais íntimos; mas, se assim for, o fará de forma radical, como fez Mussolini diante de Ciano, ao desdenhosamente chamar seu povo de rebanho, cuja vida, naturalmente, pouco importava.
Mas a real intenção de um verdadeiro detentor do poder é tão grotesca quanto inacreditável: ele quer ser o único. Quer sobreviver a todos, para que ninguém sobreviva a ele. Quer furtar-se à morte a todo custo; assim, não deve haver ninguém, absolutamente ninguém, que possa matá-lo. Jamais se sentirá seguro enquanto homens, quaisquer que sejam, continuarem existindo. Mesmo seu corpo de guarda, que o protege dos inimigos, pode voltar-se contra ele. Não é difícil provar que sempre teme secretamente aqueles a quem dá ordens. Sempre o assalta, também, o medo dos que lhe estão mais próximos.
Elias Canetti, "A consciência das palavras"
A guerra como continuação da política
Infelizmente, há de se reconhecer que algo como o assassinato de Marcelo Arruda por um homem armado que entrou em sua festa de aniversário gritando “aqui é Bolsonaro” já era esperado. Esse caráter de algo já anunciado aumenta ainda mais o assombro e a amargura pelo ocorrido. Pois tal ausência de surpresa mostra de forma clara onde estamos, ou ainda o tipo de projeto de engenharia social ao qual estamos submetidos.
Já na eleição passada, o Brasil havia se deparado com pessoas mortas por apoiadores de Jair Bolsonaro, como o caso de Mestre Môa. Na ocasião, há de se lembrar qual foi a reação do senhor que ocupa atualmente a presidência da República. Nenhuma declaração pública de consternação e luto, apenas a afirmação de: “Mas quem levou uma facada fui eu”. Agora, o padrão é o mesmo: ausência completa de consideração a respeito da morte, apenas a reclamação de que o caso estaria sendo tratado de forma distinta da maneira com que fora tratado seu próprio incidente que redundou na famosa facada.
Esse padrão do governo não é estranho. Infelizmente, sua racionalidade é bastante evidente. Trata-se de naturalizar a lógica da guerra como forma de relação entre grupos sociais. Em uma guerra, não haveria razão alguma para demonstrar consternação pela morte de inimigos. Na verdade, em uma guerra é fundamental que tais mortes ocorram, pois elas podem produzir uma espiral de violência cuja verdadeira função é empurrar o país inteiro para uma tensão armada, consolidando as posições antagônicas. Daí a necessidade de minimizar tais assassinatos como “incidentes” não muito distintos de uma “briga de trânsito”, como insinuou o líder do governo na Câmara.
Essa generalização da guerra seria a situação ideal para o governo do sr. Jair Bolsonaro. Pois isso lhe permitiria afirmar que o país se encontra em uma situação de caos, abrindo espaço assim para um jogo duplo, a saber, tanto procurar criar as condições para uma saída golpista (ou algo parecido) quanto crescer no medo, recuperando setores conservadores que saíram de sua órbita, mas que podem sempre voltar se a lógica da guerra imperar. Ou seja, tudo isso nos lembra que o terrível assassinato de Marcelo Arruda em sua própria festa de aniversário provavelmente não será o último.
Alguns podem se perguntar como chegamos até aqui. E é sempre bom lembrar nesse contexto que o Brasil conheceu 13 anos de governo de esquerda sem nenhum caso de violência eleitoral que tenha terminado em assassinato perpetrado por apoiadores ou apoiadoras do antigo governo. Não há possibilidade alguma de falar em alguma forma de acirramento mútuo. Se mesmo diante da violência simbólica normal dos embates políticos nunca houve casos reversos é porque não há linha direta entre violência simbólica e violência real. Muitas vezes, a violência simbólica é, na verdade, um anteparo contra a violência real, pois ela desloca a violência para uma outra cena, com dinâmicas próprias.
Há de se insistir nesse ponto não para apagar a responsabilidade desse governo em atos dessa natureza. Ao contrário, trata-se de mostrar onde exatamente está tal responsabilidade. Pois se estamos em uma situação como essa agora, devemos procurar uma de suas causas principais na generalização da lógica de milícias que marca o fascismo popular de Jair Bolsonaro. O bolsonarismo provoca uma reordenação social cujo eixo central é a “quebra de monopólio” no uso estatal da violência. É essa reordenação a verdadeira responsável por assassinatos brutais como esse.
Já se notou que a base fundamental desse governo não é apenas as forças armadas, mas principalmente as forças policiais. A lógica de extermínio, desaparecimento e assassinato que compõe a espinha dorsal da polícia brasileira ganhou um elemento suplementar quando tais ações passaram a serem feitas sem necessidade de sombras, sem precisar se deslocar dos holofotes, como aconteceu nesse governo.
Algo de fundamental ocorre quando a mesma coisa é feita, mas sem a necessidade de mascaramento, com a certeza absoluta da impunidade e com aplausos do Palácio do Planalto. Nesse caso, o fundo miliciano da polícia brasileira aparece de forma completamente desrecalcada, podendo produzir uma dinâmica irresistível de contágio social. Ou seja, outros grupos sociais, ou mesmo indivíduos isolados, se vem cada vez mais autorizados a agirem como se estivessem em uma situação de guerra.
De fato, como em movimentos fascistas históricos, a base armada desse projeto político não vem exatamente das forças militares tradicionais, mas da organização da sociedade a partir da lógica de milícias. A milícia se torna então o modelo fundamental de organização social. Isso significa que o exercício da violência aparece como atributo fundamental do exercício da cidadania, por mais estranho que isso possa inicialmente aparecer. Ser cidadão, ser cidadã é, nessa lógica, poder usar a violência para se “autodefender”, sendo que sempre é bom lembrar (e isso a experiência colonial nos mostra claramente) que nem todos tem o pretenso “direito de autodefesa”. Alguns tem apenas a condição de corpos a serem alvejados.
Assim, não erra quem afirma que o objetivo maior desse governo é fazer de todo brasileiro e brasileira um miliciano potencial. Ou seja, fazer de todos os que se identificam com esse “Brasil”, com suas cores nacionais, sua história de apagamentos e genocídios, com seu agronegócio depredador, um miliciano reconciliado consigo mesmo.
Alguém indiferente a morte de “inimigos”, solidário a corrupção vinda dos seus, identificado a figuras brutalizadas de poder e força, ao mesmo tempo que se vê como o defensor armado do ocidente e seus valores. Esse não é apenas um projeto de poder, mas efetivamente um projeto de sociedade. Contra isso, precisaremos de algo do tamanho da força de outra imagem de sociedade.
Já na eleição passada, o Brasil havia se deparado com pessoas mortas por apoiadores de Jair Bolsonaro, como o caso de Mestre Môa. Na ocasião, há de se lembrar qual foi a reação do senhor que ocupa atualmente a presidência da República. Nenhuma declaração pública de consternação e luto, apenas a afirmação de: “Mas quem levou uma facada fui eu”. Agora, o padrão é o mesmo: ausência completa de consideração a respeito da morte, apenas a reclamação de que o caso estaria sendo tratado de forma distinta da maneira com que fora tratado seu próprio incidente que redundou na famosa facada.
Esse padrão do governo não é estranho. Infelizmente, sua racionalidade é bastante evidente. Trata-se de naturalizar a lógica da guerra como forma de relação entre grupos sociais. Em uma guerra, não haveria razão alguma para demonstrar consternação pela morte de inimigos. Na verdade, em uma guerra é fundamental que tais mortes ocorram, pois elas podem produzir uma espiral de violência cuja verdadeira função é empurrar o país inteiro para uma tensão armada, consolidando as posições antagônicas. Daí a necessidade de minimizar tais assassinatos como “incidentes” não muito distintos de uma “briga de trânsito”, como insinuou o líder do governo na Câmara.
Essa generalização da guerra seria a situação ideal para o governo do sr. Jair Bolsonaro. Pois isso lhe permitiria afirmar que o país se encontra em uma situação de caos, abrindo espaço assim para um jogo duplo, a saber, tanto procurar criar as condições para uma saída golpista (ou algo parecido) quanto crescer no medo, recuperando setores conservadores que saíram de sua órbita, mas que podem sempre voltar se a lógica da guerra imperar. Ou seja, tudo isso nos lembra que o terrível assassinato de Marcelo Arruda em sua própria festa de aniversário provavelmente não será o último.
Alguns podem se perguntar como chegamos até aqui. E é sempre bom lembrar nesse contexto que o Brasil conheceu 13 anos de governo de esquerda sem nenhum caso de violência eleitoral que tenha terminado em assassinato perpetrado por apoiadores ou apoiadoras do antigo governo. Não há possibilidade alguma de falar em alguma forma de acirramento mútuo. Se mesmo diante da violência simbólica normal dos embates políticos nunca houve casos reversos é porque não há linha direta entre violência simbólica e violência real. Muitas vezes, a violência simbólica é, na verdade, um anteparo contra a violência real, pois ela desloca a violência para uma outra cena, com dinâmicas próprias.
Há de se insistir nesse ponto não para apagar a responsabilidade desse governo em atos dessa natureza. Ao contrário, trata-se de mostrar onde exatamente está tal responsabilidade. Pois se estamos em uma situação como essa agora, devemos procurar uma de suas causas principais na generalização da lógica de milícias que marca o fascismo popular de Jair Bolsonaro. O bolsonarismo provoca uma reordenação social cujo eixo central é a “quebra de monopólio” no uso estatal da violência. É essa reordenação a verdadeira responsável por assassinatos brutais como esse.
Já se notou que a base fundamental desse governo não é apenas as forças armadas, mas principalmente as forças policiais. A lógica de extermínio, desaparecimento e assassinato que compõe a espinha dorsal da polícia brasileira ganhou um elemento suplementar quando tais ações passaram a serem feitas sem necessidade de sombras, sem precisar se deslocar dos holofotes, como aconteceu nesse governo.
Algo de fundamental ocorre quando a mesma coisa é feita, mas sem a necessidade de mascaramento, com a certeza absoluta da impunidade e com aplausos do Palácio do Planalto. Nesse caso, o fundo miliciano da polícia brasileira aparece de forma completamente desrecalcada, podendo produzir uma dinâmica irresistível de contágio social. Ou seja, outros grupos sociais, ou mesmo indivíduos isolados, se vem cada vez mais autorizados a agirem como se estivessem em uma situação de guerra.
De fato, como em movimentos fascistas históricos, a base armada desse projeto político não vem exatamente das forças militares tradicionais, mas da organização da sociedade a partir da lógica de milícias. A milícia se torna então o modelo fundamental de organização social. Isso significa que o exercício da violência aparece como atributo fundamental do exercício da cidadania, por mais estranho que isso possa inicialmente aparecer. Ser cidadão, ser cidadã é, nessa lógica, poder usar a violência para se “autodefender”, sendo que sempre é bom lembrar (e isso a experiência colonial nos mostra claramente) que nem todos tem o pretenso “direito de autodefesa”. Alguns tem apenas a condição de corpos a serem alvejados.
Assim, não erra quem afirma que o objetivo maior desse governo é fazer de todo brasileiro e brasileira um miliciano potencial. Ou seja, fazer de todos os que se identificam com esse “Brasil”, com suas cores nacionais, sua história de apagamentos e genocídios, com seu agronegócio depredador, um miliciano reconciliado consigo mesmo.
Alguém indiferente a morte de “inimigos”, solidário a corrupção vinda dos seus, identificado a figuras brutalizadas de poder e força, ao mesmo tempo que se vê como o defensor armado do ocidente e seus valores. Esse não é apenas um projeto de poder, mas efetivamente um projeto de sociedade. Contra isso, precisaremos de algo do tamanho da força de outra imagem de sociedade.
'Candidato', o Cândido...
Meu amigo Elba me deu uma surpreendente informação etimológica: a palavra “candidato”, nas suas origens, vem de “cândido”. O candidato tinha de ser cândido, puro. Há um produto de limpeza chamado “cândida”. Sei dos seus poderes para limpar as coisas de cozinha. Não sei se, ingerido, teria o poder de tornar “cândidos” os candidatos. Desconfio. Parece que existe um projeto no sentido de proibir a candidatura dos candidatos de mãos sujas. Sou cético sobre os seus resultados. Candidatos de mãos sujas não aprovam leis que proíbam “mãos sujas”.
Dirão que estou padecendo do pessimismo dos velhos. Mas Albert Camus era muito jovem, tinha apenas 33 anos de idade, quando escreveu o seguinte: “Cada vez que ouço um discurso político ou que leio os que nos dirigem, há anos que me sinto apavorado por não ouvir nada que emita um som humano. São sempre as mesmas palavras que dizem as mesmas mentiras. E visto que os homens se conformam, que a cólera do povo ainda não destruiu os fantoches, vejo nisso a prova de que os homens não dão a menor importância ao próprio governo e que jogam, essa é que é a verdade, que jogam com toda uma parte da sua vida e dos seus interesses chamados vitais”.
Guimarães Rosa sentia também o que sinto. Numa entrevista a Gunter W. Lorenz ele disse o seguinte: “Eu não sou um homem político, justamente porque amo o homem. Os políticos estão sempre falando de lógica, razão, realidade e outras coisas no gênero e ao mesmo tempo vão praticando os atos mais irracionais que se possa imaginar. Talvez eu seja um político, mas desses que só jogam xadrez quando podem fazê-lo a favor do homem. Ao contrário dos ‘legítimos’ políticos, acredito no homem e lhe desejo um futuro. Sou um escritor e penso em eternidades. O político pensa apenas em minutos. Eu penso na ressurreição do homem”.
O ideal de ética na política não pode ser realizado. Somente os fracos invocam os argumentos éticos. Porque eles são a única arma de que dispõem.
Já se disse que a guerra é a continuação da política por meio da violência. Isso é verdade. Política e guerra são o mesmo jogo. A diferença está em que, enquanto na política o poder aparece disfarçado pela aparência de paz, na guerra, o poder perde os seus pudores e se apresenta na sua nudez: a violência.
Da mesma forma que é inútil trocar os jogadores, porque o xadrez continuará a ser jogado com as mesmas regras, a troca de políticos e de partidos tem apenas o efeito de mudar o estilo do jogo, sem alterar a sua essência. Se eu estivesse no lugar do presidente, as regras do jogo do poder me obrigariam a abraçar os mesmos políticos que, em tempos passados, execrei. Naqueles tempos, eles eram inimigos a ser destruídos; mas agora são possíveis aliados que devem ser abraçados.
A razão filosófica para a existência dos três poderes independentes nas democracias não deriva de necessidades funcionais. Deriva da necessidade de espionagem constante: é preciso que os que estão no poder se vigiem uns aos outros. Na política, o comportamento ético é um resultado do medo de ser apanhado com a boca na botija. (Mas, mesmo apanhados com a boca na botija, os políticos não enrubescem...)
Mas — eu me pergunto — e se os três poderes forem, todos eles, compostos por raposas? Raposa não vigia raposa. Raposa se alia a raposa...
Rubem Alves, "Pimentas: para provocar um incêndio, não é preciso fogo"
Dirão que estou padecendo do pessimismo dos velhos. Mas Albert Camus era muito jovem, tinha apenas 33 anos de idade, quando escreveu o seguinte: “Cada vez que ouço um discurso político ou que leio os que nos dirigem, há anos que me sinto apavorado por não ouvir nada que emita um som humano. São sempre as mesmas palavras que dizem as mesmas mentiras. E visto que os homens se conformam, que a cólera do povo ainda não destruiu os fantoches, vejo nisso a prova de que os homens não dão a menor importância ao próprio governo e que jogam, essa é que é a verdade, que jogam com toda uma parte da sua vida e dos seus interesses chamados vitais”.
Guimarães Rosa sentia também o que sinto. Numa entrevista a Gunter W. Lorenz ele disse o seguinte: “Eu não sou um homem político, justamente porque amo o homem. Os políticos estão sempre falando de lógica, razão, realidade e outras coisas no gênero e ao mesmo tempo vão praticando os atos mais irracionais que se possa imaginar. Talvez eu seja um político, mas desses que só jogam xadrez quando podem fazê-lo a favor do homem. Ao contrário dos ‘legítimos’ políticos, acredito no homem e lhe desejo um futuro. Sou um escritor e penso em eternidades. O político pensa apenas em minutos. Eu penso na ressurreição do homem”.
Não é por acidente que Guimarães Rosa tenha comparado a política ao jogo do xadrez. No xadrez, pouco importa o estilo do jogador. Qualquer que seja o estilo, a lógica do jogo é sempre a mesma. Quem se dispõe a jogar o jogo tem de se submeter à sua lógica. O Lula estava certo: se Jesus estivesse na política, teria de fazer pactos com Judas. A lógica do jogo da política é a lógica do jogo do poder.
Enganam-se aqueles que pensam que o fim da política é a produção do bem comum. O objetivo da política é o poder — e os atos políticos dirigidos à produção do bem comum são apenas meios para se atingir esse fim, que é ou a tomada do poder ou a manutenção dos poderosos no poder. “Os fins justificam os meios”, disse o mestre da política Maquiavel. Um ato que levasse ao bem comum mas que, ao mesmo tempo, diminuísse o poder dos que estão no poder, ou aumentasse o poder dos adversários políticos, seria, do ponto de vista político, um ato suicida: não deveria, jamais, ser executado. Na hierarquia dos valores políticos, o bem do povo é inferior ao exercício do poder. Essa é a razão por que, com frequência, políticos tratam de eliminar as coisas boas que seus antecessores, adversários, realizaram. É a forma aceitável de assassinato: matar pelo esquecimento.
O ideal de ética na política não pode ser realizado. Somente os fracos invocam os argumentos éticos. Porque eles são a única arma de que dispõem.
Já se disse que a guerra é a continuação da política por meio da violência. Isso é verdade. Política e guerra são o mesmo jogo. A diferença está em que, enquanto na política o poder aparece disfarçado pela aparência de paz, na guerra, o poder perde os seus pudores e se apresenta na sua nudez: a violência.
Da mesma forma que é inútil trocar os jogadores, porque o xadrez continuará a ser jogado com as mesmas regras, a troca de políticos e de partidos tem apenas o efeito de mudar o estilo do jogo, sem alterar a sua essência. Se eu estivesse no lugar do presidente, as regras do jogo do poder me obrigariam a abraçar os mesmos políticos que, em tempos passados, execrei. Naqueles tempos, eles eram inimigos a ser destruídos; mas agora são possíveis aliados que devem ser abraçados.
A razão filosófica para a existência dos três poderes independentes nas democracias não deriva de necessidades funcionais. Deriva da necessidade de espionagem constante: é preciso que os que estão no poder se vigiem uns aos outros. Na política, o comportamento ético é um resultado do medo de ser apanhado com a boca na botija. (Mas, mesmo apanhados com a boca na botija, os políticos não enrubescem...)
Mas — eu me pergunto — e se os três poderes forem, todos eles, compostos por raposas? Raposa não vigia raposa. Raposa se alia a raposa...
Rubem Alves, "Pimentas: para provocar um incêndio, não é preciso fogo"
O Brasil, a guerra de todos contra todos ou o triunfo da democracia
Se o Brasil não é para amadores, se até seu passado é motivo de controvérsias, não se descarte o êxito de um golpe anunciado há 3 anos, com data marcada para ocorrer e comandado por um militar banido do Exército que planejou atentados a bomba a quartéis.
Os generais concederam a patente de capitão a Jair Bolsonaro para livrarem-se dele nos anos 80, e o proibiram de frequentar a caserna e de matricular os filhos em colégios militares. Agora que ele os levou ao poder, não desejam sair tão cedo.
Na última quarta-feira, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o Brasil corre o risco de enfrentar versão piorada do episódio em que uma multidão insuflada por Donald Trump invadiu o Congresso americano.
E alertou sobre as eleições que se aproximam: “A sociedade brasileira, no dia 2 de outubro, colocará um espelho diante de si. Se almeja a guerra de todos contra todos ou almeja a democracia e, a partir daí, faça suas escolhas de modo livre e consciente”.
Bolsonaro entendeu que a menções à guerra “de todos contra todos” é uma referência a ele, e à democracia a quem possa vencê-lo. Hoje, segundo as pesquisas, Lula pode. Logo, o que Fachin disse só reafirma a certeza de Bolsonaro de que ele torce por Lula.
É assim que funcionam as coisas na mente insana de um paranoico ignorante que nunca leu um livro e que se orgulha disso, que nunca participou de um debate, que desconfia de todo mundo, menos dos filhos formados à sua imagem e semelhança.
O mundo está repleto de pessoas desse tipo, mas quando uma delas alcança cargo tão elevado, as demais correm sério perigo. Dos que falam que um dia se matarão, diz-se que nunca terão coragem, que só querem chamar atenção, mas muitos se matam.
Quer-se aplicar o mesmo raciocínio a Bolsonaro, que no seu desespero ante a derrota que se avizinha, fala em golpe quase todo o dia. Tomara que ele não passe de um falastrão irresponsável, mas quem garante? Quem conhece o pensamento dos generais?
O golpe é usado como arma para assustar adversários e mobilizar seguidores, mas quem disse que a arma só dispara balas de festim como em cenas de filmes e novelas? Por medo, não por conversão às suas ideias, o país poderá reeleger Bolsonaro.
Uma coisa foi acordar em 1º de abril de 1964, o Dia da Mentira, com a notícia do golpe que aos 15 anos, estudante do Colégio Salesiano, no Recife, eu não sabia bem o que era. A televisão engatinhava. Outra, ver a história se repetir não como farsa.
Faço votos para que não seja assim.
Os generais concederam a patente de capitão a Jair Bolsonaro para livrarem-se dele nos anos 80, e o proibiram de frequentar a caserna e de matricular os filhos em colégios militares. Agora que ele os levou ao poder, não desejam sair tão cedo.
Na última quarta-feira, o ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que o Brasil corre o risco de enfrentar versão piorada do episódio em que uma multidão insuflada por Donald Trump invadiu o Congresso americano.
E alertou sobre as eleições que se aproximam: “A sociedade brasileira, no dia 2 de outubro, colocará um espelho diante de si. Se almeja a guerra de todos contra todos ou almeja a democracia e, a partir daí, faça suas escolhas de modo livre e consciente”.
Bolsonaro entendeu que a menções à guerra “de todos contra todos” é uma referência a ele, e à democracia a quem possa vencê-lo. Hoje, segundo as pesquisas, Lula pode. Logo, o que Fachin disse só reafirma a certeza de Bolsonaro de que ele torce por Lula.
É assim que funcionam as coisas na mente insana de um paranoico ignorante que nunca leu um livro e que se orgulha disso, que nunca participou de um debate, que desconfia de todo mundo, menos dos filhos formados à sua imagem e semelhança.
O mundo está repleto de pessoas desse tipo, mas quando uma delas alcança cargo tão elevado, as demais correm sério perigo. Dos que falam que um dia se matarão, diz-se que nunca terão coragem, que só querem chamar atenção, mas muitos se matam.
Quer-se aplicar o mesmo raciocínio a Bolsonaro, que no seu desespero ante a derrota que se avizinha, fala em golpe quase todo o dia. Tomara que ele não passe de um falastrão irresponsável, mas quem garante? Quem conhece o pensamento dos generais?
O golpe é usado como arma para assustar adversários e mobilizar seguidores, mas quem disse que a arma só dispara balas de festim como em cenas de filmes e novelas? Por medo, não por conversão às suas ideias, o país poderá reeleger Bolsonaro.
Uma coisa foi acordar em 1º de abril de 1964, o Dia da Mentira, com a notícia do golpe que aos 15 anos, estudante do Colégio Salesiano, no Recife, eu não sabia bem o que era. A televisão engatinhava. Outra, ver a história se repetir não como farsa.
Faço votos para que não seja assim.
Assinar:
Comentários (Atom)