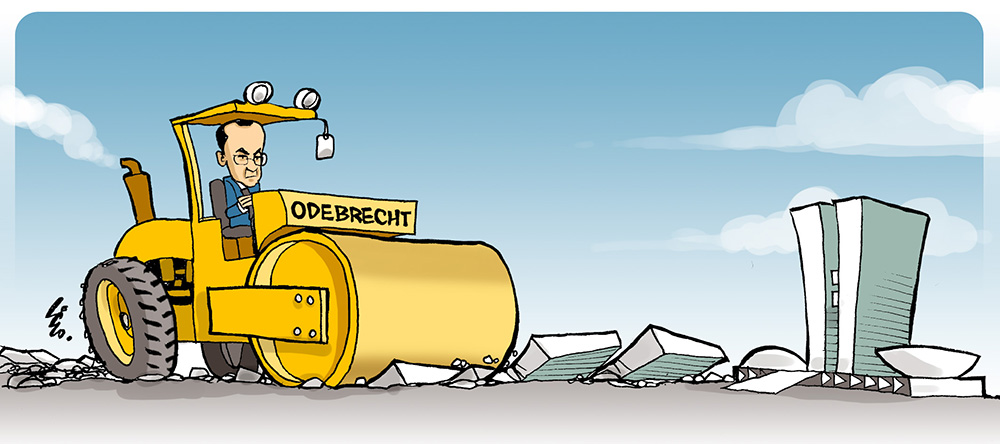quinta-feira, 26 de janeiro de 2017
Notícias, notícias, notícias

Houve um tempo, e eu sou testemunha ocular disso, em que as notícias circulavam de manhã e à tarde, e essas duas doses diárias bastavam para manter qualquer cidadão bem informado. A manchete do dia, que não raro era a mesma em toda a imprensa — exceção feita aos jornais populares, que viviam de crimes —, era suficiente para alimentar 24 horas de conversas. E nem era preciso comprar os jornais para acompanhá-las: eles ficavam pendurados nas laterais das bancas, presos por pregadores de roupa de madeira, e atraíam os transeuntes, que paravam para se atualizar antes de entrar no trabalho, ou numa folga na hora do almoço.
Quando uma notícia era particularmente bombástica, o número de leitores aumentava, e formavam-se pequenos amontoados ao lado das bancas — que, por sinal, eram minúsculas, e vendiam pouca coisa além de jornais, revistas e figurinhas, em geral só mesmo fichas de telefone. A cena rendia ótimas fotos, que depois eram utilizadas para mostrar como os acontecimentos mobilizavam as pessoas.
O mundo era pequeno. Ninguém se interessava por escândalos na Coreia do Sul, implosões de edifícios na China ou assassinatos na Islândia. Por incrível que pareça, era perfeitamente possível sobreviver sem saber, em tempo real, que um filhote de tamanduá foi adotado por cães na Namíbia, ou que um crocodilo invadiu o carro de turistas na Flórida. Ninguém se achava mal informado ao descobrir, com um mês de atraso, que uma cadelinha sobreviveu na Escócia depois de engolir uma faca de cozinha. Era possível ter paz e trancar o mundo do lado de fora pelo espaço da noite que separava um dia do outro, e uma edição do jornal da edição do dia seguinte.
Tenho saudades daqueles tempos. Hoje estamos nos afogando em notícias e não notícias. Não conseguimos mais nos afastar dos nossos celulares, que funcionam como agências noticiosas em tempo integral. O jornal virou um camaleão digital, que muda de acordo com os últimos acontecimentos, ainda que a sua versão impressa continue sendo a melhor companhia no café da manhã. Não sei se isso está nos tornando melhores ou piores, mas tenho certeza de que estamos todos infinitamente mais estressados, assim como tenho certeza de que esse é um caminho sem volta. Não há mais para onde correr — e, ainda que houvesse, não correríamos. Viramos todos news junkies, viciados em notícias.
______
Como todo mundo, eu também ando sofrendo de overdose. Tentei fugir para o sítio no feriado, mas o noticiário fugiu junto. Há coisas que nem em estado de meditação profunda se conseguem ignorar. Saí do Rio na quinta sabendo que um pequeno avião havia se acidentado em Paraty. No meio do caminho, fui alcançada pela notícia de que o ministro Teori Zavascki estava entre os passageiros, e subi a serra tecendo teorias da conspiração com a minha irmã, a minha Mãe e a amiga que nos acompanhava. Na sexta Trump tomou posse e fez a sua versão ianque do Deutschland über alles; no sábado o mulherio saiu às ruas em massa para protestar contra ele. No domingo a sensação térmica foi de 43 graus. Na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta e provavelmente hoje ainda, e quem sabe amanhã e depois, a internet quebrou com a atitude intempestiva e autoritária do Doria, que mandou apagar os grafites da 23 de Maio. Saí para dar uma volta com os cachorros da casa e os invejei, tão inocentes, ignorantes da velocidade com que a terra gira.
______
Depois de alguns anos de relativa tranquilidade e bom convívio com os gatos e seus protetores — era um alento ver as plaquinhas do estacionamento alertando os motoristas para a presença dos bichanos —, a administração do Jockey Club declarou guerra, mais uma vez, aos pequenos felinos que vivem lá. Voluntários que cuidam dos animais há décadas foram proibidos de alimentá-los e medicá-los; vários já desapareceram.
Com isso o JCB vai — de novo! — na contramão de tudo o que já se sabe hoje sobre colônias de gatos. Em vez de ouvir os protetores, que conhecem os animais um por um, e de trabalhar junto com eles para encontrar soluções, o clube os hostiliza abertamente. Potes de água e de comida têm sido recolhidos pelos guardas, em “combate às pragas”.
As desculpas e o modus operandi são os mesmos há pelo menos 30 anos, que é o tempo em que acompanho essa saga, mas agora o clube tem um “programa de assistência” herdado da administração anterior para camuflar os maus-tratos. Há uma narrativa fofa para o público externo, segundo a qual os gatos serão transferidos para “um lugar mais bem estruturado”, e uma realidade cruel no cotidiano. Gatos são territoriais, não mudam de hábitos porque uma autoridade decidiu que eles devem mudar.
É triste ver tanta falta de diálogo. Sei que protetores são frequentemente radicais, mas, ao longo dos anos, descobri que esse radicalismo é, na maior parte das vezes, um contraponto à intransigência e à ignorância que encontram na sua missão. As administrações do Jockey vêm e vão, mas os voluntários estão sempre lá, chova ou faça sol, batalhando pelos animais — e não fazendo deles o seu ganha-pão.
Cora Rónai
Penitenciária: os 13 motivo da turma dos 13. Vai é tarde!
Sempre é bom comentar uma boa notícia. E qual é? Sete dos 13 membros do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do Ministério da Justiça, renunciaram a seus cargos. Ufa! O presidente, Hugo Leonardo, foi junto. Estão todos de parabéns! Por quê?
Porque, tudo indica, eles concordavam com a política que estava em curso na gestão do governo petista e discordam da linha que Alexandre de Moraes, o titular da Justiça, quer implementar.
A política conhecida, como sabemos — defendida com o ardor dos que se demitem e deixam cartas eivadas de retórica condoreira e protestos de extrema humanidade —, gerou a situação de descalabro a que assistimos. E nunca ninguém se demitiu, não é? Nem haveria razão. Afinal, a turma dos sete pediu para sair porque, segundo entendi, queria mais do mesmo.
Ao tentar explicar por que caiu fora, o tal Leonardo evidencia que se trata mesmo de mera questão política. Para lembrar: resolução assinada por Moraes ampliou em oito o números de conselheiros. Os valentes entenderam como uma tentativa de controle daquela instância. Então ele disparou: “O Ministro da Justiça, com a criação de novas vagas no CNPCP, busca um conselho vassalo de sua intenção truculenta e irracional para lidar com problemas sociais do país”.
Como se percebe, ele tem uma avaliação prévia das escolhas do ministério e está usando a questão do conselho como mero pretexto para atacar o ministro da Justiça. Mais: a turminha se preparava para uma espécie de levante contra a Política Nacional de Segurança Pública.
Ah, sim! Em sua carta de renúncia, o grupo alegou 13 razões para se desligar do órgão. Nem 12 nem 14, mas 13! Nem 10 nem 11, mas 13! Nem 15 nem 16, mas 13!
Aliás, desde que começou o boato de que o conselho estava inquieto, pensei: “Isso é 13 na cabeça!”.
É claro que essa crise é fruto de um choque de concepções. E não! Não se trata de um confronto entre a esquerda, essa que sai, e a direita, a que fica. Não!
Com efeito, quem se levanta é a turma das “13 razões”. Isso está claro no vocabulário. Ocorre que basta ler o plano do governo para verificar ser mentirosa a afirmação de que a perspectiva simplesmente punitiva se sobrepõe a qualquer outra política de humanização do setor. Trata-se de uma mentira descarada.
A questão, aí sim, é que os esquerdistas, na área social, não têm respostas a dar porque são vítimas da própria visão de mundo, a saber: ora, se os problemas carcerários derivam, como efeito, de uma causa essencial, que são as mazelas sociais do Brasil, então a resposta possível é eliminar as tais mazelas. É o que lhes diz seu humanismo mixuruca.
O que temos como resultado? O que se vê nos presídios, o que se vê nas cracolândias, o que se vê, em suma, na área social: os esquerdistas acabam se apaixonando pelas misérias humanas e as transformam numa espécie de ética e até de estética. Ou você já viu algum veículo de comunicação subir o morro ou ir à periferia em busca de crianças que tocam violino? Sim, elas existem. Mas todos achamos natural que aqueles pretinhos de tão pobres e pobres de tão pretinhos cantem rap ou funk, não é mesmo?
Essa gente está indo embora do conselho por 13 motivos? Que bom! Eu saúdo a decisão por um único motivo: eles haviam se tornado dependentes do problema que deveriam resolver. E, quando isso acontece, em vez de o sujeito ser um inimigo do mal, ele se torna um seu aliado.
Porque, tudo indica, eles concordavam com a política que estava em curso na gestão do governo petista e discordam da linha que Alexandre de Moraes, o titular da Justiça, quer implementar.
Ao tentar explicar por que caiu fora, o tal Leonardo evidencia que se trata mesmo de mera questão política. Para lembrar: resolução assinada por Moraes ampliou em oito o números de conselheiros. Os valentes entenderam como uma tentativa de controle daquela instância. Então ele disparou: “O Ministro da Justiça, com a criação de novas vagas no CNPCP, busca um conselho vassalo de sua intenção truculenta e irracional para lidar com problemas sociais do país”.
Como se percebe, ele tem uma avaliação prévia das escolhas do ministério e está usando a questão do conselho como mero pretexto para atacar o ministro da Justiça. Mais: a turminha se preparava para uma espécie de levante contra a Política Nacional de Segurança Pública.
Ah, sim! Em sua carta de renúncia, o grupo alegou 13 razões para se desligar do órgão. Nem 12 nem 14, mas 13! Nem 10 nem 11, mas 13! Nem 15 nem 16, mas 13!
Aliás, desde que começou o boato de que o conselho estava inquieto, pensei: “Isso é 13 na cabeça!”.
É claro que essa crise é fruto de um choque de concepções. E não! Não se trata de um confronto entre a esquerda, essa que sai, e a direita, a que fica. Não!
Com efeito, quem se levanta é a turma das “13 razões”. Isso está claro no vocabulário. Ocorre que basta ler o plano do governo para verificar ser mentirosa a afirmação de que a perspectiva simplesmente punitiva se sobrepõe a qualquer outra política de humanização do setor. Trata-se de uma mentira descarada.
A questão, aí sim, é que os esquerdistas, na área social, não têm respostas a dar porque são vítimas da própria visão de mundo, a saber: ora, se os problemas carcerários derivam, como efeito, de uma causa essencial, que são as mazelas sociais do Brasil, então a resposta possível é eliminar as tais mazelas. É o que lhes diz seu humanismo mixuruca.
O que temos como resultado? O que se vê nos presídios, o que se vê nas cracolândias, o que se vê, em suma, na área social: os esquerdistas acabam se apaixonando pelas misérias humanas e as transformam numa espécie de ética e até de estética. Ou você já viu algum veículo de comunicação subir o morro ou ir à periferia em busca de crianças que tocam violino? Sim, elas existem. Mas todos achamos natural que aqueles pretinhos de tão pobres e pobres de tão pretinhos cantem rap ou funk, não é mesmo?
Essa gente está indo embora do conselho por 13 motivos? Que bom! Eu saúdo a decisão por um único motivo: eles haviam se tornado dependentes do problema que deveriam resolver. E, quando isso acontece, em vez de o sujeito ser um inimigo do mal, ele se torna um seu aliado.
Redenção pela leitura
Obom exemplo foi dado. Mas quem disse que seria fácil?, como perguntam os ingleses… Com cerimônia oficial e pose para foto, o ministro da Educação, Mendonça Filho, e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Cármen Lúcia, anunciaram ato de doação de 20 mil livros para formação de bibliotecas em 40 presídios brasileiros. Um bom exemplo. Mas este é um assunto espinhoso.
Vamos às contas: são apenas 500 livros para cada unidade prisional. Uma biblioteca módica deve ter, no mínimo, três vezes mais, segundo orientação da ONU. Outra: o MEC informa que o acervo está disponível, ou seja, já estava lá, guardado. É uma boa notícia. Mas se estavam lá, não houve curadoria, não houve escolha dos títulos. Livros, preferencialmente, de literatura de ficção brasileira.

Outra dúvida, localizada no coração do problema: por que o Ministério da Educação, sozinho? Todos sabem que os órgãos ligados ao mundo do livro e da leitura estão subordinados ao Ministério da Cultura. Fazem parte do seu organograma há décadas. Este programa deveria ser entregue ao cargo do ministro Roberto Freire, que, certamente, fará uma gestão balizada e tecnicamente adequada, dada a qualidade de seus pares, como Mansur Bassit, que militou anos na Câmara Brasileira do Livro, e o bibliotecário Cristian Santos, responsável pela Diretoria de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas.
Está em vigor, há anos, a Lei de Remissão de Pena Através da Leitura. Basta o preso ler um livro por mês, fazer um resumo e entregar. Em contrapartida, dias da sua pena serão subtraídos. Por que não informar isso, no anúncio, como um dos motivos? Milhares de encarcerados pelo país já desfrutam deste benefício. São inúmeros os projetos e programas de incentivo ao hábito da leitura no âmbito dos presídios no Brasil. Da pequena Araxá, no sul de Minas, à periferia de Porto Alegre.
O mais importante desta iniciativa é o exemplo. A força de transformação contida no livro é imensa. E de todas as atividades do campo da cultura, a única realmente factível para o presidiário é a leitura, devido ao fator óbvio do confinamento. A leitura é campo fértil para a mudança. Não é por acaso que a Bíblia é o objeto mais caro, mais bem cuidado, mais protegido, ali.
Voltando às iniciativas exitosas, a Penitenciária de Montenegro, no Rio Grande do Sul, criou o ofício de facilitador de livros. Tal atividade é necessária por uma questão de segurança: os presos não podem circular até as salas de leitura para buscar os exemplares.
O que o facilitador faz? Enche uma caixa de feira com livros e roda a penitenciária à procura de leitores. Devido à presença dos facilitadores, quase todo o acervo está emprestado. E o melhor: a cada três dias no ofício, um dia a menos na prisão, como remissão de pena. Isso é exemplo.
E como não é fácil, é necessário facilitar: convidem os bibliotecários, especialistas em leitura e responsáveis pelas inúmeras iniciativas já existentes no país no campo do livro no mundo prisional para participar. Por quê? Porque é um bom exemplo. Porque os brasileiros querem ajudar. Porque todos querem participar de uma possibilidade de transformação concreta que a leitura nos presídios proporciona. Façam deste bom exemplo uma ação comunitária, pública, participativa. E confiram os resultados. Será um incêndio de transformação literária, humana e cidadã. Querem apostar?
Afonso Borges
Vamos às contas: são apenas 500 livros para cada unidade prisional. Uma biblioteca módica deve ter, no mínimo, três vezes mais, segundo orientação da ONU. Outra: o MEC informa que o acervo está disponível, ou seja, já estava lá, guardado. É uma boa notícia. Mas se estavam lá, não houve curadoria, não houve escolha dos títulos. Livros, preferencialmente, de literatura de ficção brasileira.

Está em vigor, há anos, a Lei de Remissão de Pena Através da Leitura. Basta o preso ler um livro por mês, fazer um resumo e entregar. Em contrapartida, dias da sua pena serão subtraídos. Por que não informar isso, no anúncio, como um dos motivos? Milhares de encarcerados pelo país já desfrutam deste benefício. São inúmeros os projetos e programas de incentivo ao hábito da leitura no âmbito dos presídios no Brasil. Da pequena Araxá, no sul de Minas, à periferia de Porto Alegre.
O mais importante desta iniciativa é o exemplo. A força de transformação contida no livro é imensa. E de todas as atividades do campo da cultura, a única realmente factível para o presidiário é a leitura, devido ao fator óbvio do confinamento. A leitura é campo fértil para a mudança. Não é por acaso que a Bíblia é o objeto mais caro, mais bem cuidado, mais protegido, ali.
Voltando às iniciativas exitosas, a Penitenciária de Montenegro, no Rio Grande do Sul, criou o ofício de facilitador de livros. Tal atividade é necessária por uma questão de segurança: os presos não podem circular até as salas de leitura para buscar os exemplares.
O que o facilitador faz? Enche uma caixa de feira com livros e roda a penitenciária à procura de leitores. Devido à presença dos facilitadores, quase todo o acervo está emprestado. E o melhor: a cada três dias no ofício, um dia a menos na prisão, como remissão de pena. Isso é exemplo.
E como não é fácil, é necessário facilitar: convidem os bibliotecários, especialistas em leitura e responsáveis pelas inúmeras iniciativas já existentes no país no campo do livro no mundo prisional para participar. Por quê? Porque é um bom exemplo. Porque os brasileiros querem ajudar. Porque todos querem participar de uma possibilidade de transformação concreta que a leitura nos presídios proporciona. Façam deste bom exemplo uma ação comunitária, pública, participativa. E confiram os resultados. Será um incêndio de transformação literária, humana e cidadã. Querem apostar?
Afonso Borges
O governo não paga ao governo
Tempos atrás, recebi um convite para dirigir o lançamento de uma publicação de economia. A editora era a Manchete, e já corriam informações sobre a difícil situação financeira da empresa. Perguntei sobre isso a um dos diretores, que tratou de me tranquilizar: está tudo em dia, salários, papel; nós só não pagamos ao governo.
Muitas empresas viviam assim. Simplesmente não recolhiam impostos, nem pagavam os financiamentos obtidos em bancos públicos. Seguiam em frente fazendo negociação em cima de negociação, sempre com base nas boas relações com o governo de plantão.

Hoje ainda tem disso, mas a novidade está no setor público. Prefeitos e governadores usam cada vez mais a velha regra: não pagam ao governo. Ok, já faziam isso antes, mas a coisa tomou um volume insustentável.
Por exemplo: em 2005, o governo federal negociou dívidas das prefeituras com o INSS. Administrações não recolhiam a contribuição patronal e não repassavam ao INSS a contribuição recolhida dos empregados celetistas.
Quatro anos depois, o governo federal topou renegociar as dívidas antigas e as novas. Naquele ano, com dados mais precisos, a Receita Federal calculava que as prefeituras deviam R$ 14 bilhões à Previdência.
Pois sabem qual é a dívida hoje? R$ 100 bilhões.
E claro, as prefeituras não querem pagar. Em vez disso, começam a adotar a tática iniciada pelo governo do Rio, um decreto de calamidade pública financeira.
Isso tem se tornado tão comum que a gente nem repara mais no absurdo da situação. Mas deveria.
Calamidade pública, todo mundo sabe o que é. Chuvas, secas, uma baita epidemia. Nesses casos, os governos “decretam” a calamidade, instrumento que permite usar dinheiro não previsto no orçamento, podendo descumprir momentaneamente as regras de responsabilidade fiscal, que preveem punições para quem gastar além de determinados limites.
Já esse decreto de calamidade financeira é uma invenção nacional. As finanças podem estar de fato em situação calamitosa, mas como se chegou a isso? Com a má gestão, com gastos em contínua elevação mesmo quando as receitas estavam em queda. Ou seja, total descumprimento das regras legais.
Ora, o que pretende o decreto de calamidade financeira? Permitir que a prefeitura ou o governo estadual não cumpram justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. É um decreto para legalizar um crime já praticado.
Administradores alegam que foram apanhados de surpresa pela crise econômica nacional, que derrubou a arrecadação de impostos. Como se fosse uma chuvarada repentina.
Ora, se já dá para prever e, pois, se prevenir do mau tempo, é muito mais fácil perceber que uma crise se aproxima e tratar de economizar nos gastos.
Não fazem isso. Continuam gastando e quando chegam ao limite, sem dinheiro para mais nada, decretam que não podem mesmo pagar. O primeiro a não receber é sempre o próprio governo: o INSS, a Receita Federal, os bancos públicos.
Assim, caímos numa farra fiscal, sequência de ilegalidades. Grave, pois a onda chegou ao STF. A própria presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, suspendeu o cumprimento de cláusulas contratuais entre a União e o Estado do Rio, proibindo que o governo federal bloqueasse R$ 370 milhões das contas estaduais. O dinheiro era para cobrir prestações de dívida que o Rio não pagara. O bloqueio está expressamente previsto na lei e nos contratos de renegociação de dívidas. Mais: a União não pode financiar os estados — financiamento que acontece quando perdoa pagamentos de prestações de dívida e concede empréstimo novo para unidade da Federação que não cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ou seja, a ministra endossou uma ilegalidade. OK, a situação do Rio é calamitosa, mas se vale a regra de que o governo não precisa pagar ao governo, a calamidade vai se espalhar.
Aliás, a renegociação da dívida fluminense está travada exatamente por isso: falta base legal para a União suspender pagamento de dívidas antigas e fazer empréstimos novos.
Estão tentando dar um jeito — é complicado. Será preciso que o Congresso aprove uma lei complementar, criando um “regime de recuperação fiscal”, que permitiria financiamentos federais, da União e dos bancos, em troca de contrapartidas fiscais dos estados. Sem essa lei, a renegociação será crime contra a responsabilidade fiscal — algo que derrubou Dilma.
Se os diretores do Banco do Brasil, por exemplo, autorizarem empréstimos a estados falidos, sem a nova lei, cairão nas malhas do Ministério Público.
De todo modo, o mais importante, se algum acordo legal for conseguido, está não no refinanciamento, mas em como os governos estaduais e municipais vão fazer os ajustes. São as contrapartidas, as medidas efetivas de redução de gastos e ganhos de eficiência.
E um bom começo para ajeitar isso de modo legal e correto seria a ministra revogar aquela decisão. Pois se um estado pode não cumprir a lei e o contrato, os outros também podem, não é mesmo? E aí, caímos numa calamidade de verdade, quando os governos não pagam a mais ninguém, com decreto ou sem decreto.
Carlos Alberto Sardenberg
Muitas empresas viviam assim. Simplesmente não recolhiam impostos, nem pagavam os financiamentos obtidos em bancos públicos. Seguiam em frente fazendo negociação em cima de negociação, sempre com base nas boas relações com o governo de plantão.

Por exemplo: em 2005, o governo federal negociou dívidas das prefeituras com o INSS. Administrações não recolhiam a contribuição patronal e não repassavam ao INSS a contribuição recolhida dos empregados celetistas.
Quatro anos depois, o governo federal topou renegociar as dívidas antigas e as novas. Naquele ano, com dados mais precisos, a Receita Federal calculava que as prefeituras deviam R$ 14 bilhões à Previdência.
Pois sabem qual é a dívida hoje? R$ 100 bilhões.
E claro, as prefeituras não querem pagar. Em vez disso, começam a adotar a tática iniciada pelo governo do Rio, um decreto de calamidade pública financeira.
Isso tem se tornado tão comum que a gente nem repara mais no absurdo da situação. Mas deveria.
Calamidade pública, todo mundo sabe o que é. Chuvas, secas, uma baita epidemia. Nesses casos, os governos “decretam” a calamidade, instrumento que permite usar dinheiro não previsto no orçamento, podendo descumprir momentaneamente as regras de responsabilidade fiscal, que preveem punições para quem gastar além de determinados limites.
Já esse decreto de calamidade financeira é uma invenção nacional. As finanças podem estar de fato em situação calamitosa, mas como se chegou a isso? Com a má gestão, com gastos em contínua elevação mesmo quando as receitas estavam em queda. Ou seja, total descumprimento das regras legais.
Ora, o que pretende o decreto de calamidade financeira? Permitir que a prefeitura ou o governo estadual não cumpram justamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. É um decreto para legalizar um crime já praticado.
Administradores alegam que foram apanhados de surpresa pela crise econômica nacional, que derrubou a arrecadação de impostos. Como se fosse uma chuvarada repentina.
Ora, se já dá para prever e, pois, se prevenir do mau tempo, é muito mais fácil perceber que uma crise se aproxima e tratar de economizar nos gastos.
Não fazem isso. Continuam gastando e quando chegam ao limite, sem dinheiro para mais nada, decretam que não podem mesmo pagar. O primeiro a não receber é sempre o próprio governo: o INSS, a Receita Federal, os bancos públicos.
Assim, caímos numa farra fiscal, sequência de ilegalidades. Grave, pois a onda chegou ao STF. A própria presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, suspendeu o cumprimento de cláusulas contratuais entre a União e o Estado do Rio, proibindo que o governo federal bloqueasse R$ 370 milhões das contas estaduais. O dinheiro era para cobrir prestações de dívida que o Rio não pagara. O bloqueio está expressamente previsto na lei e nos contratos de renegociação de dívidas. Mais: a União não pode financiar os estados — financiamento que acontece quando perdoa pagamentos de prestações de dívida e concede empréstimo novo para unidade da Federação que não cumpre a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Ou seja, a ministra endossou uma ilegalidade. OK, a situação do Rio é calamitosa, mas se vale a regra de que o governo não precisa pagar ao governo, a calamidade vai se espalhar.
Aliás, a renegociação da dívida fluminense está travada exatamente por isso: falta base legal para a União suspender pagamento de dívidas antigas e fazer empréstimos novos.
Estão tentando dar um jeito — é complicado. Será preciso que o Congresso aprove uma lei complementar, criando um “regime de recuperação fiscal”, que permitiria financiamentos federais, da União e dos bancos, em troca de contrapartidas fiscais dos estados. Sem essa lei, a renegociação será crime contra a responsabilidade fiscal — algo que derrubou Dilma.
Se os diretores do Banco do Brasil, por exemplo, autorizarem empréstimos a estados falidos, sem a nova lei, cairão nas malhas do Ministério Público.
De todo modo, o mais importante, se algum acordo legal for conseguido, está não no refinanciamento, mas em como os governos estaduais e municipais vão fazer os ajustes. São as contrapartidas, as medidas efetivas de redução de gastos e ganhos de eficiência.
E um bom começo para ajeitar isso de modo legal e correto seria a ministra revogar aquela decisão. Pois se um estado pode não cumprir a lei e o contrato, os outros também podem, não é mesmo? E aí, caímos numa calamidade de verdade, quando os governos não pagam a mais ninguém, com decreto ou sem decreto.
Carlos Alberto Sardenberg
Palavras malditas: bala perdida
Bala perdida é vernáculo. Significa, conforme o Michaelis, ''bala que se extraviou de seu alvo e seguiu uma direção diferente''. Autoridades públicas adotam a denominação. Especialistas em segurança, também. Idem organizações não governamentais. O jornalismo, mais ainda.
Portanto, Sofia Lara Braga teria sido vítima de uma bala perdida na noite do sábado. A menina de dois anos e sete meses brincava no parquinho do Habib's do subúrbio carioca de Irajá. Baleada no rosto, morreu. Ou melhor, foi morta _a conjugação verbal com frequência falseia a história.

Pelo que contaram, policiais militares trocavam tiros com um homem que dirigia um automóvel e não parou ao ser abordado. Havia nos arredores uma denúncia de roubo de carro. A picape conduzida pelo fugitivo capotou, e ele foi preso.
A dor, o horror e a infâmia da morte de Sofia não serão mais ou menos suaves por causa de uma palavra ou outra. Mas a permanência da expressão bala perdida contribuiu para matizar o ato mortal: alguém, mesmo sem intenção de ferir a menina, disparou a bala que lhe roubou a vida: o ladrão ou um PM.
Bala perdida abranda a condição de matador, mesmo quando este não pretendeu matar, embora tenha aceito o risco de puxar o gatilho, ao atacar ou defender. O que mata é o tiro, a bala, que não é perdida.
As ditas balas perdidas não se perdem. São achadas nos corpos atingidos ou, se transfixantes, depois de os atravessarem. O que se perde é a vida.
Às vésperas da Páscoa de 2015, um menino de dez anos, Eduardo de Jesus, filho de José e de Maria, foi morto a bala no complexo do Alemão. Engrossou o noticiário sobre balas perdidas. Na verdade, um policial alvejou-o sem querer enquanto tiroteava com traficantes de drogas.
Sempre que episódios dessa natureza são catalogados como bala perdida, é mais difícil desenvolver uma reflexão urgente: é pertinente, numa perseguição por roubo ou furto de carro, atirar se há risco de matar uma criança?
O jornalista Janio de Freitas escreveu tempos atrás: ''Inocentes vão caindo sob a designação cínica de vítimas de 'bala perdida', um salvo-conduto para a impunidade da matança''.
É isso aí.
Portanto, Sofia Lara Braga teria sido vítima de uma bala perdida na noite do sábado. A menina de dois anos e sete meses brincava no parquinho do Habib's do subúrbio carioca de Irajá. Baleada no rosto, morreu. Ou melhor, foi morta _a conjugação verbal com frequência falseia a história.

A dor, o horror e a infâmia da morte de Sofia não serão mais ou menos suaves por causa de uma palavra ou outra. Mas a permanência da expressão bala perdida contribuiu para matizar o ato mortal: alguém, mesmo sem intenção de ferir a menina, disparou a bala que lhe roubou a vida: o ladrão ou um PM.
Bala perdida abranda a condição de matador, mesmo quando este não pretendeu matar, embora tenha aceito o risco de puxar o gatilho, ao atacar ou defender. O que mata é o tiro, a bala, que não é perdida.
As ditas balas perdidas não se perdem. São achadas nos corpos atingidos ou, se transfixantes, depois de os atravessarem. O que se perde é a vida.
Às vésperas da Páscoa de 2015, um menino de dez anos, Eduardo de Jesus, filho de José e de Maria, foi morto a bala no complexo do Alemão. Engrossou o noticiário sobre balas perdidas. Na verdade, um policial alvejou-o sem querer enquanto tiroteava com traficantes de drogas.
Sempre que episódios dessa natureza são catalogados como bala perdida, é mais difícil desenvolver uma reflexão urgente: é pertinente, numa perseguição por roubo ou furto de carro, atirar se há risco de matar uma criança?
O jornalista Janio de Freitas escreveu tempos atrás: ''Inocentes vão caindo sob a designação cínica de vítimas de 'bala perdida', um salvo-conduto para a impunidade da matança''.
É isso aí.
Macho Alfa
A incerteza é uma constante na vida de cada um
A morte trágica do ministro Teori Zavascki deu margem a especulações de toda ordem. Para uns, foi mandinga, bruxaria ou macumba. Para outros, uma terrível fatalidade. Coisa do destino. Muitos admitem o crime premeditado: os que não querem a continuação da Lava Jato agiram nas sombras. Já o colunista Merval Pereira, em sua última coluna no “O Globo”, intitulada “Urdidura dos diabos”, baseada, segundo ele, numa expressão usada por um dos ministros do STF, disse que, “mais uma vez, o realismo mágico interfere nos destinos nacionais de maneira brutal”. A referência me lembrou o escritor mineiro Murilo Rubião (Merval levantou a hipótese no instante em que chegou às livrarias o livro “Mares Interiores: Correspondência de Murilo Rubião & Otto Lara Resende”).
A dúvida, que sempre fica depois dos acontecimentos trágicos, continuará alimentando a imaginação dos mortais, que admitem enxergar muito além da dura realidade. Mas não é a literatura, nem muito menos o envolvente realismo mágico (também chamado de “fantástico” ou “maravilhoso”), do qual Murilo Rubião foi um dos precursores, que rege a vida. O que parece reger a vida é a incerteza, que a comandou, a comanda e a comandará. “Per omnia saecula saeculorum”.
A dúvida, que sempre fica depois dos acontecimentos trágicos, continuará alimentando a imaginação dos mortais, que admitem enxergar muito além da dura realidade. Mas não é a literatura, nem muito menos o envolvente realismo mágico (também chamado de “fantástico” ou “maravilhoso”), do qual Murilo Rubião foi um dos precursores, que rege a vida. O que parece reger a vida é a incerteza, que a comandou, a comanda e a comandará. “Per omnia saecula saeculorum”.
Cabe a cada um de nós saber lidar com isso. “A vida é um risco a correr”. O ministro poderia tê-lo evitado, mas optou por viajar ao lado do empresário e proprietário da aeronave, e, de uns tempos para cá, seu amigo. Por ter aceitado essa fatídica gentileza, ainda será vítima de severas críticas.
É a incerteza a responsável por essa e por tantas outras mortes, como a de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Ulysses Guimarães ou Eduardo Campos etc., relembradas agora. Na realidade, vivemos, e não é de hoje, por mais contraditório que pareça, numa eterna era da incerteza, interna e externa. Faz parte da vida. Assim é o mundo, queiramos ou não. O sofrimento também é uma constante na vida de cada um de nós. Quem não sofre é porque não vive. É simples.
Morto Teori Zavascki, a pergunta que mais se houve, em qualquer roda de conversa neste país, é: quem será o novo relator da Lava Jato? O presidente Michel Temer, prudentemente, talvez até influenciado pelo fato de pertencer à comunidade jurídica brasileira como autor de livro de direito constitucional, preferiu esperar a indicação (ou o sorteio?) do novo relator para fazer ao Senado Federal a indicação do substituto do falecido. A presidente do STF, Cármen Lúcia, tem a sua disposição vários caminhos, mas dificilmente optará pela aceitação de tal desiderato, nem muito menos tomará uma decisão solitária. Preferirá, com certeza, que a decisão seja solidariamente tomada entre os colegas. Nem por isso, porém, a decisão que vier deixará de ser objeto de elogios e críticas da opinião pública, cansada de assistir a tantos desacertos.
Num ponto, pelo menos, todos nós – juristas ou leigos – estamos de pleno acordo: que seja célere a decisão a ser tomada pelo STF. Ela não diz respeito tão somente ao processo. É, indiscutivelmente, fundamental à vida do país, que, com urgência, precisa (re) proclamar a República por meio da inadiável reforma política. Só a partir dela que nossa economia, objeto, por ora, de boas intenções, avançará de fato.
Ao futuro relator da Lava Jato, relembro o que disse Rui Barbosa há 95 anos: “A ninguém importa mais do que à magistratura fugir do medo, esquivar humilhações e não conhecer a covardia”. E é só!
É a incerteza a responsável por essa e por tantas outras mortes, como a de Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Ulysses Guimarães ou Eduardo Campos etc., relembradas agora. Na realidade, vivemos, e não é de hoje, por mais contraditório que pareça, numa eterna era da incerteza, interna e externa. Faz parte da vida. Assim é o mundo, queiramos ou não. O sofrimento também é uma constante na vida de cada um de nós. Quem não sofre é porque não vive. É simples.
Morto Teori Zavascki, a pergunta que mais se houve, em qualquer roda de conversa neste país, é: quem será o novo relator da Lava Jato? O presidente Michel Temer, prudentemente, talvez até influenciado pelo fato de pertencer à comunidade jurídica brasileira como autor de livro de direito constitucional, preferiu esperar a indicação (ou o sorteio?) do novo relator para fazer ao Senado Federal a indicação do substituto do falecido. A presidente do STF, Cármen Lúcia, tem a sua disposição vários caminhos, mas dificilmente optará pela aceitação de tal desiderato, nem muito menos tomará uma decisão solitária. Preferirá, com certeza, que a decisão seja solidariamente tomada entre os colegas. Nem por isso, porém, a decisão que vier deixará de ser objeto de elogios e críticas da opinião pública, cansada de assistir a tantos desacertos.
Num ponto, pelo menos, todos nós – juristas ou leigos – estamos de pleno acordo: que seja célere a decisão a ser tomada pelo STF. Ela não diz respeito tão somente ao processo. É, indiscutivelmente, fundamental à vida do país, que, com urgência, precisa (re) proclamar a República por meio da inadiável reforma política. Só a partir dela que nossa economia, objeto, por ora, de boas intenções, avançará de fato.
Ao futuro relator da Lava Jato, relembro o que disse Rui Barbosa há 95 anos: “A ninguém importa mais do que à magistratura fugir do medo, esquivar humilhações e não conhecer a covardia”. E é só!
Falta coragem
John Maynard Keynes deixou diversas lições sobre economia, mas uma se destaca pelo ineditismo: “Quem é capaz de melhorar a economia de uma nação tem a probabilidade inversamente proporcional de cuidar bem das próprias finanças”. Tomando-se a opinião como verdadeira, conclui-se que Michel Temer está milionário, porque mesmo auxiliado por Henrique Meirelles, o Brasil vai de mal a pior. Os governadores, então, nem se fala. Seus estados estão em frangalhos.
Não se trata de encontrar homens providenciais, magos ou feiticeiros para consertar a economia. Seria o caso de inverter a equação. O maior mal que assola o país é o desemprego. No final deste ano serão 13 milhões de cidadãos sem emprego, computados apenas os que já trabalharam e hoje se encontram de mãos abanando.

Não se trata de encontrar homens providenciais, magos ou feiticeiros para consertar a economia. Seria o caso de inverter a equação. O maior mal que assola o país é o desemprego. No final deste ano serão 13 milhões de cidadãos sem emprego, computados apenas os que já trabalharam e hoje se encontram de mãos abanando.
Franklin Roosevelt encontrou a saída para tirar os Estados Unidos do brejo: criou fontes públicas de trabalho, aos milhões. Também mobilizou as empresas privadas. Empreendeu a marcha para o interior, ampliando o crédito. E acreditou, acima de tudo. Deu certo, apesar dos sacrifícios.
Não seria um bom começo o governo enquadrar e intervir nas empreiteiras? Só o produto da corrupção e da roubalheira serviria para injetar ânimo na massa abandonada. Qualquer parte do território nacional presta-se a programas de construção de habitações, de preferência populares.
Planos não faltam, ou pelo menos podem ser desenvolvidos. Falta coragem.
Não seria um bom começo o governo enquadrar e intervir nas empreiteiras? Só o produto da corrupção e da roubalheira serviria para injetar ânimo na massa abandonada. Qualquer parte do território nacional presta-se a programas de construção de habitações, de preferência populares.
Planos não faltam, ou pelo menos podem ser desenvolvidos. Falta coragem.
E 'isso' foi presidente!
A morte como rotina
A morte tem sido um dos assuntos mais recorrentes do nosso noticiário. Já não falo nem das chamadas mortes naturais, causadas por velhice ou doenças (dengue, chicungunha, zika, febre amarela e até malária), mas das “mortes matadas”, ocorrências criminosas por meio de assaltos, roubos, conflitos e balas perdidas, como a que matou a menina Sofia, de 2 anos e meio, enquanto brincava no parquinho interno de uma lanchonete na Zona Norte do Rio.
Essa é uma especialidade carioca, que nos últimos dois anos vitimou 18 menores de 14 anos, além daqueles maiores de idade, que só em 2016 chegaram a três casos por dia. É a triste face de uma cidade que sempre foi o símbolo do país do hedonismo, terra do homem cordial, “abençoado por Deus e bonito por natureza” — uma imagem de exportação cujas belezas naturais e lindas mulheres seminuas nas praias e no carnaval funcionavam como cartões-postais que excitavam o imaginário dos turistas estrangeiros.

Agora, o mundo está recebendo notícias de uma realidade oposta e alarmante, a de um país que mata como se estivesse em guerra, que comete atrocidades, corta cabeças como se fosse o Estado Islâmico, em que o crime organizado detém um poder paralelo cujas facções, depois de lutas sangrentas pelo domínio das penitenciárias, ameaçam estender o terror para as ruas das capitais.
Em uma semana, os massacres em dois presídios de Manaus produziram 67 mortes. Quatro dias depois, em Roraima, foram 33 execuções. Na penitenciária de Alcaçuz, em Natal, foram 26 até agora, mas a contagem não terminou.
Ver na televisão as cenas apocalípticas de detentos das facções rivais se matando nos pátios dos presídios chocam. Mas acho que pior ainda para a sensibilidade de alguém civilizado, por exemplo, é saber que próximo a uma unidade prisional houve o encontro macabro de “duas cabeças, um antebraço, um braço e uma perna”. As autoridades, impotentes ou coniventes, certamente incapazes, desistiram do combate. Talvez inspiradas em Trump, resolveram construir muro para separar as facções. Assim, cada lado fica com uma parte do território, e o Estado, bem, o Estado assiste de longe.
Não é preciso ter lido toda a obra de Freud para conhecer um de seus principais ensinamentos — o de que a pulsão, ou instinto, de vida e morte habita o ser humano e está na origem de todos os nossos conflitos psíquicos. “A luta entre Eros e Tânatos se decide dentro de nós a cada instante”, escreveu, referindo-se a dois entes da mitologia grega: o primeiro, deus do amor, e o outro, a personificação da morte. No Rio e, por extensão, no Brasil, essa luta parece ganha por Tânatos. Pelo menos até agora.
Zuenir Ventura
Essa é uma especialidade carioca, que nos últimos dois anos vitimou 18 menores de 14 anos, além daqueles maiores de idade, que só em 2016 chegaram a três casos por dia. É a triste face de uma cidade que sempre foi o símbolo do país do hedonismo, terra do homem cordial, “abençoado por Deus e bonito por natureza” — uma imagem de exportação cujas belezas naturais e lindas mulheres seminuas nas praias e no carnaval funcionavam como cartões-postais que excitavam o imaginário dos turistas estrangeiros.

Agora, o mundo está recebendo notícias de uma realidade oposta e alarmante, a de um país que mata como se estivesse em guerra, que comete atrocidades, corta cabeças como se fosse o Estado Islâmico, em que o crime organizado detém um poder paralelo cujas facções, depois de lutas sangrentas pelo domínio das penitenciárias, ameaçam estender o terror para as ruas das capitais.
Em uma semana, os massacres em dois presídios de Manaus produziram 67 mortes. Quatro dias depois, em Roraima, foram 33 execuções. Na penitenciária de Alcaçuz, em Natal, foram 26 até agora, mas a contagem não terminou.
Ver na televisão as cenas apocalípticas de detentos das facções rivais se matando nos pátios dos presídios chocam. Mas acho que pior ainda para a sensibilidade de alguém civilizado, por exemplo, é saber que próximo a uma unidade prisional houve o encontro macabro de “duas cabeças, um antebraço, um braço e uma perna”. As autoridades, impotentes ou coniventes, certamente incapazes, desistiram do combate. Talvez inspiradas em Trump, resolveram construir muro para separar as facções. Assim, cada lado fica com uma parte do território, e o Estado, bem, o Estado assiste de longe.
Não é preciso ter lido toda a obra de Freud para conhecer um de seus principais ensinamentos — o de que a pulsão, ou instinto, de vida e morte habita o ser humano e está na origem de todos os nossos conflitos psíquicos. “A luta entre Eros e Tânatos se decide dentro de nós a cada instante”, escreveu, referindo-se a dois entes da mitologia grega: o primeiro, deus do amor, e o outro, a personificação da morte. No Rio e, por extensão, no Brasil, essa luta parece ganha por Tânatos. Pelo menos até agora.
Zuenir Ventura
Retrato do subdesenvolvimento
O recente surto de febre amarela que atinge Minas Geraisrevela mais uma faceta do caos no qual estamos afundando. Não bastassem a corrupção desenfreada, o péssimo sistema de educação, o falido sistema de saúde, a privação do nosso direito de ir e vir devido à violência urbana, o desemprego descontrolado e o abismo que separa ricos e pobres — todos sinais exteriores de subdesenvolvimentismo —, agora temos de conviver com doenças típicas do Terceiro Mundo, resultado da falta de saneamento básico.
Conforme dados do Atlas do Saneamento Básico, mais da metade da população brasileira vive sem acesso a redes de coleta de esgoto, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas estão expostas diariamente a inúmeras doenças, que incluem diarreia, tifo, cólera, hepatite e leptospirose. Além disso, o esgoto a céu aberto amplia de forma considerável a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão dos vírus que provocam a dengue, a chicungunha, a zika — e também a febre amarela.
A febre amarela provocou, apenas na primeira quinzena de janeiro, 32 mortes em Minas Gerais e três em São Paulo, confirmadas pelo Ministério da Saúde, além de haver dezenas de casos suspeitos em vários estados. Em todo o ano passado, foram registrados apenas cinco óbitos resultantes da doença. Embora o surto esteja até agora limitado a áreas silvestres, cujo vetor é o mosquito Haemagogus, especialistas alertam que, como o Aedes aegypti, que encontra-se disseminado por todas as regiões do país, também pode transmitir o vírus, é grande a possibilidade de que a febre amarela chegue aos centros urbanos, o que não ocorre desde 1942. De cada 100 pacientes infectados pelo mosquito, dez apresentam infecção grave.
Em 2016, o Aedes aegypti, que fora erradicado do Brasil em 1955, infectou 1,9 milhão de pessoas, provocando 794 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram registrados 1,5 milhão de casos de dengue com 629 mortes, segundo maior número desde 1990, quando os dados começaram a ser compilados. A chicungunha, identificada pela primeira vez no Brasil em 2014, registrou 265 mil casos, com 150 mortes, aumento de mais de 1.000% em relação ao ano anterior, que computou 14 mortes. Já a zika, detectada por aqui em abril de 2015, registrou 214 mil casos com seis mortes.
No caso do zika vírus, apesar do número de óbitos ser pequeno, as consequências em termos de saúde pública são mais graves, devido aos problemas de má formação dos fetos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até outubro do ano passado o Brasil somava 2,1 mil bebês nascidos com microcefalia associada ao zika vírus, enquanto o Ministério da Saúde admitia a existência de outros três mil casos suspeitos em análise. Além da microcefalia congênita, o vírus, que tem preferência pelo sistema nervoso central, pode provocar meningite, encefalite e Síndrome de Guillain-Barré, paralisia que chega a atingir todos os músculos.
O Brasil ocupa, no contexto mundial, a 112ª posição em um ranking de saneamento básico que engloba 200 países. De acordo com estatísticas baseadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), as ausências de funcionários que tiveram sintomas de infecção gastrointestinal representam por ano a perda de 849 mil dias de trabalho. Estima-se que ao ano as empresas gastam 1 bilhão de reais em horas pagas não trabalhadas, dinheiro que, segundo o estudo, poderia ser revertido em investimentos e contratações. A universalização dos serviços de água e esgoto poderia reduzir em 23% o total de dias de afastamento por diarreia, diminuindo o custo das empresas em 258 milhões de reais.
A pesquisa apontou ainda que os trabalhadores sem acesso à coleta de esgoto ganham salários, em média, 10% inferiores aos daqueles com as mesmas condições de empregabilidade. Além disso, a universalização do saneamento poderia diminuir em 7% o atraso escolar, com reflexos no ganho de produtividade e aumento na remuneração futura. No entanto, a nossa realidade é outra: dados do Censo Escolar 2013, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que só 36% das escolas públicas têm esgoto encanado — mais da metade delas contam apenas com uma fossa...
Conforme dados do Atlas do Saneamento Básico, mais da metade da população brasileira vive sem acesso a redes de coleta de esgoto, ou seja, mais de 100 milhões de pessoas estão expostas diariamente a inúmeras doenças, que incluem diarreia, tifo, cólera, hepatite e leptospirose. Além disso, o esgoto a céu aberto amplia de forma considerável a proliferação do Aedes aegypti, mosquito responsável pela transmissão dos vírus que provocam a dengue, a chicungunha, a zika — e também a febre amarela.
A febre amarela provocou, apenas na primeira quinzena de janeiro, 32 mortes em Minas Gerais e três em São Paulo, confirmadas pelo Ministério da Saúde, além de haver dezenas de casos suspeitos em vários estados. Em todo o ano passado, foram registrados apenas cinco óbitos resultantes da doença. Embora o surto esteja até agora limitado a áreas silvestres, cujo vetor é o mosquito Haemagogus, especialistas alertam que, como o Aedes aegypti, que encontra-se disseminado por todas as regiões do país, também pode transmitir o vírus, é grande a possibilidade de que a febre amarela chegue aos centros urbanos, o que não ocorre desde 1942. De cada 100 pacientes infectados pelo mosquito, dez apresentam infecção grave.
Em 2016, o Aedes aegypti, que fora erradicado do Brasil em 1955, infectou 1,9 milhão de pessoas, provocando 794 óbitos, segundo dados do Ministério da Saúde. Foram registrados 1,5 milhão de casos de dengue com 629 mortes, segundo maior número desde 1990, quando os dados começaram a ser compilados. A chicungunha, identificada pela primeira vez no Brasil em 2014, registrou 265 mil casos, com 150 mortes, aumento de mais de 1.000% em relação ao ano anterior, que computou 14 mortes. Já a zika, detectada por aqui em abril de 2015, registrou 214 mil casos com seis mortes.
No caso do zika vírus, apesar do número de óbitos ser pequeno, as consequências em termos de saúde pública são mais graves, devido aos problemas de má formação dos fetos. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), até outubro do ano passado o Brasil somava 2,1 mil bebês nascidos com microcefalia associada ao zika vírus, enquanto o Ministério da Saúde admitia a existência de outros três mil casos suspeitos em análise. Além da microcefalia congênita, o vírus, que tem preferência pelo sistema nervoso central, pode provocar meningite, encefalite e Síndrome de Guillain-Barré, paralisia que chega a atingir todos os músculos.
O Brasil ocupa, no contexto mundial, a 112ª posição em um ranking de saneamento básico que engloba 200 países. De acordo com estatísticas baseadas na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), as ausências de funcionários que tiveram sintomas de infecção gastrointestinal representam por ano a perda de 849 mil dias de trabalho. Estima-se que ao ano as empresas gastam 1 bilhão de reais em horas pagas não trabalhadas, dinheiro que, segundo o estudo, poderia ser revertido em investimentos e contratações. A universalização dos serviços de água e esgoto poderia reduzir em 23% o total de dias de afastamento por diarreia, diminuindo o custo das empresas em 258 milhões de reais.
A pesquisa apontou ainda que os trabalhadores sem acesso à coleta de esgoto ganham salários, em média, 10% inferiores aos daqueles com as mesmas condições de empregabilidade. Além disso, a universalização do saneamento poderia diminuir em 7% o atraso escolar, com reflexos no ganho de produtividade e aumento na remuneração futura. No entanto, a nossa realidade é outra: dados do Censo Escolar 2013, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostram que só 36% das escolas públicas têm esgoto encanado — mais da metade delas contam apenas com uma fossa...
Assinar:
Comentários (Atom)