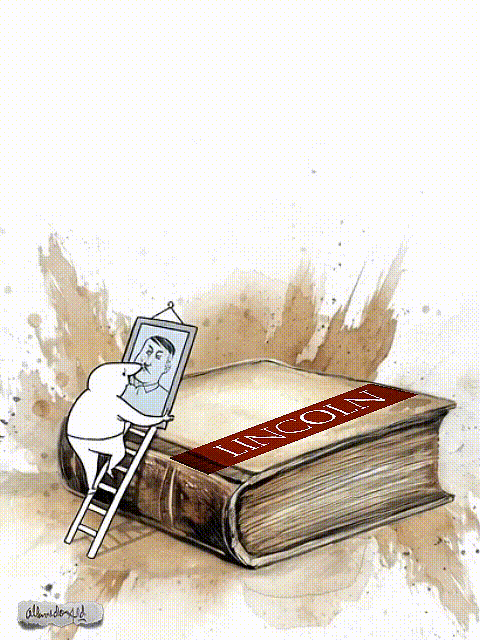sábado, 25 de outubro de 2025
Um país que parece não querer existir
Euclides da Cunha foi não apenas o grande ensaísta de Os Sertões; foi também um exímio analista político e um pensador que enxergava longe. É dele esta expressiva reflexão: “Somos um caso único de um país formado por uma teoria política. Estávamos destinados a formar uma raça histórica, através de um longo curso de existência política autônoma. Violada a ordem natural dos fatos, a nossa integridade étnica teria de constituir-se e manter-se garantida pela evolução social. Condenávamos à civilização. Ou progredir ou desaparecer”. Atualmente, só meia dúzia de obtusos ignoram que “nossa integridade étnica” está constituída. A maioria de nossa população é miscigenada. Nem pretos nem brancos. Pardos, na terminologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cabe, no entanto, a dúvida: queremos mesmo formar uma “raça histórica”, ou seja, um país de verdade, uma civilização? Muitos fatos levam-nos a cogitar a hipótese contrária. Às vezes penso que não temos uma identidade nacional e não queremos ser um país com consistência própria. Que nosso desejo mais profundo seria afundar no mar.
Considerando que a nação mais rica do mundo, sob Donald Trump, desandou a flertar com o declínio, a hipótese nada tem de absurda. Menos absurda ainda se deitarmos uma vista d’olhos à Argentina, que chegou a ultrapassar vários países da Europa e atualmente se arrasta, como nós, numa “apagada e vil tristeza”.
Relembremos outros fatos internacionais pertinentes. Setenta anos atrás, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a China continental era um país atrasado. Fizera sua revolução, rompera relações com a URSS, mas ainda não projetara um futuro de grande potência. Poucos dias atrás, anunciou um feito tecnológico extraordinário. Testou um engenho ferroviário – um trem – que corre sobre trilhos, mas sem tocá-los. Uma camada magnética o mantém sobre trilhos, mas suspenso, o que lhe permite atingir a velocidade de 600 quilômetros por hora. Como não sentir uma ponta de tristeza ao ler tal notícia e lembrar que a ligação São Paulo-Rio de Janeiro pelo trem-bala da “presidenta” Dilma Rousseff nunca saiu do papel? Dito de outro modo, acabamos com o pouco que tínhamos e nada fizemos de novo. Entupimos as grandes cidades de automóveis, já antevendo um dia em que as ruas se tornarão intransitáveis.
Vejamos outro aspecto: a educação. Despreocupe-se o prezado leitor, não vou insistir no fato de não termos uma universidade entre as cem melhores do mundo. Volto a 1944, a Reforma Capanema, uma das falcatruas da era Vargas. Foi por meio daquela reforma que se criaram as Escolas Técnicas de Comércio, com a função de conferir às famílias daquilo que chamamos de “baixa classe média” diplomas supostamente equiparáveis aos dos “ginásios”, cujas anuidades não estavam ao alcance de suas magras bolsas. Além de distribuir diplomas, o que essas escolas fizeram foi petrificar a distância entre a classe média “alta” e as “baixas”. Os despojados da vida tinham a vantagem adicional de poderem estudar à noite e trabalhar durante o dia. Batiam o ponto de entrada às 8 horas da manhã, o de saída às 18 horas, comiam uma rápida empada na esquina e tratavam de chegar a tempo à aula das 19 horas. Em outras áreas, os governos que temos tido talvez sejam razoáveis, mas confio em que os especialistas em educação me farão a gentileza de corrigir e atualizar o que acima se expôs.
A questão que tão cedo não se calará é quem, afinal, manda neste país. Sim, somos uma democracia, as instituições parecem funcionar. Temos há dois séculos a divisão entre Três Poderes recomendada por Montesquieu. Mas instituições, como sabemos, são uma superestrutura que pode ou não ser efetiva, dependendo de como são insculpidas no arcabouço constitucional e do comportamento dos titulares que se revezam em sua titularidade. Dia sim e outro também, os jornais nos informam que centenas de juízes e procuradores auferem salários vastamente superiores ao teto estipulado em lei. Na magna questão da desigualdade de renda e riqueza, o que vemos é menos do que pouco, nem poderia ser diferente, considerando que nossa renda per capita permanece estagnada naqueles aviltantes 2,5% anuais.
Qual é, então, a “teoria política” que nos plasmou, segundo o enunciado de Euclides da Cunha? A de uma “classe média” que mal se preocupa em perscrutar seus interesses de médio prazo, se no curto consegue se aboletar em cargos públicos? A de um “Centrão” que não é um partido político, mas é forte o suficiente para impedir a formação de partidos confiáveis e consistentes? O nome desse quadro só pode ser estagnação, retrocesso. Desde o movimento armado que desfechou o movimento denominado Revolução de 1930 e deu continuidade a uma industrialização razoável, mas não espetacular, como volta e meia se apregoa, o resultado é o que salta aos olhos: uma minúscula elite garroteando a riqueza nacional; uma classe média esquálida, devidamente incrustada na máquina do Estado, eis que desprovida de bases para crescer, e um amazonas de miseráveis, ex-escravos, desempregados e analfabetos.
Considerando que a nação mais rica do mundo, sob Donald Trump, desandou a flertar com o declínio, a hipótese nada tem de absurda. Menos absurda ainda se deitarmos uma vista d’olhos à Argentina, que chegou a ultrapassar vários países da Europa e atualmente se arrasta, como nós, numa “apagada e vil tristeza”.
Relembremos outros fatos internacionais pertinentes. Setenta anos atrás, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a China continental era um país atrasado. Fizera sua revolução, rompera relações com a URSS, mas ainda não projetara um futuro de grande potência. Poucos dias atrás, anunciou um feito tecnológico extraordinário. Testou um engenho ferroviário – um trem – que corre sobre trilhos, mas sem tocá-los. Uma camada magnética o mantém sobre trilhos, mas suspenso, o que lhe permite atingir a velocidade de 600 quilômetros por hora. Como não sentir uma ponta de tristeza ao ler tal notícia e lembrar que a ligação São Paulo-Rio de Janeiro pelo trem-bala da “presidenta” Dilma Rousseff nunca saiu do papel? Dito de outro modo, acabamos com o pouco que tínhamos e nada fizemos de novo. Entupimos as grandes cidades de automóveis, já antevendo um dia em que as ruas se tornarão intransitáveis.
Vejamos outro aspecto: a educação. Despreocupe-se o prezado leitor, não vou insistir no fato de não termos uma universidade entre as cem melhores do mundo. Volto a 1944, a Reforma Capanema, uma das falcatruas da era Vargas. Foi por meio daquela reforma que se criaram as Escolas Técnicas de Comércio, com a função de conferir às famílias daquilo que chamamos de “baixa classe média” diplomas supostamente equiparáveis aos dos “ginásios”, cujas anuidades não estavam ao alcance de suas magras bolsas. Além de distribuir diplomas, o que essas escolas fizeram foi petrificar a distância entre a classe média “alta” e as “baixas”. Os despojados da vida tinham a vantagem adicional de poderem estudar à noite e trabalhar durante o dia. Batiam o ponto de entrada às 8 horas da manhã, o de saída às 18 horas, comiam uma rápida empada na esquina e tratavam de chegar a tempo à aula das 19 horas. Em outras áreas, os governos que temos tido talvez sejam razoáveis, mas confio em que os especialistas em educação me farão a gentileza de corrigir e atualizar o que acima se expôs.
A questão que tão cedo não se calará é quem, afinal, manda neste país. Sim, somos uma democracia, as instituições parecem funcionar. Temos há dois séculos a divisão entre Três Poderes recomendada por Montesquieu. Mas instituições, como sabemos, são uma superestrutura que pode ou não ser efetiva, dependendo de como são insculpidas no arcabouço constitucional e do comportamento dos titulares que se revezam em sua titularidade. Dia sim e outro também, os jornais nos informam que centenas de juízes e procuradores auferem salários vastamente superiores ao teto estipulado em lei. Na magna questão da desigualdade de renda e riqueza, o que vemos é menos do que pouco, nem poderia ser diferente, considerando que nossa renda per capita permanece estagnada naqueles aviltantes 2,5% anuais.
Qual é, então, a “teoria política” que nos plasmou, segundo o enunciado de Euclides da Cunha? A de uma “classe média” que mal se preocupa em perscrutar seus interesses de médio prazo, se no curto consegue se aboletar em cargos públicos? A de um “Centrão” que não é um partido político, mas é forte o suficiente para impedir a formação de partidos confiáveis e consistentes? O nome desse quadro só pode ser estagnação, retrocesso. Desde o movimento armado que desfechou o movimento denominado Revolução de 1930 e deu continuidade a uma industrialização razoável, mas não espetacular, como volta e meia se apregoa, o resultado é o que salta aos olhos: uma minúscula elite garroteando a riqueza nacional; uma classe média esquálida, devidamente incrustada na máquina do Estado, eis que desprovida de bases para crescer, e um amazonas de miseráveis, ex-escravos, desempregados e analfabetos.
Proselitismo eletrônico
Mesmo com o inquestionável avanço da internet, podemos afirmar que a televisão aberta continua sendo um dos meios de informação e entretenimento mais democráticos e acessíveis à população brasileira. Democrático em essência, dado que as emissoras atuam mediante concessão de um serviço público. Não por acaso, precisam seguir regras e determinações condizentes com um Estado Democrático de Direito e de sua Constituição Federal, que o caracteriza como laico.
A prerrogativa da liberdade que define o regime de governo brasileiro se estende ao campo religioso. Dessa maneira, é contraditório que emissoras sigam operando mesmo depois de vender grande parte de seu tempo de programação para igrejas de uma mesma vertente de crença. Essa apropriação do conteúdo televisivo torna-se ainda mais problemática quando notadamente percebemos que aquilo que seria, a princípio, uma questão de fé, se transfigura em influência política.
Na esteira dessas distorções, foi aprovado, em 2022, o Projeto de Lei nº 5479/2019, que resultou na Lei nº 14.408/2022. Ela assegura às emissoras a possibilidade de vender até a totalidade de sua programação para a produção independente, desde que mantenham o controle sobre a qualidade do que é veiculado. Antes havia a instrução do Ministério Público de que conteúdos como o religioso se enquadravam como publicitários, o que os limitava a até 25% do espaço passível de ser comercializado pelos canais. A nova lei restringe o conceito de publicidade à promoção de produtos e serviços e de marca e imagem de empresas. Com isso, a venda de tempo televisivo para instituições religiosas, ironicamente, tornou-se ilimitada.
Antes dessa virada de mesa, algumas emissoras se viam ameaçadas de perder suas concessões por descumprir o teor da legislação então vigente, ultrapassando o teto na cessão de tempo de veiculação para igrejas. Os canais já argumentavam que não se tratava de venda de espaço para publicidade comercial, pleiteando que programas religiosos não poderiam ser comparados a um conteúdo de cunho mercadológico. Muitas decisões judiciais embarcaram nessa tese e, assim, deixaram de punir as emissoras por descumprimento das regras. A Lei nº 14.408/2022 chancelou, portanto, esse entendimento.
Vamos, então, retomar alguns aspectos cruciais para compreender as violações implicadas nessa trama. Já chamei a atenção para o caráter laico do Estado, que é corrompido quando um dos serviços prestados à população se destina, em sua grande maioria, a uma mesma vertente religiosa, subvertendo o princípio da laicidade.
É preciso destacar também que, em alguns casos, a receita proveniente desses programas religiosos consiste no grosso substancial de arrecadação da emissora, o que, em grande medida, torna nebulosa a justificativa de que não se trata de conteúdo comercial. Se não o é estritamente em natureza conteudística, não o deixa de ser em finalidade orçamentária.
Há, também, uma questão bastante delicada nesse imbróglio, que transcende a esfera do propósito espiritual ou de crença – o qual seria ou deveria ser o intento último de um programa de tevê dessa natureza. Levantamento recente do UOL puxou o fio de interferências de parlamentares diretamente interessados na aprovação do Projeto de Lei que passou a permitir maiores porcentuais de cessão de espaços televisivos para programas religiosos. Trata-se de um lobby no Congresso que, segundo a reportagem do portal, envolveu políticos ligados a igrejas e contou até mesmo com o apoio da Associação Brasileira de Rádio e Televisão.
Quando o discurso da fé deliberadamente invade o terreno dos ideais e interesses políticos, sem contar os econômicos, o golpe imposto aos preceitos de um Estado Democrático de Direito é ainda mais profundo.
Esse balaio de conveniências ganha novos contornos ardilosos com as recentes aproximações de pregadores evangélicos norte-americanos com pastores brasileiros. A ideologia do trumpismo busca, assim, avançar pelos flancos da fé. Nessa empreitada, pode congregar aliados que tenham, a seu dispor, um espaço televisivo privilegiado, que nunca deveria ser destinado à pregação política.
Para os que creem, legitimamente, em alguma vertente de evolução espiritual, trata-se de um mau uso da palavra. Para todos os brasileiros, indistintamente, significa mais uma afronta ao Estado Democrático de Direito.
A prerrogativa da liberdade que define o regime de governo brasileiro se estende ao campo religioso. Dessa maneira, é contraditório que emissoras sigam operando mesmo depois de vender grande parte de seu tempo de programação para igrejas de uma mesma vertente de crença. Essa apropriação do conteúdo televisivo torna-se ainda mais problemática quando notadamente percebemos que aquilo que seria, a princípio, uma questão de fé, se transfigura em influência política.
Na esteira dessas distorções, foi aprovado, em 2022, o Projeto de Lei nº 5479/2019, que resultou na Lei nº 14.408/2022. Ela assegura às emissoras a possibilidade de vender até a totalidade de sua programação para a produção independente, desde que mantenham o controle sobre a qualidade do que é veiculado. Antes havia a instrução do Ministério Público de que conteúdos como o religioso se enquadravam como publicitários, o que os limitava a até 25% do espaço passível de ser comercializado pelos canais. A nova lei restringe o conceito de publicidade à promoção de produtos e serviços e de marca e imagem de empresas. Com isso, a venda de tempo televisivo para instituições religiosas, ironicamente, tornou-se ilimitada.
Antes dessa virada de mesa, algumas emissoras se viam ameaçadas de perder suas concessões por descumprir o teor da legislação então vigente, ultrapassando o teto na cessão de tempo de veiculação para igrejas. Os canais já argumentavam que não se tratava de venda de espaço para publicidade comercial, pleiteando que programas religiosos não poderiam ser comparados a um conteúdo de cunho mercadológico. Muitas decisões judiciais embarcaram nessa tese e, assim, deixaram de punir as emissoras por descumprimento das regras. A Lei nº 14.408/2022 chancelou, portanto, esse entendimento.
Vamos, então, retomar alguns aspectos cruciais para compreender as violações implicadas nessa trama. Já chamei a atenção para o caráter laico do Estado, que é corrompido quando um dos serviços prestados à população se destina, em sua grande maioria, a uma mesma vertente religiosa, subvertendo o princípio da laicidade.
É preciso destacar também que, em alguns casos, a receita proveniente desses programas religiosos consiste no grosso substancial de arrecadação da emissora, o que, em grande medida, torna nebulosa a justificativa de que não se trata de conteúdo comercial. Se não o é estritamente em natureza conteudística, não o deixa de ser em finalidade orçamentária.
Há, também, uma questão bastante delicada nesse imbróglio, que transcende a esfera do propósito espiritual ou de crença – o qual seria ou deveria ser o intento último de um programa de tevê dessa natureza. Levantamento recente do UOL puxou o fio de interferências de parlamentares diretamente interessados na aprovação do Projeto de Lei que passou a permitir maiores porcentuais de cessão de espaços televisivos para programas religiosos. Trata-se de um lobby no Congresso que, segundo a reportagem do portal, envolveu políticos ligados a igrejas e contou até mesmo com o apoio da Associação Brasileira de Rádio e Televisão.
Quando o discurso da fé deliberadamente invade o terreno dos ideais e interesses políticos, sem contar os econômicos, o golpe imposto aos preceitos de um Estado Democrático de Direito é ainda mais profundo.
Esse balaio de conveniências ganha novos contornos ardilosos com as recentes aproximações de pregadores evangélicos norte-americanos com pastores brasileiros. A ideologia do trumpismo busca, assim, avançar pelos flancos da fé. Nessa empreitada, pode congregar aliados que tenham, a seu dispor, um espaço televisivo privilegiado, que nunca deveria ser destinado à pregação política.
Para os que creem, legitimamente, em alguma vertente de evolução espiritual, trata-se de um mau uso da palavra. Para todos os brasileiros, indistintamente, significa mais uma afronta ao Estado Democrático de Direito.
Um desejo chamado eléctrico
O destino era o Minho. A origem, Lisboa. Tudo parecia simples: íamos de boleia, viajando em família, numa economia de combustível e de consciência. Mas o que eu não sabia é que esse destino seria afinal uma sina. O que parecia ser uma excursão como tantas outras, um trajecto percorrido inúmeras vezes, transformou-se numa ode à perseverança. E ao tédio.
O carro dos meus parentes era eléctrico. Porém, chamar-lhe assim é pouco. Este é um daqueles casos em que, por decência filológica, o adjectivo deve converter-se em substantivo. Exacto, o carro era, na realidade, um Eléctrico, com maiúscula. Movia-se lento e cerimonioso como os transportes de antigamente, dependente de paragens obrigatórias, impondo ao tripulante uma cadência mais contemplativa do que funcional. O que seria símbolo de avanço tecnológico transformava-se em objecto poético do passado. E a viagem numa romaria penitencial movida a watts e introspecção.
Em vez da A1, escolhemos a A8. Porque “há menos trânsito”, porque “terá, com certeza, bons carregadores”. Ah, o optimismo! Esse desacerto português que nos faz acreditar no inalcançável. O trânsito era avassalador, e o optimismo energético durou apenas até à Área de Serviço da Vagos, onde o carregador de automóveis estava ocupado por dois outros fiéis, dois amigos que também viajavam juntos. Ficámos ali, feitos peregrinos, à espera do futuro que carregava sem pressas.
A meia hora de espera custava a passar. Comprei jornais que ainda não tinha lido e li-os de uma ponta a outra. Adquiriram-se salgadinhos e bebidas como puro entretém. (Quanto café é socialmente aceitável pedir enquanto se aguarda por um desfecho?) Os miúdos trepavam ao telheiro do parque de merendas da bomba de gasolina, desafiando as leis da gravidade e da responsabilidade parental. Quando finalmente chegou a nossa vez, confirmámos com serenidade o óbvio: o carregador era dos lentos — dos muito lentos — e antecipava cinco horas e meia para atingir uma percentagem aceitável. A ironia da situação apontava-nos o dedo com uma mão e tapava as gargalhadas com a outra. E aquela jornada eléctrica era o futuro a devolver-nos o tempo humano.
Era preciso um carregador dos rápidos. A aplicação dizia: Vagos. E Vagos foi o nome inscrito no túmulo da modernidade.
Abandonámos a auto-estrada e entrámos na Nacional. O século XXI acabava na saída 13, e Ponte de Vagos era o nome que marcava a passagem para outro tempo, talvez para 1988. Naquelas curvas redescobríamos os montes, as feiras, os cães vadios, o país dos cartazes a dizer “vende-se lenha” ou “aluga-se quarto”, gente na paragem da camioneta. Portugal, um pouco por todo o lado, voltava a ser enorme e, pela primeira vez em muito tempo, um pouco trágico também. Sentado no banco de trás, eu contentava-me com aquele pequeno concentrado de validação de todas as minhas implicações tecnológicas. Sou uma alma simples.
Em Vagos, junto a uma Alves Bandeira (essa gasolineira fascinante que só existe no Portugal B), ligámos a viatura à esperança de nos pormos a andar o mais depressa possível dali para fora. Mas ainda vimos a segunda parte do Benfica, experimentámos o sabor do pão da Beira Litoral e, num momento de superstição colectiva, como quem exige explicações à ventura, jogámos no Totoloto.
Restabelecidos, abandonámos a simpática localidade, mas o meu cunhado, exausto, entregou-me o volante. Era como se abandonasse a fé que um dia tivera no progresso, resignado a simulá-la: — “A questão tem que ver com uma peça que permite que os carregadores arrefeçam rápido quando se desliga o carro. Aí sim o carregamento é mais eficaz.”, dizia-nos ele.
Conduzi a não mais de cem à hora, vendo os faróis que nos ultrapassavam devagarinho. Pensei: eis o futuro – uma estrada silenciosa, carros bondosos e condutores sonâmbulos, como numa fila de racionamento, obedientes à lentidão disciplinada de um mundo alísio.
Naquele ritmo hipnótico, sob o zumbido do motor, enquanto a bateria descia dos 60 para os 59%, apercebi-me de uma coisa que Chesterton teria amado: os homens preferem ser conduzidos a serem livres. Humildes e mansos, estamos a prepararmo-nos para mais uma dessas derradeiras loucuras da espécie que pululam pelo século. Desta vez será o dia em que os carros se conduzirão sozinhos. Quando esse dia chegar — está quase — teremos saudades destes eléctricos. Pensaremos neles como máquinas que anunciavam o futuro apenas para nos devolver, pacientes, a lentidão antiga das coisas; e que nos levavam para trás, de volta à infância do mundo.
O carro dos meus parentes era eléctrico. Porém, chamar-lhe assim é pouco. Este é um daqueles casos em que, por decência filológica, o adjectivo deve converter-se em substantivo. Exacto, o carro era, na realidade, um Eléctrico, com maiúscula. Movia-se lento e cerimonioso como os transportes de antigamente, dependente de paragens obrigatórias, impondo ao tripulante uma cadência mais contemplativa do que funcional. O que seria símbolo de avanço tecnológico transformava-se em objecto poético do passado. E a viagem numa romaria penitencial movida a watts e introspecção.
Em vez da A1, escolhemos a A8. Porque “há menos trânsito”, porque “terá, com certeza, bons carregadores”. Ah, o optimismo! Esse desacerto português que nos faz acreditar no inalcançável. O trânsito era avassalador, e o optimismo energético durou apenas até à Área de Serviço da Vagos, onde o carregador de automóveis estava ocupado por dois outros fiéis, dois amigos que também viajavam juntos. Ficámos ali, feitos peregrinos, à espera do futuro que carregava sem pressas.
A meia hora de espera custava a passar. Comprei jornais que ainda não tinha lido e li-os de uma ponta a outra. Adquiriram-se salgadinhos e bebidas como puro entretém. (Quanto café é socialmente aceitável pedir enquanto se aguarda por um desfecho?) Os miúdos trepavam ao telheiro do parque de merendas da bomba de gasolina, desafiando as leis da gravidade e da responsabilidade parental. Quando finalmente chegou a nossa vez, confirmámos com serenidade o óbvio: o carregador era dos lentos — dos muito lentos — e antecipava cinco horas e meia para atingir uma percentagem aceitável. A ironia da situação apontava-nos o dedo com uma mão e tapava as gargalhadas com a outra. E aquela jornada eléctrica era o futuro a devolver-nos o tempo humano.
Era preciso um carregador dos rápidos. A aplicação dizia: Vagos. E Vagos foi o nome inscrito no túmulo da modernidade.
Abandonámos a auto-estrada e entrámos na Nacional. O século XXI acabava na saída 13, e Ponte de Vagos era o nome que marcava a passagem para outro tempo, talvez para 1988. Naquelas curvas redescobríamos os montes, as feiras, os cães vadios, o país dos cartazes a dizer “vende-se lenha” ou “aluga-se quarto”, gente na paragem da camioneta. Portugal, um pouco por todo o lado, voltava a ser enorme e, pela primeira vez em muito tempo, um pouco trágico também. Sentado no banco de trás, eu contentava-me com aquele pequeno concentrado de validação de todas as minhas implicações tecnológicas. Sou uma alma simples.
Em Vagos, junto a uma Alves Bandeira (essa gasolineira fascinante que só existe no Portugal B), ligámos a viatura à esperança de nos pormos a andar o mais depressa possível dali para fora. Mas ainda vimos a segunda parte do Benfica, experimentámos o sabor do pão da Beira Litoral e, num momento de superstição colectiva, como quem exige explicações à ventura, jogámos no Totoloto.
Restabelecidos, abandonámos a simpática localidade, mas o meu cunhado, exausto, entregou-me o volante. Era como se abandonasse a fé que um dia tivera no progresso, resignado a simulá-la: — “A questão tem que ver com uma peça que permite que os carregadores arrefeçam rápido quando se desliga o carro. Aí sim o carregamento é mais eficaz.”, dizia-nos ele.
Conduzi a não mais de cem à hora, vendo os faróis que nos ultrapassavam devagarinho. Pensei: eis o futuro – uma estrada silenciosa, carros bondosos e condutores sonâmbulos, como numa fila de racionamento, obedientes à lentidão disciplinada de um mundo alísio.
Naquele ritmo hipnótico, sob o zumbido do motor, enquanto a bateria descia dos 60 para os 59%, apercebi-me de uma coisa que Chesterton teria amado: os homens preferem ser conduzidos a serem livres. Humildes e mansos, estamos a prepararmo-nos para mais uma dessas derradeiras loucuras da espécie que pululam pelo século. Desta vez será o dia em que os carros se conduzirão sozinhos. Quando esse dia chegar — está quase — teremos saudades destes eléctricos. Pensaremos neles como máquinas que anunciavam o futuro apenas para nos devolver, pacientes, a lentidão antiga das coisas; e que nos levavam para trás, de volta à infância do mundo.
Ameaça ao jornalismo e amplificação da desigualdade informacional
O termo “Google Zero” vem sendo usado por editoras nos Estados Unidos e no Reino Unido para descrever um fenômeno que pode redefinir o jornalismo digital global: a queda drástica no tráfego de sites após a introdução de ferramentas de busca baseadas em inteligência artificial (IA).
Com os novos AI Overviews, o Google passou a exibir resumos completos de notícias e análises diretamente na página de resultados, sem que o leitor precise clicar nos links originais. Segundo o relatório Enders Analysis (2025), editoras britânicas registraram queda de até 80% no tráfego desde 2019, enquanto veículos norte-americanos relatam reduções superiores a 50%.
As causas combinam mudanças de algoritmo, colapso das estratégias de SEO e alterações no comportamento do público, que agora espera respostas instantâneas e com jovens leitores migrando para plataformas como TikTok e Reddit, onde o consumo é mediado por algoritmos e comunidades segmentadas.
Na América Latina, o cenário é ainda mais preocupante. Redações independentes e comunitárias, especialmente aquelas lideradas por jornalistas negros, indígenas e periféricos, não têm infraestrutura para competir por visibilidade nos ecossistemas de IA nem garantias de que seus conteúdos serão citados ou remunerados. No Brasil, em um país historicamente marcado por desigualdades raciais e territoriais, o “Google Zero” amplifica um problema antigo: a exclusão de vozes diversas da esfera pública.
Isso resulta em um duplo apagamento informacional: exclusão dos resultados de busca e apropriação de narrativas locais por sistemas automatizados sem reconhecimento de autoria. Sem políticas públicas, regulação de dados jornalísticos e incentivo à inovação, o Brasil corre o risco de aprofundar a dependência de intermediários que decidem, a partir de seus próprios interesses, quem merece ser ouvido.
É fundamental compreender que não existem vilões ou heróis absolutos nesse processo. O Google e o ChatGPT representam faces diferentes do mesmo desafio: a intermediação automatizada da informação. Em ambos os casos, a inteligência artificial não é a causa da crise do jornalismo, mas um espelho que torna suas fragilidades mais visíveis.
O verdadeiro problema está na concentração de poder e de recursos em poucas plataformas que determinam o que circula e o que desaparece. Encarar a IA como inimiga apenas desloca o foco: o desafio real é garantir que essas tecnologias sirvam ao interesse público, respeitem a autoria e ampliem a diversidade de vozes no espaço informacional.
O jornalismo que sobreviverá será aquele que reconstrói vínculos de confiança com as comunidades e reafirma o valor humano em um ecossistema automatizado. Como alerta o relatório The Age of AI in the Newsroom (2025), o futuro da informação dependerá da capacidade de produzir conteúdo original, relevante e socialmente enraizado.
Com os novos AI Overviews, o Google passou a exibir resumos completos de notícias e análises diretamente na página de resultados, sem que o leitor precise clicar nos links originais. Segundo o relatório Enders Analysis (2025), editoras britânicas registraram queda de até 80% no tráfego desde 2019, enquanto veículos norte-americanos relatam reduções superiores a 50%.
As causas combinam mudanças de algoritmo, colapso das estratégias de SEO e alterações no comportamento do público, que agora espera respostas instantâneas e com jovens leitores migrando para plataformas como TikTok e Reddit, onde o consumo é mediado por algoritmos e comunidades segmentadas.
Na América Latina, o cenário é ainda mais preocupante. Redações independentes e comunitárias, especialmente aquelas lideradas por jornalistas negros, indígenas e periféricos, não têm infraestrutura para competir por visibilidade nos ecossistemas de IA nem garantias de que seus conteúdos serão citados ou remunerados. No Brasil, em um país historicamente marcado por desigualdades raciais e territoriais, o “Google Zero” amplifica um problema antigo: a exclusão de vozes diversas da esfera pública.
Isso resulta em um duplo apagamento informacional: exclusão dos resultados de busca e apropriação de narrativas locais por sistemas automatizados sem reconhecimento de autoria. Sem políticas públicas, regulação de dados jornalísticos e incentivo à inovação, o Brasil corre o risco de aprofundar a dependência de intermediários que decidem, a partir de seus próprios interesses, quem merece ser ouvido.
É fundamental compreender que não existem vilões ou heróis absolutos nesse processo. O Google e o ChatGPT representam faces diferentes do mesmo desafio: a intermediação automatizada da informação. Em ambos os casos, a inteligência artificial não é a causa da crise do jornalismo, mas um espelho que torna suas fragilidades mais visíveis.
O verdadeiro problema está na concentração de poder e de recursos em poucas plataformas que determinam o que circula e o que desaparece. Encarar a IA como inimiga apenas desloca o foco: o desafio real é garantir que essas tecnologias sirvam ao interesse público, respeitem a autoria e ampliem a diversidade de vozes no espaço informacional.
O jornalismo que sobreviverá será aquele que reconstrói vínculos de confiança com as comunidades e reafirma o valor humano em um ecossistema automatizado. Como alerta o relatório The Age of AI in the Newsroom (2025), o futuro da informação dependerá da capacidade de produzir conteúdo original, relevante e socialmente enraizado.
Gaza: a trégua que nunca chega
A tão anunciada interrupção da guerra no território palestiniano revelou-se, mais uma vez, uma ilusão diplomática. Apesar dos comunicados triunfais e das fotografias cuidadosamente encenadas nas capitais ocidentais, o som das explosões continua a ecoar sobre as ruínas de um território exausto, onde a população civil tenta sobreviver entre promessas de cessar-fogo e a brutalidade quotidiana das operações militares. A retórica da paz transformou-se, neste conflito, num instrumento político — não numa realidade no terreno.
Nas últimas semanas, governos e organismos internacionais celebraram o que chamaram de “pausa humanitária”, fruto de negociações entre Israel, mediadores regionais e a Organização das Nações Unidas. Contudo, como sublinhou António Guterres, Secretário-Geral da ONU, o que se observa em Gaza está longe de constituir uma trégua autêntica: os bombardeamentos prosseguem em várias zonas, os corredores humanitários funcionam de forma intermitente e a ajuda que entra permanece manifestamente insuficiente perante a catástrofe em curso.
A dimensão prática dessa limitação é devastadora. Agências humanitárias e organismos das Nações Unidas relatam que o fluxo de alimentos, água, combustível e medicamentos está muito aquém do necessário. Muitos camiões ficam horas retidos nos controlos fronteiriços ou são desviados, e o acesso a Gaza City e às áreas do Norte continua severamente restringido. Sem corredores seguros e sem garantias de distribuição, o auxílio transforma-se em imagens e estatísticas — não em socorro real às famílias encurraladas.
Politicamente, o suposto compasso de alívio está refém de interesses contraditórios. A intervenção diplomática de Washington, fortemente influenciada por Donald Trump, construiu uma narrativa ambígua: por um lado, exalta-se a negociação que permitiu a libertação de reféns e a abertura limitada de rotas de ajuda; por outro, declarações sobre a Cisjordânia — incluindo o anúncio do presidente norte-americano de que não permitirá uma anexação formal — misturam-se a gestos que alimentam desconfianças regionais. Essa ambivalência mina qualquer consolidação de confiança: a diplomacia que proclama paz, enquanto impõe condições territoriais, inviabiliza um acordo duradouro.
No interior de Israel, a dinâmica política agrava o impasse. O governo de Benjamin Netanyahu equilibra pressões internas — vindas da direita mais dura e das suas coligações — com advertências externas quanto aos riscos humanitários e diplomáticos.
A narrativa oficial de “eliminar a ameaça” do Hamas serve de justificação para operações de larga escala; o resultado é a destruição de infraestruturas civis e um êxodo interno que as agências internacionais descrevem como cataclísmico. As necessidades de reconstrução já atingem proporções que apenas a ONU e as organizações humanitárias conseguem dimensionar, enquanto as promessas de apoio revelam-se incapazes de restaurar os serviços básicos.
A ONU é taxativa: é imprescindível uma cessação duradoura das hostilidades e mecanismos verificáveis que protejam civis e assegurem a assistência. As palavras de Guterres — elogiando os avanços diplomáticos, mas exigindo cumprimento e escala da ajuda — revelam uma contradição estrutural do sistema internacional: há vontade declarada, mas faltam instrumentos de garantia e pressão efectiva sobre os actores que controlam fronteiras e rotas de abastecimento.
Que medidas urgem para que este interregno não se reduza a propaganda? Em primeiro lugar, a criação de corredores humanitários realmente seguros, supervisionados por observadores independentes e com acesso incondicional das agências.
Em segundo, um compromisso público e verificável para multiplicar as entregas diárias — para além das promessas — e assegurar que combustível e insumos médicos cheguem sem entraves.
Em terceiro, uma acção diplomática coordenada — europeia e multilateral — que vá além das declarações: sanções direccionadas, condicionamento de apoios militares e vetos operacionais devem ser considerados instrumentos legítimos de protecção de civis.
Por fim, é indispensável iniciar um processo político que enfrente as causas estruturais do conflito: a ocupação, os bloqueios e a ausência de um quadro credível para a paz. Sem isso, qualquer pausa humanitária será apenas um prelúdio para nova escalada.
Em Gaza, as pessoas não vivem — resistem. A promessa de um alívio temporário converteu-se num instrumento de propaganda útil a governos que necessitam demonstrar sensibilidade enquanto preservam intactos os alicerces da guerra. E, enquanto se negoceia cada transporte de farinha, cada litro de combustível, cada evacuação médica, a trégua continua a ser apenas uma palavra — uma miragem num deserto de cinzas.
Falar de Gaza impõe uma questão ética inescapável: trata-se de um conflito a ser observado à distância ou de uma realidade que exige acção efectiva da comunidade internacional? A resposta requer determinação política — para condenar violações do direito internacional, exigir responsabilização e orientar as políticas externas segundo a defesa da vida humana. Sem essa coragem, qualquer cessar-fogo não passará de uma encenação momentânea de esperança, enquanto a tragédia prossegue no silêncio devastador das cidades em ruínas.
O conflito no território palestiniano é hoje o espelho de um mundo onde a moral se mede pela conveniência política. Israel insiste em que luta pela sua segurança; os Estados Unidos afirmam que procuram estabilidade; a ONU pede o impossível; e a Europa observa, dividida, o colapso de mais uma promessa de paz. O resultado é uma tragédia em câmara lenta, onde o cessar-fogo nunca cessa e a paz é sempre adiada.
Nas últimas semanas, governos e organismos internacionais celebraram o que chamaram de “pausa humanitária”, fruto de negociações entre Israel, mediadores regionais e a Organização das Nações Unidas. Contudo, como sublinhou António Guterres, Secretário-Geral da ONU, o que se observa em Gaza está longe de constituir uma trégua autêntica: os bombardeamentos prosseguem em várias zonas, os corredores humanitários funcionam de forma intermitente e a ajuda que entra permanece manifestamente insuficiente perante a catástrofe em curso.
A dimensão prática dessa limitação é devastadora. Agências humanitárias e organismos das Nações Unidas relatam que o fluxo de alimentos, água, combustível e medicamentos está muito aquém do necessário. Muitos camiões ficam horas retidos nos controlos fronteiriços ou são desviados, e o acesso a Gaza City e às áreas do Norte continua severamente restringido. Sem corredores seguros e sem garantias de distribuição, o auxílio transforma-se em imagens e estatísticas — não em socorro real às famílias encurraladas.
Politicamente, o suposto compasso de alívio está refém de interesses contraditórios. A intervenção diplomática de Washington, fortemente influenciada por Donald Trump, construiu uma narrativa ambígua: por um lado, exalta-se a negociação que permitiu a libertação de reféns e a abertura limitada de rotas de ajuda; por outro, declarações sobre a Cisjordânia — incluindo o anúncio do presidente norte-americano de que não permitirá uma anexação formal — misturam-se a gestos que alimentam desconfianças regionais. Essa ambivalência mina qualquer consolidação de confiança: a diplomacia que proclama paz, enquanto impõe condições territoriais, inviabiliza um acordo duradouro.
No interior de Israel, a dinâmica política agrava o impasse. O governo de Benjamin Netanyahu equilibra pressões internas — vindas da direita mais dura e das suas coligações — com advertências externas quanto aos riscos humanitários e diplomáticos.
A narrativa oficial de “eliminar a ameaça” do Hamas serve de justificação para operações de larga escala; o resultado é a destruição de infraestruturas civis e um êxodo interno que as agências internacionais descrevem como cataclísmico. As necessidades de reconstrução já atingem proporções que apenas a ONU e as organizações humanitárias conseguem dimensionar, enquanto as promessas de apoio revelam-se incapazes de restaurar os serviços básicos.
A ONU é taxativa: é imprescindível uma cessação duradoura das hostilidades e mecanismos verificáveis que protejam civis e assegurem a assistência. As palavras de Guterres — elogiando os avanços diplomáticos, mas exigindo cumprimento e escala da ajuda — revelam uma contradição estrutural do sistema internacional: há vontade declarada, mas faltam instrumentos de garantia e pressão efectiva sobre os actores que controlam fronteiras e rotas de abastecimento.
Que medidas urgem para que este interregno não se reduza a propaganda? Em primeiro lugar, a criação de corredores humanitários realmente seguros, supervisionados por observadores independentes e com acesso incondicional das agências.
Em segundo, um compromisso público e verificável para multiplicar as entregas diárias — para além das promessas — e assegurar que combustível e insumos médicos cheguem sem entraves.
Em terceiro, uma acção diplomática coordenada — europeia e multilateral — que vá além das declarações: sanções direccionadas, condicionamento de apoios militares e vetos operacionais devem ser considerados instrumentos legítimos de protecção de civis.
Por fim, é indispensável iniciar um processo político que enfrente as causas estruturais do conflito: a ocupação, os bloqueios e a ausência de um quadro credível para a paz. Sem isso, qualquer pausa humanitária será apenas um prelúdio para nova escalada.
Em Gaza, as pessoas não vivem — resistem. A promessa de um alívio temporário converteu-se num instrumento de propaganda útil a governos que necessitam demonstrar sensibilidade enquanto preservam intactos os alicerces da guerra. E, enquanto se negoceia cada transporte de farinha, cada litro de combustível, cada evacuação médica, a trégua continua a ser apenas uma palavra — uma miragem num deserto de cinzas.
Falar de Gaza impõe uma questão ética inescapável: trata-se de um conflito a ser observado à distância ou de uma realidade que exige acção efectiva da comunidade internacional? A resposta requer determinação política — para condenar violações do direito internacional, exigir responsabilização e orientar as políticas externas segundo a defesa da vida humana. Sem essa coragem, qualquer cessar-fogo não passará de uma encenação momentânea de esperança, enquanto a tragédia prossegue no silêncio devastador das cidades em ruínas.
O conflito no território palestiniano é hoje o espelho de um mundo onde a moral se mede pela conveniência política. Israel insiste em que luta pela sua segurança; os Estados Unidos afirmam que procuram estabilidade; a ONU pede o impossível; e a Europa observa, dividida, o colapso de mais uma promessa de paz. O resultado é uma tragédia em câmara lenta, onde o cessar-fogo nunca cessa e a paz é sempre adiada.
A violência do europeu
Jared Diamond, em “Guns, Germs and Steel” (1997), descreve as causas do desenvolvimento da Europa e o porquê da violência do Europeu. Jared Diamond, na década de 1990, então proveniente das Ciências Biológicas; e Thomas Kuhn, com o seu livro “The Structure of Scientific Revolutions” (1962), na década de 1960, então proveniente das Ciências Físicas, assim como outros; trazem novos enfoques às Ciências Sociais, em notáveis contribuições.
Jared Diamond, tendo ido em 1972 observar pássaros na Nova Guiné para a elaboração de árvores genealógicas, ao andar com Yali, da Nova Guiné, por uma praia, foi perguntado: “Por que vocês, o povo branco, desenvolvem tanto ‘cargo’?” “Cargo” era o termo utilizado pelos habitantes da Nova Guiné para denominar “produtos”, uma vez que nos navios vinha sempre escrito “Cargo”.
A Europa se desenvolveu antes dos outros continentes por três razões. Primeiro, na Europa haviam grãos e animais domesticáveis, como base alimentar para a população. Segundo, a Europa tem menor distância norte-sul do que os outros continentes, como a Ásia, África, América do Norte e América do Sul; com maiores dificuldades para as suas populações migrarem de temperaturas mais frias para as mais quentes durante o inverno; e vice-versa. Terceiro, na maior incidência de germes e doenças do que em outros continentes; e na presença de jazidas de ferro; o Europeu, sem poder escapar às intempéries do tempo e da doença, criou armas e lutou, na busca da sobrevivência; na produção de “cargo”; ou, no que assim percebemos, como na busca da “racionalidade”. O Europeu ficou violento mais do que os povos dos outros continentes.
Se considerarmos o número de mortos em guerras, pelos séculos pelos continentes, é nítida a proeminência Europeia neste indicador. No século XX, por exemplo, com as duas Guerras Mundiais (que, em verdade, foram Guerras Europeias), e demais guerras, o número de mortos na Europa chega a 100 milhões, na Ásia 20 milhões, nos outros continentes em números menores. Em alguns séculos, o número de mortos em guerras na Ásia foi superior ao Europeu, mas, na média, a Europa prevalece.
Lembrando que boa parte das guerras na Ásia, e em outros continentes, foram guerras Europeias, como Alexandre “O Grande” indo para o Oriente, o Império Romano, as Cruzadas, a conquista das Colônias, as guerras na Ásia, as Guerras Mundiais, a extensão das guerras ao Oriente Médio e à África. O mapa assim mostra.
E assim, somos todos produto da Europa e de suas guerras, que não se acalmam até hoje, com consequências sobre todos nós.
“God save the King!”
Jared Diamond, tendo ido em 1972 observar pássaros na Nova Guiné para a elaboração de árvores genealógicas, ao andar com Yali, da Nova Guiné, por uma praia, foi perguntado: “Por que vocês, o povo branco, desenvolvem tanto ‘cargo’?” “Cargo” era o termo utilizado pelos habitantes da Nova Guiné para denominar “produtos”, uma vez que nos navios vinha sempre escrito “Cargo”.
A Europa se desenvolveu antes dos outros continentes por três razões. Primeiro, na Europa haviam grãos e animais domesticáveis, como base alimentar para a população. Segundo, a Europa tem menor distância norte-sul do que os outros continentes, como a Ásia, África, América do Norte e América do Sul; com maiores dificuldades para as suas populações migrarem de temperaturas mais frias para as mais quentes durante o inverno; e vice-versa. Terceiro, na maior incidência de germes e doenças do que em outros continentes; e na presença de jazidas de ferro; o Europeu, sem poder escapar às intempéries do tempo e da doença, criou armas e lutou, na busca da sobrevivência; na produção de “cargo”; ou, no que assim percebemos, como na busca da “racionalidade”. O Europeu ficou violento mais do que os povos dos outros continentes.
Se considerarmos o número de mortos em guerras, pelos séculos pelos continentes, é nítida a proeminência Europeia neste indicador. No século XX, por exemplo, com as duas Guerras Mundiais (que, em verdade, foram Guerras Europeias), e demais guerras, o número de mortos na Europa chega a 100 milhões, na Ásia 20 milhões, nos outros continentes em números menores. Em alguns séculos, o número de mortos em guerras na Ásia foi superior ao Europeu, mas, na média, a Europa prevalece.
Lembrando que boa parte das guerras na Ásia, e em outros continentes, foram guerras Europeias, como Alexandre “O Grande” indo para o Oriente, o Império Romano, as Cruzadas, a conquista das Colônias, as guerras na Ásia, as Guerras Mundiais, a extensão das guerras ao Oriente Médio e à África. O mapa assim mostra.
E assim, somos todos produto da Europa e de suas guerras, que não se acalmam até hoje, com consequências sobre todos nós.
“God save the King!”
Assinar:
Comentários (Atom)