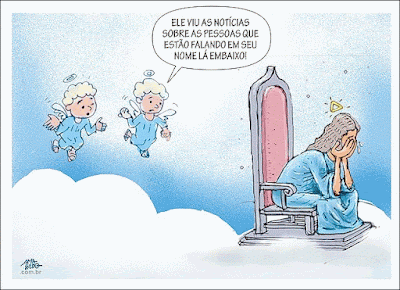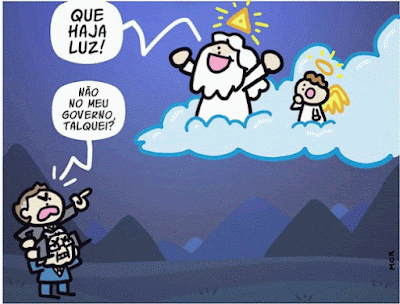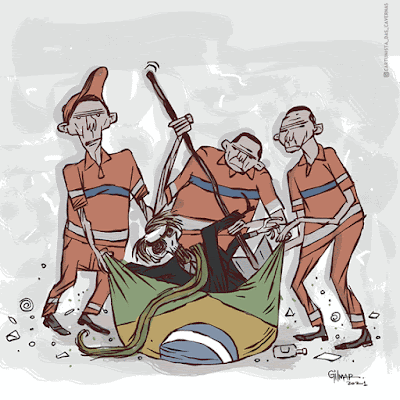quinta-feira, 2 de setembro de 2021
Onde foi que erraram Michelle Bolsonaro e tia Zezinha
Quer dizer: Michelle prometeu a Deus que se o marido e ela chegassem ao poder, ajudariam os necessitados. Promessa é uma barganha. Você promete algo em troca do atendimento a um pedido – no caso de Michelle, a eleição de Bolsonaro. Ela pode estar fazendo a sua parte no que prometeu, mas talvez tenha se esquecido de combinar com o marido para que ele fizesse a dele.
Lembrou-me tia Zezinha, a segunda mãe que tive. Era muito religiosa. Quando o Papa Pio XII estava morrendo em 1958, ela desesperou-se, chorava e não largava o terço. Em 1963, contudo, quando o Papa João XXIII agonizava, tia Zezinha não estava nem aí. Estranhei seu comportamento e quis saber por que era assim. Ela então me contou até com uma ponta de alegria:
– Fiz um compromisso com Deus. Em troca da vida do Papa, ele poderá levar a minha, a de Maria Laurinda e a sua.
– Como assim? Levar para onde?
– Levar para o céu – ela respondeu.
Tia Zezinha tinha mais de 70 anos. Maria Laurinda, uma amiga dela, mais de 50 e vivia numa cadeira de rodas; eu completaria 15 anos. Tia Zezinha simplesmente não nos consultou a respeito.
– Mas não quero ir para o céu agora – disse assustado.
– O céu é muito bom, Ricardo José, você vai gostar – ela retrucou.
A agonia de João XXIII foi demorada, bem como a minha que torcia para que Deus recusasse a proposta de tia Zezinha. Fiz até promessa para isso.
Sherlock no Brasil de Bolsonaro
Encenar é interpretar. Nossas falas não seriam entendidas se não falássemos todos a língua portuguesa. Para que o drama se cumpra, ele tem de existir antes dos atores que o encenam e dos espectadores capazes de “deduzir” de suas cenas o significado que nele se encerra.
Somos simultaneamente demarcadores e demarcados por molduras e nos assustamos quando elas são rompidas. Imagine um juiz arrotando depois de uma sentença; um senador arrumando a dentadura numa CPI; ou um presidente ameaçando dar porrada em jornalistas...
Molduras revelam níveis de realidade. Indicam o que é e o que não é. O que você deduz quando, em Chicago, vê uma cena de perseguição policial? Perplexo, você exige uma moldura para assentar o que testemunhou. Foi um assalto? Não, diz alguém o acalmando, é o Brian De Palma refilmando “Os intocáveis”.
A resposta, roubada de um livro do sociólogo Erving Goffman, satisfaz seu senso de realidade. A expressão “é sério” faz parte de um mundo infiltrado por brincadeiras, mentiras, trotes e fake news de todos os tipos de moldura.
O golpe pode ser lido como uma moldura implantada numa hora de indecisão. O que hoje amedronta é a confusão de molduras promovendo insuportáveis inseguranças. Quando sentenças e operações contra uma corrupção abusiva são neutralizadas, e poderosos são inocentados, cria-se um paradoxo porque foi justamente sua exposição que elegeu o “supremo mandatário da nação”, que hoje atua numa clara desconstrução institucional da República.
O que se pode deduzir quando o Poder Executivo — esse poder desempenhado por um único ator, que, por isso mesmo, tem muito mais potência e, consequentemente, uma implacável responsabilidade numa sociedade familística e populista — produz imprecisão e insegurança?
A expressão “esticar a corda” é óbvia. Mas o que fazer quando o cabo de guerra é parte do discurso de um presidente leniente com seus aliados (e filhos) e implacável com seus adversários, que toma como inimigos mortais? Um presidente que quer demitir ministros do STF e assustar o Congresso Nacional no dia de uma votação contrária a um dos seus projetos mais retrógrados — mudar a forma de votação? Um presidente que nega vacinas e, assim, recusa a ordem biológica que é a moldura da vida no planeta?
Testemunhamos um claro projeto de destruir a interdependência clássica dos três Poderes constitutivos da República, com a intenção de reduzi-los ao Executivo. O que fazer com um presidente cuja rotina objetiva é destruir molduras e recusar a realidade, como faz prova a sabotagem-negociata das vacinas, ao lado do descumprimento das promessas que o elegeram?
Bolsonaro realiza o contrário do que prometeu. Ele é um presidente embaralhador. Para seus seguidores, é o “mito” redentor de um Brasil cuja história política vive de personagens salvacionistas, “fortes” e “novos”, esses sinalizadores de decepcionantes molduras de progresso e de regressões intoleráveis.
Enquanto, pois, tentamos deduzir o sentido de tantas irracionalidades, está em curso uma nova moldura personalista agressiva, para a qual não há resposta dentro da nossa moldura de cordialidade e jeitinho.
Jair Messias Bolsonaro é um caso de dedução eleitoral equivocada. Eleito com a promessa de ordenar e domesticar o familismo, o fanatismo ideológico e a corrupção, ele realiza o justo oposto, com o ônus de a isso adicionar uma tenaz desconstrução. O que deduzir disso tudo?
Somos pródigos em tomar — ou deduzir — gato por lebre.
Uma anedota ilustra o que passamos.
Sherlock Holmes e o Dr. Watson estavam acampando. Armaram a barraca sob as estrelas e foram dormir.
No meio da noite, Holmes acordou e disse:
— Watson, olhe para as estrelas e me diga o que está vendo.
— Estou vendo milhares e milhares de estrelas.
Holmes perguntou:
— E o que você deduz disso?
Watson respondeu:
— Ora, se existem muitos milhares de estrelas e se, em torno delas, existirem planetas, é provável que alguns sejam como a Terra. E, se houver outros como a Terra, é possível também que haja vida.
Holmes então disse:
— Watson, seu idiota, isso quer dizer que alguém roubou nossa barraca!
O que vai acontecer no Brasil nos próximos dias?
Acompanhei o tuíte para ver se, por acaso, aparecia alguma luz. Eu também gostaria que alguém me dissesse o que raios vai acontecer por aqui nos próximos dias. Não rolou.
Ainda assim, ter na presidência um homem tão prejudicado intelectual e emocionalmente é um risco enorme para a democracia. Um golpe não é a única ameaça que existe à vida saudável de um país; o estado de insegurança permanente em que vivemos, a tensão constante, as crises armadas a partir do nada — tudo isso corrói o tecido social e impede a paz.
Matar ou morrer por Bolsonaro
Não há quem nunca tenha cometido esse automatismo verbal —a língua que se antecipa à mente, a fala sem pensar. Mas nunca esse automatismo foi tão cruel e constrangedor como agora. Em algum momento dos últimos 18 meses, todos já nos vimos diante de uma pessoa que acabara de perder ou estava perdendo alguém para a Covid e a saudamos com um estúpido "Tudo bem?". Tudo bem que essa frase venha de tempos mais amenos, mas por que não nos condicionamos a algo mais neutro e igualmente solidário, como um olhar ou abraço silencioso e terno?
Outra saudação que nos habituamos a fazer, ao telefone ou a quem encontramos na rua, é "Tudo em paz?". É verdade que, em qualquer época, esse cumprimento sempre foi perigoso. Ouvir um "Tudo em paz?" quando se está em meio a uma crise conjugal ou a ponto de estrangular o chefe soa péssimo. Mas, no momento atual do Brasil, o "Tudo em paz?" só revela incrível alienação ou cínica má-fé.
Não está tudo em paz. Ao contrário, está-se na iminência de uma guerra civil, insuflada por um criminoso que, para salvar sua miserável pele, atreve-se a conflagrar o país. Um país em que as instituições, por mais "sólidas", começaram a contar fuzis, e não apenas tendo em vista o 7 de Setembro.
Bolsonaro já matou muita gente pela Covid. Agora quer que seus seguidores peguem em armas e matem ou morram por ele. Não pode haver opção mais baixa para um ser humano.
O 7 de Setembro e o burro
Há importantes diferenças no comportamento dessas elites que, em parte, espelham a perda de coesão institucional e o esgarçamento do tecido social brasileiro, além da forte regionalização da nossa política. Refletem também a alteração dos “pesos relativos” no PIB e na política entre indústria, agroindústria, setor financeiro e varejo. E diferentes mentalidades, que impedem o surgimento de lideranças e ações comuns. Ninguém mais fala pelo “todo” das elites econômicas.
Quando se examina as posturas políticas desses grupos de dirigentes essas diferenças separam a grosso modo os segmentos que são mais “abertos” daqueles “mais fechados” em relação ao mundo lá fora. Os mais dependentes ou integrados nas grandes cadeias produtivas globais, de capital intensivo, orientados para inovação tecnológica e atrelados ao comércio exterior e aos grandes fluxos de investimento foram, por exemplo, os que abateram os ministros bolsonaristas das Relações Exteriores e Meio Ambiente.
É importante notar que nesses grupos a oposição ao governo não se deu simplesmente por ser considerado “ruim para os negócios” (caso claro do moderno setor do agro). A forte rejeição a Jair Bolsonaro facilmente detectável nesses segmentos vem de uma visão de mundo – portanto, ideológica – para a qual o presidente simboliza o contrário dos princípios fundamentais de uma sociedade aberta, tolerante e liberal no sentido europeu da palavra. Foi nessas áreas que mais rápido Bolsonaro trafegou da condição de personagem político “tolerável” à de “insuportável”.
Ele foi salvo até aqui de um destino parecido ao de seus ministros defenestrados por uma característica comum ao empresariado (desculpem a generalização, sempre perigosa): o profundo temor de se meter em política. Quando isso acontece (meter-se em política) a causa costuma ser a defesa dos próprios interesses setoriais e negócios, e só em casos excepcionais é o resultado de uma ação coletiva em torno de princípios gerais ou projetos nacionais. “Política” é vista, não sem motivos, como coisa suja por definição.
O perigo para Bolsonaro é quando a excepcionalidade da ação por motivação “ideológica” se junta à noção no empresariado de que está tudo muito ruim para os negócios, as perspectivas não parecem que vão melhorar, os problemas aumentam, diminuem esperanças de dias melhores a curto prazo, vão subir inflação, juros e os impostos, fora os custos e as despesas. E a imprevisibilidade do triste ambiente de insegurança jurídica se agrava com pandemia, crise hídrica e, para culminar, instabilidade política trazida pela incessante crise institucional.
O “tipping point” (ou palha que quebra o lombo do burro) é o momento em que o receio da severa turbulência causada por um processo de impeachment é menor do que a certeza de que com Bolsonaro vai tudo só ficar pior, e que não dá para aguentar até as distantes eleições do ano que vem, pois a velocidade e profundidade da crise encurtaram drasticamente os horizontes de tempo. É o momento no qual a crise brasileira se encontra.
As forças do centrão já dão demonstrações de que consideram Bolsonaro intragável, prejudicial aos próprios interesses (políticos e econômicos) o que não significa abraçar-se ao “outro lado”, ou seja, Lula. É um volátil processo político no qual os caciques do centrão confabulam com setores dirigentes da economia e vice-versa. Não surgiu ainda dessas conversas, que estão se intensificando, se o melhor caminho para sanar a maluquice que emana do Planalto é acelerar um impeachment ou articular uma terceira via – à qual a turma do dinheiro está, sim, se dedicando.
Com o 7 de setembro Bolsonaro está se esforçando para ver quanto o burro aguenta.
Humanidade às cegas
Tanto jornal, tanta rádio, tanta agência de informações, e nunca a humanidade viveu tão às cegas. Cada hora que passa é um enigma camuflado por mil explicações. A verdade, agora, é uma espécie de sombra da mentira. E como qualquer de nós procura quase sempre apenas o concreto, cada coisa que toca deixa-lhe nas mãos o simples negativo da sua realidadeMiguel Torga, "Diário" (1948)
O preço do 7 de setembro para Bolsonaro
Um extraterrestre que desse uma panorâmica sobre o noticiário brasileiro constataria que as instituições estão em atividade frenética: o Congresso votando pautas importantes, uma CPI produzindo descobertas de impacto em ritmo quase diário, o Judiciário tomando decisões históricas como a que define o marco temporal para a posse das terras indígenas… e o presidente da República em franca campanha pela reeleição. O alienígena não estaria errado. Mas teria, sem dúvida, uma visão limitada do cenário. Apesar de toda a agitação, o Brasil já completa quatro semanas em suspenso, esperando para ver o que acontecerá no dia 7 de Setembro.
Não é só a indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo que espera veredicto para depois das manifestações. Há um mês se discute como o governo poderá arcar com os quase R$ 90 bilhões em dívidas judiciais de pagamento obrigatório, sem romper o teto de gastos, e ainda quais serão o valor e as fontes de recursos do novo Bolsa Família. Das respostas, dependem tanto as projeções econômicas como as movimentações eleitorais para 2022 — e, portanto, também o destino de Jair Bolsonaro.Num governo normal, tudo teria sido resolvido até a última terça-feira, quando venceu o prazo para a apresentação da Lei Orçamentária Anual. Mas o Orçamento que chegou ao Congresso não só não solucionou nenhum dos impasses, como previu o contrário do que o governo vinha anunciando: o pagamento integral das dívidas judiciais e zero reajuste para o Bolsa Família.
Não que não se tenham tentado soluções. Num esforço que há muito tempo não se via, o ministro da Economia, Paulo Guedes, foi ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao comandante da Câmara, Arthur Lira, e ao ministro do Supremo Gilmar Mendes apelar por um acordo. Não conseguiu coisa alguma, porque ninguém quer se comprometer com nada antes do 7 de Setembro.
Foi o próprio presidente da República quem criou essa situação, ao convocar para o feriado da Independência atos contra o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral. “Pode ter certeza, vamos ter uma fotografia para o mundo do que vocês querem. Eu só posso fazer uma coisa se vocês assim o desejarem”, disse Bolsonaro no mesmo dia em que entregou ao Senado o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes.
Dias depois de o pedido ter sido rejeitado, ele subiu o tom: “Digo uma coisa aos senhores. Tenho três alternativas para meu futuro: estar preso, ser morto ou a vitória. Pode ter certeza: a primeira alternativa, preso, não existe. Nenhum homem aqui na Terra vai me amedrontar”.
Está claro que, para o presidente acuado pelo avanço das investigações do STF e da CPI e pelo clima de repúdio a seus gestos golpistas, tornou-se questão de sobrevivência produzir uma demonstração de força para “amedrontar” seus “inimigos”.
Por isso há quem ache que, uma vez feito o show, Bolsonaro poderá se acalmar e negociar o que realmente interessa ao Brasil. Ilusão à toa. Não precisa ser nenhum gênio para deduzir que, sejam os atos grandes ou pequenos, o presidente arranjará um novo pretexto para tumultuar o ambiente antes mesmo que o último manifestante tenha deixado a Avenida Paulista.
O problema é que, a menos que haja uma grave ruptura, quando o dia 8 amanhecer, as dívidas e precatórios, o Bolsa Família e o caso André Mendonça ainda estarão à espera de uma solução. Ficará ainda mais evidente que estamos diante de um governo fraco, que não sabe negociar nem aprovar seus projetos no Congresso e que, por isso, caminha para romper o teto de gastos.
Como lembrou outro dia um burocrata experimentado no assunto, com R$ 15 bilhões em emendas parlamentares, Michel Temer conseguiu aprovar justamente o teto de gastos e impedir o próprio impeachment. Bolsonaro já tem quase R$ 37 bilhões, R$ 20 bilhões das emendas regulares mais R$ 16,8 bilhões do orçamento secreto, e mesmo assim vive tomando bordoada. Por mais altos que sejam, os gritos que o presidente dará em cima do palanque não mudam essa realidade.
O que Bolsonaro finge não ver é que o preço do 7 de Setembro já começou a ser pago. Quanto mais o tempo passa sem solução para problemas que qualquer governo normal já teria resolvido, piores são as perspectivas para a economia e mais custosas se tornam as negociações políticas. E, claro, mais difícil fica sua busca pela reeleição. O presidente pode até sair do palanque se sentindo mais forte. Mas, se no dia 8 ele não tiver conseguido dar um golpe, muito provavelmente terá dado mais um passo rumo à própria derrota.