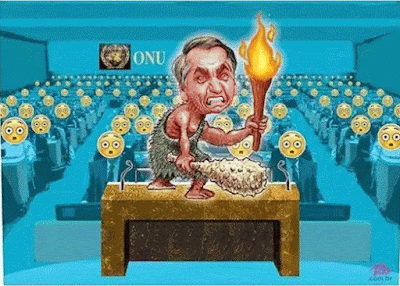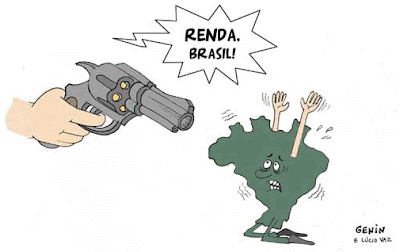Em live na última quinta-feira, Jair Bolsonaro declarou que o índio "evoluído" deveria ter "mais liberdade sobre sua terra". Ao seu lado, o destruidor do Meio Ambiente, Ricardo Salles, dava seu aval à ignorância presidencial. Essa fala ecoou uma anterior, de janeiro, em que Bolsonaro disse: "Cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. Vamos fazer com que o índio se integre à sociedade e seja realmente dono da sua terra indígena, isso é o que a gente quer".
A gente quem, cara-pálida? Nenhum antropólogo digno de seu diploma concordará com uma só de suas palavras. A "evolução" que Bolsonaro atribui ao índio é a de expor-se de vez às mazelas da civilização, como doenças, alcoolismo e mendicância. A "liberdade" que visa conceder-lhe, ao torná-lo "dono da sua terra", é a de deixar-se tapear e exterminar pelos invasores, pecuaristas, madeireiros, garimpeiros, grileiros, jagunços e outras categorias de quem ele, Bolsonaro, é tão próximo.
Atribuir à ignorância a política mortal de Bolsonaro para o índio é quase um gesto de boa vontade. Supõe que ela se deva apenas ao seu bestial desconhecimento do assunto —um dia saberemos. Mas espanta que os generais que sustentam seu governo tenham esquecido os ensinamentos de um homem que, até há pouco, era um de seus modelos: o marechal Candido Rondon.
"Nosso papel social deve ser simplesmente proteger, sem procurar dirigir nem aproveitar essa gente", disse Rondon em 1912, pela voz de outro grande brasileiro, Edgard Roquette-Pinto. "Não devemos ter a preocupação de fazê-los cidadãos do Brasil. Índio é índio, brasileiro é brasileiro. A nação deve ampará-los e mesmo sustentá-los, assim como aceita, sem relutância, o ônus da manutenção dos menores abandonados, dos indigentes e dos enfermos".
Para Bolsonaro, o índio é "cada vez mais" um ser humano "igual a ele". Se isso for verdade, que destino terrível.
Ruy Castro
quarta-feira, 30 de setembro de 2020
Tunga na educação
Há um mês o Congresso Nacional aprovou por meio de um amplo consenso a PEC que tornou o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica permanente e aumentou o aporte da união para 23%. À época o governo tentou destinar 5% dos novos recursos do fundo para o programa de transferência de renda que pretendia criar, então chamado de Renda Brasil. Havia uma esperteza na manobra arquitetada pela equipe econômica. Como o Fundeb está fora do teto dos gastos, o governo aumentaria suas despesas sem desrespeitar o dispositivo constitucional.
Ao perceber uma derrota acachapante, o governo jogou a toalha. Retirou sua proposta e o novo Fundeb foi aprovado de acordo com o parecer da relatora, deputada Dorinha. Uma vitória importantíssima, com impacto direto na educação. O aporte significativo de novos recursos permitirá, em cinco anos, um acréscimo de 50% nos gastos por aluno ao ano, mais do que países da OCDE investem por aluno ao ano.
Ao perceber uma derrota acachapante, o governo jogou a toalha. Retirou sua proposta e o novo Fundeb foi aprovado de acordo com o parecer da relatora, deputada Dorinha. Uma vitória importantíssima, com impacto direto na educação. O aporte significativo de novos recursos permitirá, em cinco anos, um acréscimo de 50% nos gastos por aluno ao ano, mais do que países da OCDE investem por aluno ao ano.
Quem pensou que o governo tinha desistido de desviar verbas da educação para outros fins se enganou. Ao redesenhar seu programa de transferência de renda, agora chamado Renda Cidadã, retomou seu plano de desviar 5% dos recursos do Fundeb para seu novo programa social.
É uma marotice dupla.
De um lado, dá uma pedalada para criar novas despesas furando, na prática, o teto de gastos. O expediente de burlar o teto também está no que seria outra fonte de financiamento do Renda Cidadã, verbas do precatório. De outro, cria uma cortina de fumaça para encobrir os danos à educação com a alegação de que os recursos desviados se destinarão a famílias carentes com filhos nas escolas.
Ora, desde os tempos da Comunidade Solidária da saudosa Ruth Cardoso essa é - ou deveria ser – uma condicionante e uma contrapartida de programas sociais como o Bolsa Família. Só assim eles deixariam de ser um mero programa assistencialista, perpetuador da miséria e da dependência do Estado, que faz de seus beneficiários prisioneiros do populismo e da demagogia política.
Transferência de renda e educação são programas distintos. Um é uma resposta emergencial, que, em tese, deveria ser transitória. O outro, é um investimento estruturante, não só para a promoção da equidade mas também para o país alcançar crescimento. Esse foi o caminho seguido pelos países que deram um salto de qualidade na educação e alcançaram o patamar de desenvolvidos.
Ao querer mexer nos recursos da Educação, Jair Bolsonaro descumpre sua promessa de não tirar do pobre para dar ao paupérrimo. A apropriação indébita do Fundeb não tem diferença de quando quis se apropriar do abono salarial ou de recursos dos aposentados. Ou os filhos dos mais miseráveis muitas vezes não têm como única alimentação diária a merenda escolar?
Caso logre sucesso, a medida impactará os municípios mais pobres, onde estudam os mais vulneráveis, e afetará, principalmente, as crianças das creches e das pré-escolas. Segundo o Todos pela Educação, os grandes prejudicados serão 2,7 mil municípios e 17 milhões de alunos.
Ademais, a medida fere flagrantemente a legislação. Como bem observou a deputada Dorinha, ficaram para trás os tempos em que na rubrica educação enfiava-se todo tipo de ação. Se uma rua era asfaltada a dois quilômetros de uma escola, se uma rede de esgoto era construída nas suas proximidades, os investimentos eram enquadrados como educação. Felizmente, a lei já não permite manobras desse tipo.
Uma grande pergunta é saber qual o papel do Ministério da Educação nessa história?
É uma marotice dupla.
De um lado, dá uma pedalada para criar novas despesas furando, na prática, o teto de gastos. O expediente de burlar o teto também está no que seria outra fonte de financiamento do Renda Cidadã, verbas do precatório. De outro, cria uma cortina de fumaça para encobrir os danos à educação com a alegação de que os recursos desviados se destinarão a famílias carentes com filhos nas escolas.
Ora, desde os tempos da Comunidade Solidária da saudosa Ruth Cardoso essa é - ou deveria ser – uma condicionante e uma contrapartida de programas sociais como o Bolsa Família. Só assim eles deixariam de ser um mero programa assistencialista, perpetuador da miséria e da dependência do Estado, que faz de seus beneficiários prisioneiros do populismo e da demagogia política.
Transferência de renda e educação são programas distintos. Um é uma resposta emergencial, que, em tese, deveria ser transitória. O outro, é um investimento estruturante, não só para a promoção da equidade mas também para o país alcançar crescimento. Esse foi o caminho seguido pelos países que deram um salto de qualidade na educação e alcançaram o patamar de desenvolvidos.
Ao querer mexer nos recursos da Educação, Jair Bolsonaro descumpre sua promessa de não tirar do pobre para dar ao paupérrimo. A apropriação indébita do Fundeb não tem diferença de quando quis se apropriar do abono salarial ou de recursos dos aposentados. Ou os filhos dos mais miseráveis muitas vezes não têm como única alimentação diária a merenda escolar?
Caso logre sucesso, a medida impactará os municípios mais pobres, onde estudam os mais vulneráveis, e afetará, principalmente, as crianças das creches e das pré-escolas. Segundo o Todos pela Educação, os grandes prejudicados serão 2,7 mil municípios e 17 milhões de alunos.
Ademais, a medida fere flagrantemente a legislação. Como bem observou a deputada Dorinha, ficaram para trás os tempos em que na rubrica educação enfiava-se todo tipo de ação. Se uma rua era asfaltada a dois quilômetros de uma escola, se uma rede de esgoto era construída nas suas proximidades, os investimentos eram enquadrados como educação. Felizmente, a lei já não permite manobras desse tipo.
Uma grande pergunta é saber qual o papel do Ministério da Educação nessa história?
Provavelmente nenhum, assim como não teve papel algum na aprovação da PEC do Fundeb. Teoricamente, caberia ao ministro da Educação articular dentro e fora do governo para que a educação não fosse penalizada com a criação de um programa de transferência de renda. Infelizmente, tanto a pasta como seus titulares viraram peças ornamentais nesses dois anos de um governo que vê a educação apenas como palco de uma guerra cultural.
Não esperem do ministro Milton Ribeiro qualquer protagonismo em favor da Educação. Afinal, se a volta as aulas não é com ele, se a desigualdade social não é da sua conta, é mais do que óbvio que, como Pôncio Pilatos, lavará as mãos, e o Fundeb também não será com ele. Seu foco parece ser outro: violar o caráter laico do ensino por meio da imposição dos valores fundamentalistas de sua religião.
Não esperem do ministro Milton Ribeiro qualquer protagonismo em favor da Educação. Afinal, se a volta as aulas não é com ele, se a desigualdade social não é da sua conta, é mais do que óbvio que, como Pôncio Pilatos, lavará as mãos, e o Fundeb também não será com ele. Seu foco parece ser outro: violar o caráter laico do ensino por meio da imposição dos valores fundamentalistas de sua religião.
Hubert Alquéres
<p>Não está em questão a necessidade de um programa de renda voltado para os mais necessitados, sobretudo nesses tempos de pandemia. Mas financiá-lo tungando a educação é um crime contra as crianças e os jovens mais necessitados, condenando-os à dependência eterna do Estado, tal qual a vida sem horizonte da maioria de seus pais.</p>
<p> </p>
<p>Não está em questão a necessidade de um programa de renda voltado para os mais necessitados, sobretudo nesses tempos de pandemia. Mas financiá-lo tungando a educação é um crime contra as crianças e os jovens mais necessitados, condenando-os à dependência eterna do Estado, tal qual a vida sem horizonte da maioria de seus pais.</p>
<p> </p>
Bolsonaro prepara terreno para evitar desgaste com fim do auxílio
Jair Bolsonaro tentou chutar para o lado a bomba-relógio em que se transformou o auxílio emergencial da pandemia. Preocupado com o impacto que o fim do pagamento deve ter sobre sua popularidade na virada do ano, o presidente fez uma jogada que pode reduzir parte das pressões sobre o Planalto.
O governo havia conseguido a proeza de apresentar um pacote completo de ideias ruins para bancar o novo programa social que deveria atender a uma parte dos beneficiários do auxílio. Depois que todas foram torpedeadas por parlamentares e investidores, Bolsonaro desempenhou seu papel favorito: posou de vítima e encenou um desabafo.
“O tempo está correndo, está o tique-taque aí correndo, está chegando janeiro de 2021. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem”, disse, nesta terça.
O governo havia conseguido a proeza de apresentar um pacote completo de ideias ruins para bancar o novo programa social que deveria atender a uma parte dos beneficiários do auxílio. Depois que todas foram torpedeadas por parlamentares e investidores, Bolsonaro desempenhou seu papel favorito: posou de vítima e encenou um desabafo.
“O tempo está correndo, está o tique-taque aí correndo, está chegando janeiro de 2021. Precisamos de alternativa para aproximadamente 20 milhões de pessoas que não vão ter o que comer a partir de janeiro do ano que vem”, disse, nesta terça.
O presidente começou a preparar o terreno para se desviar de desgastes políticos caso a proposta de turbinar o Bolsa Família não saia do papel. Ele reclamou de “críticas monstruosas” aos planos para financiar o novo Renda Cidadã e se queixou da falta de alternativas para o programa –como se houvesse algum outro governo operando na praça.
Na prática, Bolsonaro armou uma cilada para o Congresso. O governo prometeu planos para custear o programa. Depois, apresentou uma proposta fajuta, na forma de um calote disfarçado e de um extravio de verbas da educação. Agora, ele lança a imagem de um presidente que se preocupa com os mais pobres, mas sofre com a inação dos políticos.
É Bolsonaro, no entanto, quem se mostra um mestre na arte de tirar vantagem de sua própria inércia. O presidente abriu mão de discutir as regras o jogo e resolveu mandar recados diretos aos segmentos que ajudaram a impulsionar seus índices de aprovação durante a pandemia. Ele sabe que, entre os brasileiros que fazem a contagem regressiva para o fim do benefício, a origem do dinheiro é o menor dos problemas.
Na prática, Bolsonaro armou uma cilada para o Congresso. O governo prometeu planos para custear o programa. Depois, apresentou uma proposta fajuta, na forma de um calote disfarçado e de um extravio de verbas da educação. Agora, ele lança a imagem de um presidente que se preocupa com os mais pobres, mas sofre com a inação dos políticos.
É Bolsonaro, no entanto, quem se mostra um mestre na arte de tirar vantagem de sua própria inércia. O presidente abriu mão de discutir as regras o jogo e resolveu mandar recados diretos aos segmentos que ajudaram a impulsionar seus índices de aprovação durante a pandemia. Ele sabe que, entre os brasileiros que fazem a contagem regressiva para o fim do benefício, a origem do dinheiro é o menor dos problemas.
O espectador
Uma parábola: naquela noite, sem pandemia, João Carlos, o Bulha, saudoso amigo, acompanhou com o olhar a entrada acintosa de jovens penetras em sua festa de aniversário, no Lago Sul. Com a voz abafada pelo som, batizou-os, às gargalhadas. Os Dezoito do Forte. E abordou o último deles, com a piada pronta. “Isto aqui está uma droga, sabe quem é o dono da casa e onde fica a bebida?” “Não”, respondeu-lhe o invasor, “mas vou saber e te aviso”. E misturou-se, tranquilamente, aos convidados.
Um governo: Jair Bolsonaro é espectador do que se passa em seu governo. Assiste a um espetáculo de palco e picadeiro sem sinais de compromisso. Os ministros se movimentam. Ele aplaude ou critica, desqualifica ou aprova, fecha a cara para um, abre a cara para outro. Aproxima-se de quem julga capaz de modular, afasta-se de quem manifesta opinião própria.
Nada de homogeneidade. Nem de fundamentos teóricos. O governo é uma obra aberta, experimental. O presidente gosta ou não gosta. Para formar opinião, inspira-se nas redes, onde é manobrado por 50 minorias. Daí as incoerências.
Na cena de segunda-feira, viu-se uma performance clássica. A do fiasco técnico sobre como financiar um programa eleitoral de renda mínima com pedalada precatória. Bem como, no mesmo cenário, o adiamento da reforma tributária, que embutia, para ver se colava, aumento de imposto. A ameaça de calote ficou na conta do ministro da Economia; o ônus da reforma, transferido ao Congresso, a quem cabe agora, por decisão do espectador, assumir autoria das maldades fiscais. Bolsonaro, isento de tudo, celebra a popularidade crescente.
Os atores ideológicos continuam seu show. Cenas de quinta categoria. O presidente puxa aplausos aos novos e antigos canastrões. Abraham Weintraub pode exibir contracheques em dólar do Banco Mundial, de onde envia vulgaridades às redes, enquanto o irmão, Arthur, pode acenar aos invejosos com os dois cargos que ganhou da OEA em menos de um mês.
Ficaram para trás o MEC, o quarto ministro e o enredo que salta do drama à tragédia. Descompostura política e impostura administrativa.
Na Saúde, faz-se uma releitura surpreendente da realidade. Com todos os equívocos já produzidos na pandemia, o leigo critica os profissionais ao revelar que a recomendação “fique em casa” não era apelo ao isolamento social, como parecia óbvio. Firmou o absurdo, no discurso de posse, que se tratava de campanha dos seus antecessores para o doente não procurar tratamento. O que, só agora, ele e o novo protocolo aconselham. A todos, a sua dose de cloroquina. Tudo o que o presidente quer.
A Cultura abandonou a cortina nazista do holocausto e o conformismo com a ditadura militar para desembocar num acampamento de extraterrestres aduladores. O presidente, homenageado, não se avexa.
Na penúltima de suas expedições contra a natureza, em que condena à destruição restingas e manguezais, o ministro do Meio Ambiente seguiu seu conhecido destino: um passo em falso após o outro. E, nas Relações Exteriores, prossegue-se na predação da arte do Barão do Rio Branco. Com direito a afagos presidenciais.
O espetáculo não flui, também, fora do eixo ideológico. O conflito do INSS com os peritos expõe a degradante situação dos trabalhadores. Minas e Energia sumiu. Infraestrutura está sem meios. E até o agronegócio, produtivo e eficaz, sofre os efeitos da insanidade diplomática. Nem com a reforma da Previdência, conquista única, o presidente espectador se engajou.
O problema é que não se trata de faz de conta, mas de um país e seus 210 milhões de habitantes. Com efeitos especiais e clima de apoteose, Bolsonaro, indiferente aos resultados, pensa apenas na sua razão de governar o primeiro mandato: a reeleição, para ser espectador do segundo.
Um governo: Jair Bolsonaro é espectador do que se passa em seu governo. Assiste a um espetáculo de palco e picadeiro sem sinais de compromisso. Os ministros se movimentam. Ele aplaude ou critica, desqualifica ou aprova, fecha a cara para um, abre a cara para outro. Aproxima-se de quem julga capaz de modular, afasta-se de quem manifesta opinião própria.
Nada de homogeneidade. Nem de fundamentos teóricos. O governo é uma obra aberta, experimental. O presidente gosta ou não gosta. Para formar opinião, inspira-se nas redes, onde é manobrado por 50 minorias. Daí as incoerências.
Na cena de segunda-feira, viu-se uma performance clássica. A do fiasco técnico sobre como financiar um programa eleitoral de renda mínima com pedalada precatória. Bem como, no mesmo cenário, o adiamento da reforma tributária, que embutia, para ver se colava, aumento de imposto. A ameaça de calote ficou na conta do ministro da Economia; o ônus da reforma, transferido ao Congresso, a quem cabe agora, por decisão do espectador, assumir autoria das maldades fiscais. Bolsonaro, isento de tudo, celebra a popularidade crescente.
Os atores ideológicos continuam seu show. Cenas de quinta categoria. O presidente puxa aplausos aos novos e antigos canastrões. Abraham Weintraub pode exibir contracheques em dólar do Banco Mundial, de onde envia vulgaridades às redes, enquanto o irmão, Arthur, pode acenar aos invejosos com os dois cargos que ganhou da OEA em menos de um mês.
Ficaram para trás o MEC, o quarto ministro e o enredo que salta do drama à tragédia. Descompostura política e impostura administrativa.
Na Saúde, faz-se uma releitura surpreendente da realidade. Com todos os equívocos já produzidos na pandemia, o leigo critica os profissionais ao revelar que a recomendação “fique em casa” não era apelo ao isolamento social, como parecia óbvio. Firmou o absurdo, no discurso de posse, que se tratava de campanha dos seus antecessores para o doente não procurar tratamento. O que, só agora, ele e o novo protocolo aconselham. A todos, a sua dose de cloroquina. Tudo o que o presidente quer.
A Cultura abandonou a cortina nazista do holocausto e o conformismo com a ditadura militar para desembocar num acampamento de extraterrestres aduladores. O presidente, homenageado, não se avexa.
Na penúltima de suas expedições contra a natureza, em que condena à destruição restingas e manguezais, o ministro do Meio Ambiente seguiu seu conhecido destino: um passo em falso após o outro. E, nas Relações Exteriores, prossegue-se na predação da arte do Barão do Rio Branco. Com direito a afagos presidenciais.
O espetáculo não flui, também, fora do eixo ideológico. O conflito do INSS com os peritos expõe a degradante situação dos trabalhadores. Minas e Energia sumiu. Infraestrutura está sem meios. E até o agronegócio, produtivo e eficaz, sofre os efeitos da insanidade diplomática. Nem com a reforma da Previdência, conquista única, o presidente espectador se engajou.
O problema é que não se trata de faz de conta, mas de um país e seus 210 milhões de habitantes. Com efeitos especiais e clima de apoteose, Bolsonaro, indiferente aos resultados, pensa apenas na sua razão de governar o primeiro mandato: a reeleição, para ser espectador do segundo.
Bolsonaro precisa de inimigos
A medida que seu governo comete retrocessos, necessita de mais inimigos. Suas falas, práticas, políticas de Estado precisam de inimigos. Tudo que se refere ou vem dele se baseia na violência. E a violência se alimenta de inimigos.
A tese sobre violência do discurso fascista e do governo fascista é do psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. "A violência se torna um método, uma forma de vida, precisa de inimigos, necessariamente vai proclamar novos inimigos a medida que o mundo avança".
E assim, em menos de três anos, voltamos a conviver com o maior flagelo de todos: a fome.
Levantamento do respeitado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), divulgado agora, em setembro, mostrou que a fome voltou como praga no Brasil. Em cinco anos, mais 3 milhões de brasileiros foram jogados nesse fosso.
Hoje, aponta o IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros não tem o que comer. Ainda mais indigno e revoltante: metade das crianças com até 4 anos de idade vive hoje em casas com algum tipo de insegurança alimentar 5,1% com insegurança grave, a fome.
Deplorável, dolorosa, a fome é assunto velho. Em 1946, o médico e geógrafo pernambucano Josué de Castro lançou "Geografia da Fome", diagnóstico das causas e consequências da fome no Brasil. A obra de Josué escancarou o quadro dramático da desnutrição no País.
Josué Apolônio de Castro ficou conhecido internacionalmente. Sua obra influenciou políticas de combate à miséria. No Brasil, seu livro foi proibido, e ele foi vergonhosamente perseguido pela ditadura. Morreu no exílio, em Paris, aos 65 anos.
Até que Bolsonaro declare o IBGE como inimigo, vamos encarando os números da dura realidade do País. Subordinado ao Ministério da Economia, o IBGE não mente. Ainda.
A tese sobre violência do discurso fascista e do governo fascista é do psicanalista Christian Dunker, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. "A violência se torna um método, uma forma de vida, precisa de inimigos, necessariamente vai proclamar novos inimigos a medida que o mundo avança".
Feroz, Bolsonaro vai aos poucos desmontando o Estado, inutilizando avanços sociais e econômicos conquistados a duras penas por milhões de brasileiros. Retrocede. Anda para trás. Desmantelou a cultura, a educação, a ciência. E o que falar do meio ambiente em chamas?
E assim, em menos de três anos, voltamos a conviver com o maior flagelo de todos: a fome.
Levantamento do respeitado Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), divulgado agora, em setembro, mostrou que a fome voltou como praga no Brasil. Em cinco anos, mais 3 milhões de brasileiros foram jogados nesse fosso.
Hoje, aponta o IBGE, mais de 10 milhões de brasileiros não tem o que comer. Ainda mais indigno e revoltante: metade das crianças com até 4 anos de idade vive hoje em casas com algum tipo de insegurança alimentar 5,1% com insegurança grave, a fome.
Em 2014, a ONU retirou o Brasil do infame “mapa da fome”. A vergonha nacional começou a ser combatida no governo Lula, com os programas sociais Fome Zero e Bolsa Família. De 2017 até hoje, o quadro se agravou a ponto de atingir, em 2019, antes da pandemia, o menor patamar de pessoas com alimentação plena e regular.
Deplorável, dolorosa, a fome é assunto velho. Em 1946, o médico e geógrafo pernambucano Josué de Castro lançou "Geografia da Fome", diagnóstico das causas e consequências da fome no Brasil. A obra de Josué escancarou o quadro dramático da desnutrição no País.
Josué Apolônio de Castro ficou conhecido internacionalmente. Sua obra influenciou políticas de combate à miséria. No Brasil, seu livro foi proibido, e ele foi vergonhosamente perseguido pela ditadura. Morreu no exílio, em Paris, aos 65 anos.
Mais de 70 anos depois, assistimos, sem a voz de Josué de Castro, o atraso tomar conta do país e trazer de volta um tema tão relevante quanto canalha. E o problema, senhores, não está no primeiro mandato de Bolsonaro. Christian Dunker aponta o segundo mandato como tragédia mais que anunciada.
Até que Bolsonaro declare o IBGE como inimigo, vamos encarando os números da dura realidade do País. Subordinado ao Ministério da Economia, o IBGE não mente. Ainda.
Censo demográfico
Não sei por que diziam que uma humilde cidadezinha
tinha, por exemplo, umas quinze mil almas...
Almas? Hoje, o que elas têm são quinze mil bocas,
Loucas de fome!
Mario Quintana
A natureza contra-ataca
A notícia de que grupos de orcas estariam atacando iates e veleiros ao largo das costas de Portugal e de Espanha, aparentemente de forma coordenada, trouxe-me à memória o best-seller do escritor alemão Frank Schatzing, “O cardume”, publicado no Brasil pela Record, em 2006. O volumoso romance de Schatzing começa com um ataque de orcas e baleias contra navios de recreio. A seguir, tudo se complica, até se tornar evidente que alguma inteligência capaz de controlar os seres que habitam os oceanos decidiu declarar guerra contra a humanidade. “É a vingança da natureza!” — proclama durante o ataque das baleias um militante ecologista.
Estou terminando de ler um outro romance premonitório: “Fever” (Febre), do romancista sul-africano Deon Meyer, publicado em 2016 e que, tanto quanto sei, não foi ainda traduzido para a nossa língua. No romance de Meyer, 95 por cento da humanidade morre infetada por uma nova estirpe de coronavírus. O enredo é narrado por um dos sobreviventes, um rapaz chamado Nico Storm, que segue o pai, Willem, através de um país em ruínas, em busca de um novo começo para a humanidade.
Ambos os livros privilegiam a ação, e podem ser lidos como simples romances de aventura (o tipo de livros ótimo para ler no avião, durante viagens longas — quando ainda voávamos de avião). Ao mesmo tempo, ambos se esforçam por assegurar alguma ligação à realidade, o que fica explícito nas páginas de agradecimentos, com Schatzing e Meyer mencionando uma mão cheia de cientistas que os terão ajudado a preparar os respetivos livros.
Meyer, aliás, tem confessado em entrevistas recentes que não foi ele a prever a atual pandemia de coronavírus — terão sido os cientistas sul-africanos com quem conversou que lhe deram essa ideia.
Já no caso das orcas, erradamente chamadas de baleias assassinas, pois não são baleias, e sim parentes dos golfinhos, Schatzing pode ficar com todo o mérito pela previsão. Os ataques estão surpreendendo até os cientistas. Na história da marinharia são raríssimos os relatos de ataques a navios por baleias ou orcas, muito menos em grupo e de forma coordenada. Uma das vítimas dos ataques recentes, Victória Morris, declarou que as orcas comunicavam umas com as outras, aos assobios, enquanto atacavam a embarcação. Finalmente, conseguiram quebrar o leme, deixando o barco à deriva. Esperemos que a realidade não insista em imitar a ficção, pois o livro de Schatzing, embora menos catastrofista do que o de Meyer, é infinitamente mais bizarro.
Após a pandemia de Covid-19, temos de enfrentar agora a ira (justíssima) das baleias. A realidade parece estar lendo muito e somando distopias. Não sei qual será o próximo romance a prever o futuro. Receio que o Brasil esteja a caminho do “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury. “1984”, de Orwell, também já pareceu mais distante. Ou será talvez “O planeta dos macacos”, de Pierre Boulle, publicado em 1963, e que deu depois origem a uma infinidade de adaptações cinematográficas.
Após a pandemia de Covid-19, temos de enfrentar agora a ira (justíssima) das baleias. A realidade parece estar lendo muito e somando distopias. Não sei qual será o próximo romance a prever o futuro. Receio que o Brasil esteja a caminho do “Fahrenheit 451”, de Ray Bradbury. “1984”, de Orwell, também já pareceu mais distante. Ou será talvez “O planeta dos macacos”, de Pierre Boulle, publicado em 1963, e que deu depois origem a uma infinidade de adaptações cinematográficas.
Em qualquer caso, parece certo que para conhecer o futuro é melhor consultar os escritores do que os astrólogos.
Brasileiro no espeto
Se a gente esquecer o controle de gasto e aumentar a carga tributária, não vai crescer muito. É um caminho que me assusta. Eu espero que a gente não vá por aí.
Se o debate político nos levar a adotar medidas populistas, já que os benefícios de curto prazo são maiores do que os danos – que vão aparecer aos poucos –, o custo será muito alto. Os juros vão aumentar, a inflação vai voltar, os desequilíbrios setoriais vão se acentuar e o investimento vai cair.Mansueto Almeida, ex-secretário do Tesouro Nacional
Que objeto representaria, num museu, o que restou dos EUA?
Uma visita ao Metropolitan Museu de Nova York é sempre intensa. Em algumas dezenas de salões, facilmente explorados no curso de um dia, está basicamente toda a História da civilização. Separados por passos estão a ponta de uma flecha talhada há 200 mil anos e o retrato de Marilyn Monroe pintado por Andy Warhol. O MET é uma espécie de gigantesco álbum de figurinhas da Humanidade, dois milhões de peças exibidas em molduras, pedestais e vitrines, e que ilustram a criatividade, as habilidades, as crenças e os costumes humanos.
Existe também uma outra forma de entender o museu. É assimilar o acervo não como exemplo das maravilhas criadas pelo homem, mas como o pouco que restou de civilizações destruídas. Sala após sala, o que vemos são os resquícios de culturas que um dia se pensaram invencíveis. O que ficou dos etruscos, que por dois mil anos prosperaram nas terras da Itália? Um vaso de barro lascado. E dos persas, que no auge do império dominaram quase metade da população mundial? Uma cumbuca amassada de cobre. O acervo do MET prova que a História é feita de fracassos e de pilhagens, de silêncios irreversíveis e de aprendizados perdidos. Ele mostra que os homens são especialistas, principalmente, em retroceder e destruir.
Neste extraordinário ano de 2020 nos Estados Unidos, tempo e lugar que no passado todos veriam como exemplo do ápice da cultura ocidental, a sensação de retrocesso é avassaladora.
Morreu Ruth Ginsburg, a juíza da Suprema Corte que mais avançou na causa das mulheres no país. Desrespeitando a regra de que nenhum presidente deve indicar alguém para a Suprema Corte em ano eleitoral, Trump escolheu Amy Coney Barrett. Juíza conservadora, que já se posicionou contra a manutenção do plano de saúde criado por Obama, pelo direito ao aborto, e que pode dar a Trump uma vitória tardia, caso uma disputa eleitoral vá parar nas cortes. O pior presidente dos Estados Unidos, que chamou os veteranos de fracassados, sabia desde fevereiro como o vírus era mortal e nada fez, tem 28 acusações de assédio sexual e pagou apenas US$ 750 de impostos nos últimos dois anos, está tramando um golpe de estado.
Há duas formas de se acabar com uma civilização. A primeira é através das espadas e dos canhões, das metralhadoras e dos tanques de guerra usados num ataque externo. A segunda é a corrosão interna do sistema, devido à corrupção, incompetência administrativa e disparidade crescente entre ricos e pobres. Se Trump for reeleito, o maior sistema democrático do mundo (em número de pessoas) pode estar caminhando para um fim.
Há duas formas de se acabar com uma civilização. A primeira é através das espadas e dos canhões, das metralhadoras e dos tanques de guerra usados num ataque externo. A segunda é a corrosão interna do sistema, devido à corrupção, incompetência administrativa e disparidade crescente entre ricos e pobres. Se Trump for reeleito, o maior sistema democrático do mundo (em número de pessoas) pode estar caminhando para um fim.
Isso me faz pensar na cumbuca dos persas. Nada impede que, daqui a alguns séculos — e se a Terra não derreter até lá —, o pouco que reste da sociedade americana esteja na vitrine de museu. Um tubo de batata Pringles sabor churrasco. Uma camiseta da Abercrombie & Fitch. Meia cabeça da Estátua da Liberdade.
Se a plaquinha com a explicação for sincera, dirá serem aqueles os restos de uma civilização extraordinária, que decaiu com a erosão da democracia. Um sistema confuso, barulhento e que dá trabalho, mas que ainda assim era o melhor. Ainda outra civilização defunta, que ali jaz porque há milhares de anos os homens cometem o mesmo erro de novo e de novo, de relegar o bem comum ao segundo plano.
Martha Batalha
Martha Batalha
Brasil: um país sadomasoquista
Em recente (e polêmica) declaração, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o Brasil é um país conservador e cristão, o que explicaria os índices de aprovação do modo bolsonarista de conduzir a nação. Não é verdade.
Em um país marcado por índices de desigualdade, violência, exploração e insegurança elevadíssimos, “não há muito o que conservar”, diria um verdadeiro conservador. De igual sorte, os valores historicamente associados à imagem de Cristo, que segundo a narrativa bíblica foi um líder perseguido, torturado e morto pelos detentores do poder político, dificilmente se mostram hegemônicos em um país que aplaude e vota massivamente em defensores da tortura e da violência estatal.
Se o conservador autêntico defende o capitalismo, limitado por valores legais, éticos e religiosos, inclusive adotando algumas posturas anti-repressivas, recatadas e não necessariamente egoístas, o pseudo-conservador se caracteriza tanto pela apropriação fundamentalista dos valores hegemônicos da classe média (sejam democráticos ou não) quanto pela distorção dos valores liberais e religiosos, em clara adesão ao modelo neoliberal de capitalismo, que se caracteriza pela desconsideração de qualquer tipo de limite na busca por lucros ou vantagens pessoais. Mas, não é só.
O Cristo que aparece no discurso bolsonarista é uma figura limitada à concepção de religião como um contrato que visa negociar a fé na busca por bens materiais e vantagens pessoais. A religação entre o indivíduo e Deus adota a forma de um negócio que mira no lucro. E, esse mesmo Cristo, esvaziado de valores como a solidariedade e o amor ao outro, passa a ser usado como um instrumento de legitimação tanto de uma espécie de “vale-tudo” dos “verdadeiros cristãos” contra as forças demoníacas quanto da demonização do “comum”. Demoniza-se a esfera do inegociável e, em certo sentido, toda uma tradição cristã que parte da opção preferencial pelos pobres. Pode-se, portanto, falar na construção de um (anti)Cristo que torna o egoísmo uma virtude, defende a violência/tortura e faz da solidariedade uma fraqueza.
A terra da perversão? Gozar ao violar limites
O bolsonarismo pode ser pensado como o efeito da aproximação de dois fenômenos: a dessimbolização capitalista e a tradição autoritária em que o brasileiro se encontra lançado. O empobrecimento da linguagem, o desaparecimento dos limites (éticos, jurídicos, estéticos, civilizacionais etc.), o anti-intectualismo e a crença tanto na hierarquização entre as pessoas quanto no uso da violência para resolver os mais variados problemas sociais compõem um quadro que aponta não só a ruptura do laço social (as pessoas não se relacionam mais com outras pessoas, mas apenas com objetos) como também um funcionamento perverso da sociedade e dos indivíduos. A violação dos limites torna-se um fenômeno naturalizado.
Por um lado, o capitalismo leva à percepção de que tudo e todos são objetos negociáveis (por vezes, descartáveis) em meio a cálculos de interesses na busca por lucro e vantagens pessoais. Instaura-se uma espécie de “vale-tudo”. No Brasil governado por Bolsonaro, não há, portanto, a defesa de valores tradicionais e percebidos como positivos, mas o desaparecimento de todo valor, princípio ou regra que possa ser tido como obstáculo aos interesses dos detentores do poder político e/ou econômico.
De outro, a ausência de rupturas democráticas fez com que práticas autoritárias tenham se tornado aceitáveis e percebidas como inevitáveis. No Brasil, fomos incapazes de elaborar satisfatoriamente fenômenos como a escravidão e a ditadura militar, o que faz com que se naturalize a hierarquização entre as pessoas e se idealize o regime militar instaurado em 1964, produzindo uma espécie de “retrotopia” (Bauman), na qual parcela da população deseja o retorno a um regime de segurança, tranquilidade e honestidade que nunca existiu.
Em um país marcado por índices de desigualdade, violência, exploração e insegurança elevadíssimos, “não há muito o que conservar”, diria um verdadeiro conservador. De igual sorte, os valores historicamente associados à imagem de Cristo, que segundo a narrativa bíblica foi um líder perseguido, torturado e morto pelos detentores do poder político, dificilmente se mostram hegemônicos em um país que aplaude e vota massivamente em defensores da tortura e da violência estatal.
Se o conservador autêntico defende o capitalismo, limitado por valores legais, éticos e religiosos, inclusive adotando algumas posturas anti-repressivas, recatadas e não necessariamente egoístas, o pseudo-conservador se caracteriza tanto pela apropriação fundamentalista dos valores hegemônicos da classe média (sejam democráticos ou não) quanto pela distorção dos valores liberais e religiosos, em clara adesão ao modelo neoliberal de capitalismo, que se caracteriza pela desconsideração de qualquer tipo de limite na busca por lucros ou vantagens pessoais. Mas, não é só.
O Cristo que aparece no discurso bolsonarista é uma figura limitada à concepção de religião como um contrato que visa negociar a fé na busca por bens materiais e vantagens pessoais. A religação entre o indivíduo e Deus adota a forma de um negócio que mira no lucro. E, esse mesmo Cristo, esvaziado de valores como a solidariedade e o amor ao outro, passa a ser usado como um instrumento de legitimação tanto de uma espécie de “vale-tudo” dos “verdadeiros cristãos” contra as forças demoníacas quanto da demonização do “comum”. Demoniza-se a esfera do inegociável e, em certo sentido, toda uma tradição cristã que parte da opção preferencial pelos pobres. Pode-se, portanto, falar na construção de um (anti)Cristo que torna o egoísmo uma virtude, defende a violência/tortura e faz da solidariedade uma fraqueza.
A terra da perversão? Gozar ao violar limites
O bolsonarismo pode ser pensado como o efeito da aproximação de dois fenômenos: a dessimbolização capitalista e a tradição autoritária em que o brasileiro se encontra lançado. O empobrecimento da linguagem, o desaparecimento dos limites (éticos, jurídicos, estéticos, civilizacionais etc.), o anti-intectualismo e a crença tanto na hierarquização entre as pessoas quanto no uso da violência para resolver os mais variados problemas sociais compõem um quadro que aponta não só a ruptura do laço social (as pessoas não se relacionam mais com outras pessoas, mas apenas com objetos) como também um funcionamento perverso da sociedade e dos indivíduos. A violação dos limites torna-se um fenômeno naturalizado.
Por um lado, o capitalismo leva à percepção de que tudo e todos são objetos negociáveis (por vezes, descartáveis) em meio a cálculos de interesses na busca por lucro e vantagens pessoais. Instaura-se uma espécie de “vale-tudo”. No Brasil governado por Bolsonaro, não há, portanto, a defesa de valores tradicionais e percebidos como positivos, mas o desaparecimento de todo valor, princípio ou regra que possa ser tido como obstáculo aos interesses dos detentores do poder político e/ou econômico.
De outro, a ausência de rupturas democráticas fez com que práticas autoritárias tenham se tornado aceitáveis e percebidas como inevitáveis. No Brasil, fomos incapazes de elaborar satisfatoriamente fenômenos como a escravidão e a ditadura militar, o que faz com que se naturalize a hierarquização entre as pessoas e se idealize o regime militar instaurado em 1964, produzindo uma espécie de “retrotopia” (Bauman), na qual parcela da população deseja o retorno a um regime de segurança, tranquilidade e honestidade que nunca existiu.
Como em todo período autoritário, o governo de Bolsonaro busca uma aderência aos “valores” da classe média, percebida pelos ideólogos do governo como racista, sexista, preconceituosa e muito ignorante. “Valores” que acabam prestigiados, porque não só são inofensivos como também ajudam à manutenção do projeto neoliberal. Não por acaso, práticas discriminatórias, violências policiais e violações das normas de cuidado com o outro, que são objetos de aplausos de uma considerável parcela da população, passam a ser naturalizadas e até incentivadas pelos detentores do poder político. Ao mesmo tempo, o governo demonstra uma oposição a tudo o que é da esfera do criativo e sensível. Demoniza-se a compaixão e a empatia enquanto se percebe a preocupação em reforçar a dimensão domínio-submissão, ao afirmar desproporcionalmente os valores “força” e “dureza”.
É a junção entre a racionalidade neoliberal, um modo de pensar e atuar que se tornou hegemônico no atual estágio do capitalismo, e a natureza autoritária de ampla parcela da população brasileira que permite excluir a hipótese de que o Brasil é um país “conservador e cristão” e substituí-la pela constatação que ele se torna cada dia mais um país sadomasoquista (e nisso não há qualquer relação à curiosidade presidencial pela prática do “golden shower”).
Para considerável parcela da população brasileira, correlata à atitude submissa e acrítica diante daqueles a quem considera “superiores”, há uma tendência a posturas intolerantes e agressivas direcionadas contra todos aqueles a quem considera “inferiores” ou “diferentes”. São pessoas que foram formatadas para naturalizar e até sentir prazer com o sofrimento e a dor, tanto alheia quanto própria. Assim, aplaudem medidas que são flagrantemente contrárias aos seus interesses e direitos, bem como reproduzem condutas que identifica no “grupo moral” que o despreza e ao qual gostaria de pertencer.
O indivíduo sadomasoquista se submete acriticamente à autoridade idealizada e deseja um líder forte capaz de decidir por ele, limitando os riscos e desafios inerentes ao pleno exercício da liberdade. Vale dizer que se trata de uma postura que ultrapassa o respeito realista e equilibrado relacionado à autoridade legítima, mas que se aproxima de uma necessidade pulsional de se submeter e, por vezes, se humilhar. Ao mesmo tempo, verifica-se em grande parte da população um desejo de sacrificar seus prazeres, seus direitos e suas garantias fundamentais se isso significar a vingança e a punição dos “inimigos” (ainda que imaginários) ou, ainda, a manutenção da distância social em relação àqueles a que considera inferiores.
Diante desse quadro, pode-se falar em uma perversão baseada em um modo de satisfação individual ligado ao sofrimento do outro ou ao que se origina do sujeito humilhado. Como já percebia Freud (1905), “o sádico é sempre e ao mesmo tempo um masoquista”. Tem-se, aqui, uma inter-relação de duas posições (componente sádico e componente masoquista) que se fazem presentes nos conflitos intersubjetivos (dominação-submissão) e na própria estruturação psíquica das pessoas.
Ao tomar o outro ou a si próprio como objeto, bem de acordo com a racionalidade neoliberal, o sujeito exprime uma agressividade prazerosa. A dor do outro e próprio fracasso passam a ser vistos como positividades, bem de acordo com a lógica das mercadorias que passa a reger a percepção de todos os fenômenos. Mais do que melhorar de vida, o indivíduo neoliberal-autoritário se contenta em ver os mais pobres fracassarem no projeto de reduzirem a distância social entre as classes. Mais do que o fim dos preconceitos que o atingem, o indivíduo neoliberal-autoritário deseja ver a manutenção dos poucos privilégios que mantém (por vezes, o “privilégio” de ser homem ou branco).
O que o presidente chama de “conservador e cristão”, saiba ele ou não, são indivíduos perversos que por medo da liberdade, por força da crença na violência, do ódio ao saber ou da manutenção dos preconceitos de gênero, de raça, de classe e de plasticidade apoiam (ou, ao menos, aceitam) o desmatamento criminoso da Amazônia, o aumento da violência doméstica, a redução dos direitos trabalhistas e previdenciários, a violência policial, o crescimento dos grupos paramilitares, o desmonte da educação pública, as mortes evitáveis diante da pandemia em razão do Covid 19, dentre outras ações que causam sofrimento. Sem recorrer ao conceito de sadomasoquismo fica difícil explicar o Brasil.
É a junção entre a racionalidade neoliberal, um modo de pensar e atuar que se tornou hegemônico no atual estágio do capitalismo, e a natureza autoritária de ampla parcela da população brasileira que permite excluir a hipótese de que o Brasil é um país “conservador e cristão” e substituí-la pela constatação que ele se torna cada dia mais um país sadomasoquista (e nisso não há qualquer relação à curiosidade presidencial pela prática do “golden shower”).
Para considerável parcela da população brasileira, correlata à atitude submissa e acrítica diante daqueles a quem considera “superiores”, há uma tendência a posturas intolerantes e agressivas direcionadas contra todos aqueles a quem considera “inferiores” ou “diferentes”. São pessoas que foram formatadas para naturalizar e até sentir prazer com o sofrimento e a dor, tanto alheia quanto própria. Assim, aplaudem medidas que são flagrantemente contrárias aos seus interesses e direitos, bem como reproduzem condutas que identifica no “grupo moral” que o despreza e ao qual gostaria de pertencer.
O indivíduo sadomasoquista se submete acriticamente à autoridade idealizada e deseja um líder forte capaz de decidir por ele, limitando os riscos e desafios inerentes ao pleno exercício da liberdade. Vale dizer que se trata de uma postura que ultrapassa o respeito realista e equilibrado relacionado à autoridade legítima, mas que se aproxima de uma necessidade pulsional de se submeter e, por vezes, se humilhar. Ao mesmo tempo, verifica-se em grande parte da população um desejo de sacrificar seus prazeres, seus direitos e suas garantias fundamentais se isso significar a vingança e a punição dos “inimigos” (ainda que imaginários) ou, ainda, a manutenção da distância social em relação àqueles a que considera inferiores.
Diante desse quadro, pode-se falar em uma perversão baseada em um modo de satisfação individual ligado ao sofrimento do outro ou ao que se origina do sujeito humilhado. Como já percebia Freud (1905), “o sádico é sempre e ao mesmo tempo um masoquista”. Tem-se, aqui, uma inter-relação de duas posições (componente sádico e componente masoquista) que se fazem presentes nos conflitos intersubjetivos (dominação-submissão) e na própria estruturação psíquica das pessoas.
Ao tomar o outro ou a si próprio como objeto, bem de acordo com a racionalidade neoliberal, o sujeito exprime uma agressividade prazerosa. A dor do outro e próprio fracasso passam a ser vistos como positividades, bem de acordo com a lógica das mercadorias que passa a reger a percepção de todos os fenômenos. Mais do que melhorar de vida, o indivíduo neoliberal-autoritário se contenta em ver os mais pobres fracassarem no projeto de reduzirem a distância social entre as classes. Mais do que o fim dos preconceitos que o atingem, o indivíduo neoliberal-autoritário deseja ver a manutenção dos poucos privilégios que mantém (por vezes, o “privilégio” de ser homem ou branco).
O que o presidente chama de “conservador e cristão”, saiba ele ou não, são indivíduos perversos que por medo da liberdade, por força da crença na violência, do ódio ao saber ou da manutenção dos preconceitos de gênero, de raça, de classe e de plasticidade apoiam (ou, ao menos, aceitam) o desmatamento criminoso da Amazônia, o aumento da violência doméstica, a redução dos direitos trabalhistas e previdenciários, a violência policial, o crescimento dos grupos paramilitares, o desmonte da educação pública, as mortes evitáveis diante da pandemia em razão do Covid 19, dentre outras ações que causam sofrimento. Sem recorrer ao conceito de sadomasoquismo fica difícil explicar o Brasil.
Calote e desvio de finalidade
A proposta de Renda Cidadã, anunciada ontem pelo governo, não teve boa aceitação no Congresso, nem no mercado financeiro. O projeto foi embarcado na chamada PEC Emergencial pelo seu relator, o senador Marcio Bittar (MDB-AC), com o propósito de obter de R$ 25 bilhões a R$ 30 bilhões a mais que os recursos destinados ao Bolsa Família, que será extinto pelo presidente Jair Bolsonaro porque é a cara do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A intenção do governo é conceder um auxilio de até R$ 300 para cada beneficiado, ampliando a base do programa para um número maior de pessoas, mas esses recursos não estão disponíveis no Orçamento da União de 2021.
Os parlamentares são a favor da transferência de renda para as parcelas mais carentes da população, mas não quanto à origem dos recursos, que muitos interpretam como uma maneira de burlar o teto de gastos (o aumento das despesas do governo não pode ultrapassar a taxa de inflação) e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dinheiro sairia dos recursos destinados aos precatórios, que são as dívidas judiciais do governo já transitadas em julgado, uma espécie de calote temporário, e de uma parcela do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que levaria uma mordida de 5%, a pretexto de que o dinheiro seria vinculado à obrigação de as crianças das famílias beneficiadas frequentarem a escola.
Os parlamentares são a favor da transferência de renda para as parcelas mais carentes da população, mas não quanto à origem dos recursos, que muitos interpretam como uma maneira de burlar o teto de gastos (o aumento das despesas do governo não pode ultrapassar a taxa de inflação) e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dinheiro sairia dos recursos destinados aos precatórios, que são as dívidas judiciais do governo já transitadas em julgado, uma espécie de calote temporário, e de uma parcela do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), que levaria uma mordida de 5%, a pretexto de que o dinheiro seria vinculado à obrigação de as crianças das famílias beneficiadas frequentarem a escola.
Segundo Bittar, o valor do benefício ainda não foi fixado, devendo ficar entre R$ 200 e R$ 300 (o Bolsa Família chega até R$ 205 para cinco beneficiados). Especialistas em contas públicas avaliam que a proposta adia indefinidamente o pagamento de dívidas da União, além de mascarar a ultrapassagem do teto de gastos ao destinar recursos do Fundeb para o Renda Cidadã, o que muitos interpretam como um desvio de finalidade. A reação do mercado foi péssima: a Bovespa desabou e o Banco Central (BC) teve de vender dólares para evitar que subisse muito.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes negociaram a proposta com Bittar e os líderes do governo no Congresso, mas ainda não existe massa crítica no Senado nem na Câmara para aprovação do novo programa. A construção dessa maioria não será fácil, mas não é impossível, porque muitos parlamentares, nas duas Casas, defendem uma política de transferência de renda para as pessoas que ficaram desempregadas ou sem seus pequenos negócios durante a pandemia. Entretanto, aprovar um calote nos precatórios e tirar recursos do Fundeb é outra história. Os lobbies dos advogados e da Educação são muito ativos e fortes. A inclusão da proposta na PEC Emergencial dificulta muito a aprovação, porque exige quorum elevado, mas, em contrapartida, reduz as possibilidades de judicialização do Renda Cidadã.
A grande questão é que o governo está sendo pressionado pela recessão a adotar medidas que compensem o desemprego, que deverá chegar a 18% da População Economicamente Ativa (PEA). A prorrogação do auxílio emergencial, até dezembro, no valor de R$ 300, mitigou a recessão e o desemprego, mas é preciso pôr alguma coisa no lugar a partir de janeiro.
A grande aposta de Guedes para viabilizar o programa continua sendo a reforma tributária, na qual pretende criar um imposto digital, que está sendo chamado de nova CPMF, a pretexto de compensar a desoneração da folha de pagamentos. Ocorre que o Congresso não é nada simpático à criação de um novo imposto às vésperas das eleições municipais. Bittar anunciou também a criação de gatilhos para manter o teto de gastos e a redução em até 25% dos salários dos servidores. As duas propostas também terão dificuldades para aprovação, mas o Palácio do Planalto está mais confiante na capacidade de articulação de seus líderes no Congresso e na força do chamado Centrão.
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes negociaram a proposta com Bittar e os líderes do governo no Congresso, mas ainda não existe massa crítica no Senado nem na Câmara para aprovação do novo programa. A construção dessa maioria não será fácil, mas não é impossível, porque muitos parlamentares, nas duas Casas, defendem uma política de transferência de renda para as pessoas que ficaram desempregadas ou sem seus pequenos negócios durante a pandemia. Entretanto, aprovar um calote nos precatórios e tirar recursos do Fundeb é outra história. Os lobbies dos advogados e da Educação são muito ativos e fortes. A inclusão da proposta na PEC Emergencial dificulta muito a aprovação, porque exige quorum elevado, mas, em contrapartida, reduz as possibilidades de judicialização do Renda Cidadã.
A grande questão é que o governo está sendo pressionado pela recessão a adotar medidas que compensem o desemprego, que deverá chegar a 18% da População Economicamente Ativa (PEA). A prorrogação do auxílio emergencial, até dezembro, no valor de R$ 300, mitigou a recessão e o desemprego, mas é preciso pôr alguma coisa no lugar a partir de janeiro.
A grande aposta de Guedes para viabilizar o programa continua sendo a reforma tributária, na qual pretende criar um imposto digital, que está sendo chamado de nova CPMF, a pretexto de compensar a desoneração da folha de pagamentos. Ocorre que o Congresso não é nada simpático à criação de um novo imposto às vésperas das eleições municipais. Bittar anunciou também a criação de gatilhos para manter o teto de gastos e a redução em até 25% dos salários dos servidores. As duas propostas também terão dificuldades para aprovação, mas o Palácio do Planalto está mais confiante na capacidade de articulação de seus líderes no Congresso e na força do chamado Centrão.
Assinar:
Comentários (Atom)