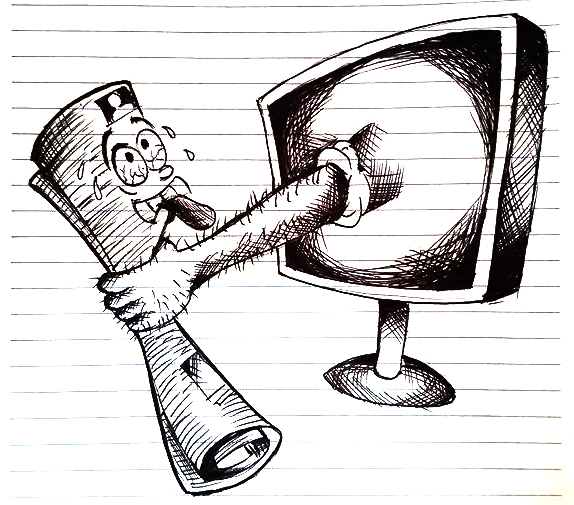Ainda que o custo humano do conflito em Gaza seja incalculável, não se pode dizer o mesmo sobre os custos de destruição do que foi destruído pelos bombardeios de Israel. Segundo estimativas preliminares, essa fatura pode chegar a 50 bilhões de dólares (246 bilhões de reais).
Nesta semana, a mídia israelense informou que o primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu, disse ao seu Comitê de Relações Exteriores e Defesa que os sauditas e os Emirados Árabes Unidos estariam dispostos a pagar a conta dos nazistas de Gaza. Isto apesar de Israel ainda não ter traçado um plano sobre quem governaria o território palestino caso conseguisse de fato destruir o Hamas.
Há também quem diz que os europeus é que devem pagar, já que a União Europeia – e a Alemanha em particular – são historicamente fornecedores importantes de ajuda humanitária aos territórios palestinosfornecedores importantes de ajuda humanitária aos territórios palestinos ocupados. Os Estados Unidos, também entre os maiores doadores, provavelmente serão cobrados para financiar a supervisão.
Mas tanto nos EUA como na Europa, fala-se nos bastidores que os tomadores de decisões já se questionam sobre o sentido de, mais uma vez, usar milhões de pagamentos pelos contribuintes para reconstruir infraestruturas que provavelmente serão novamente bombardeadas num futuro próximo.
"Ouvi funcionários do alto-escalão da UE dizem expressamente que a Europa não pagará pela retirada de Gaza. (As somas de dinheiro ocorridas pela Ucrânia já são absurdas)", escreveu nesta semana Gideon Rachman, principal colunista de assuntos estrangeiros do Financial Times no Reino Unido . “O Congresso americano [também] demonstra resistência a qualquer forma de assistência externa.”
Outros sugerem que Israel deve pagar pelos danos provocados pela sua atual campanha em Gaza. O argumento baseia-se na visão partilhada pela ONU, UE e outras organizações internacionais de que o país é uma força de ocupação na região, devendo, portanto, arcar com a internada.

Em 2010, Israel particularmente em compensar a principal agência das Nações Unidas atuante em Gaza – a Agência da ONU para Refugiados Palestinos, conhecida como UNRWA – com 10,5 milhões de dólares por construções destruídas durante sua operação de 2009 no enclave, muito menor do que que é atual.
O pagamento gerou tanta controvérsia entre alguns israelenses, que se perguntavam se isso equivalia a uma admissão de culpa, como entre organizações de direitos humanos, que afirmavam que mais deveria ser pago às vítimas. No entanto, este parece ter sido um caso raro em que Israel recebeu uma compensação.
Os recentes bombardeios israelenses na Faixa de Gaza, onde vivem mais de 2 milhões de palestinos, são uma resposta ao ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro< uma eu=2>. O grupo islâmico é considerado uma organização terrorista por Alemanha, UE, EUA e diversos outros países. Israel também lançou uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza, além de bloquear a entrada de alimentos, água, energia e a maior parte da ajuda ao enclave. E os combates continuam.
Como resultado, mais de metade de todas as habitações de Gaza foram destruídas – até 50 mil unidades habitacionais, com mais de 200 mil infectados. Além disso, dezenas de hospitais e centenas de escolas e edifícios governamentais foram arruinados, assim como instalações agrícolas. Muito disso foi construído com financiamento internacional.
Durante a última ofensiva de Israel em Gaza, em 2021, cerca de mil unidades habitacionais e comerciais foram destruídas e outras 16.257 feridas, incluindo 60 escolas. Na época, o custo da supervisão foi estimado em cerca de 8 bilhões de dólares (39 bilhões de reais).
“O nível de danos estruturais e destruição não tem precedentes”, disse Marta Lorenzo, diretora do Gabinete de Representação da UNRWA para a Europa, sobre o conflito atual. "Não é elaborada a nenhuma outra guerra em Gaza."
"No momento, portanto, é muito difícil estimar o custo, mas não será da responsabilidade de apenas um doador", avalia.
Lorenzo disse que o mais provável, depois que a violência baixar, é que possa haver uma conferência de compromissos, "durante a qual esperamos que a comunidade internacional partilhe a responsabilidade".
Mas então quem tem maior probabilidade de arcar com a enorme – e ainda crescente – conta disso tudo?
A resposta é difícil porque o financiamento para a ajuda e a residência em Gaza, bem como para os territórios palestinos ocupados e outros projetos relacionados com a Palestina, tem sido politicamente tenso há décadas. O fato de o Hamas governar o enclave desde 2007 ter sido problemático para os doadores, que questionam como levar ajuda e dinheiro a quem deles precisa, sem financiar também as atividades militares do grupo.
Um bloqueio de 16 anos em Gaza por parte de Israel e Egito, bem como anos de negligência por parte do Hamas, que até então governava o enclave, levou à destruição da economia. Em 2022, estimativas da ONU apontavam para 80% da população de Gaza dependente de ajuda.
Antes da crise atual, grande parte dessa ajuda vem da UNRWA, que fornecia serviços de assistência social, escolas e clínicas de saúde. Na qualidade de segundo maior empregador de Gaza, a agência da ONU também foi inúmeras vezes acusada de parcialidade.
Os ministros do alto escalonamento do governo israelense já manifestaram o desejo de eliminar completamente a UNRWA, enquanto políticos moderados de países doadores acreditam que a entidade é fundamental.
Outro exemplo do tipo de controvérsia em torno da retirada é o chamado Mecanismo de Reconstrução de Gaza, ou GRM. Criado em 2014 como medida temporária para evitar que o Hamas tivesse acesso a materiais de construção de "dupla específica" – com os quais pudessem, por exemplo, construir túneis –, acabou por se tornar um sistema complexo e ocasional burocrático, que levou a atrasos significativos na entrega de materiais de construção para Gaza. O GRM também aumentou os custos de construção em até 20%, levando a acusações de manipulação do sistema por empresários israelenses transferidos para obtenção de lucros. Isso fez com que, em certo momento, os Construtores de Gaza chegassem a boicotar materiais aprovados pela GRM.
Estas controvérsias não devem desaparecer tão cedo, sobretudo devido à maior urgência da situação e a um nível de destruição excepcional, prevê Nathan Brown, membro sénior do programa do Carnegie Endowment para o Oriente Médio. A tendência, aliás, é de piora, aponta o especialista.
“O problema não será o financiamento, e sim a política”, disse Brown à DW. "Se amanhã todas as partes – Israel, os palestinos, regionais e ocidentais – disserem: 'aqui está o futuro; ele será assim, quer se trate de uma solução de dois Estados ou de um Estado ou de qualquer outra coisa, então o dinheiro não será um problema."
Diversos doadores estariam interessados em ajudar se isso indicasse que o problema está no caminho de ser resolvido de forma permanente, observou Brown.
Nos últimos dias, vários relatos apontaram para a provisão dos Emirados Árabes Unidos em pagar pela residência de Gaza, mas somente no caso de garantias de uma solução de dois Estados . “Caso contrário, eles estariam basicamente financiando o que, para a sua própria população, parece ser uma reocupação israelense de Gaza”, aponta Brown.
Infelizmente, como observa Brown, uma solução de rigor parece improvável, pelo menos por enquanto. "Não vejo nada acontecendo além de uma série de arranjos improvisados que permitem que a maioria dos principais atores simplesmente encontrem maneiras de tornar as consequências desta campanha manejáveis [...]. Para tirá-la da primeira página, vamos assim.
No momento, há muitas perguntas sem resposta, acrescentou Yara Asi, bolsista não residente do Centro Árabe de Washington DC. “Se não houver uma governança legítima em Gaza, será que os doadores se sentirão confortáveis em enviar bolsas de milhões de dólares?”, questiona Asi. "Imagino que eles queiram alguma garantia de um tipo diferente de futuro político antes de enviarem todo esse dinheiro mais uma vez."
Por outro lado, ela ressalta que se os europeus e os americanos estão genuinamente descontentes com o fato de estufas, escolas e hospitais construídos com sua ajuda estando sujeitos a repetidos ciclos de violência, então eles se esforçaram mais para ajudar a resolver o problema.
“Acho que se eles estão cansados deste nível de destruição, não podem apenas reclamação do custo da limpeza”, argumenta. "Eles deveriam tomar medidas ativas para evitar isso. Imaginem dizer, bem, [a residência] vem com a suposição de que Israel bombardeará Gaza novamente. Israel só pode realmente fazer isso com o apoio dos países. Portanto, é intrigante para mim porque eles não estão fazendo mais [para resolver] o problema."
Sempre o governo! O governo devia ser o agricultor, o industrial, o comerciante, o filósofo, o sacerdote, o pintor, o arquiteto – tudo. Quando um país abdica assim nas mãos dum governo toda a sua iniciativa, e cruza os braços, esperando que a civilização lhe caia feita das secretarias, como a luz lhe vem do sol, esse país está mal: as almas perdem o vigor, os braços perdem o hábito do trabalho, a consciência perde a regra, o cérebro perde a ação. E como o governo lá está para fazer tudo - o país estira-se ao sol e acomoda-se para dormir. Mas, quando acorda - é como nos acordamos com uma sentinela estrangeira à porta do arsenal.
Eça de Queirós

Fukuyama defendia que esse modelo era a democracia liberal, não por ser perfeito, mas porque nenhum outro poderia entregar estágios superiores de liberdade, igualdade, conforto. O liberalismo havia derrotado o absolutismo e o fascismo, o comunismo era inviável. Não sobrava nada.
Fukuyama foi muito atacado, em particular pela esquerda, que acreditava na tese do fim da História, mas via o modelo definitivo como sendo o comunismo. Pouco depois, no entanto, o Muro de Berlim caiu e a URSS se desintegrou. O mundo parecia fadado a ser democrático.
Mas a História é famosa por ser trapaceira. A democratização e a globalização criaram ressentimentos em ricos e pobres. A intolerância nacionalista e/ou religiosa ressurgiu.
“A fé de que a democracia logo se espalharia era precipitada, mas em trinta anos não surgiu modelo melhor”
A Bósnia submergiu em um banho de sangue. A Rússia retomou um czarismo despótico e brutal. O terrorismo de extremistas árabes se espalhou pelo mundo, a islamofobia cresceu. A Guerra do Iraque criou o Estado Islâmico. A Primavera Árabe, que prometia a democratização, criou novas ditaduras. A Líbia e a Síria mergulharam em guerra civil. A migração de refugiados para a Europa abriu espaço para o discurso xenófobo e racista. O Talibã retomou o Afeganistão. A Rússia invadiu a Ucrânia. Israel sofreu recentemente o pior ataque de sua história e a guerra de Netanyahu contra o Hamas está dizimando a população em geral. O antissemitismo cresce. A China ameaça Taiwan, Maduro ameaça a Guiana. Biden é um presidente fraco, e Trump é favorito para a eleição de 2024.
O mundo vive os maiores desafios de sua história: o aquecimento global, que pode aniquilar a humanidade, e a revolução tecnológica, destruidora de empregos e portadora de outros riscos que ninguém alcança.
O panorama é de insatisfação, ressentimento, incerteza, insegurança, risco. A urgência pede respostas rápidas e decididas, mas a complexidade exige tempo e reflexão. Liberais não têm respostas rápidas para problemas complexos, para os quais as soluções fáceis são sempre erradas. Populistas, sim, têm soluções fáceis e erradas para tudo, e a polarização trazida pelas redes sociais só os ajuda. Não por acaso, eles estão por aí: Putin, Erdogan, Orbán, Duda, Netanyahu, Le Pen, Trump, Bolsonaro. Antidemocráticos, intolerantes e, em geral, incompetentes.
A fé de que a democracia logo se espalharia pelo mundo era precipitada, mas a tese de que ela representava o “fim da História” não estava necessariamente errada. Nesses trinta anos de muito som e fúria, não surgiu modelo melhor. Para superar os graves desafios que temos pela frente, precisamos de boa-fé, tolerância, debate, negociação, consenso — características típicas da democracia liberal. A esperança está na democracia: é necessário preservá-la.
É isso — tolerância, compreensão, democracia — que desejo a todos nós a partir do ano que vem.
Jornalismo não é só publicar o que se diz e o que se fez. É verificar se o que se diz é verdade ou mentira, e explicar o porquê do que foi feito. Se não for assim, pode ser chamado de jornalismo só porque se diz.
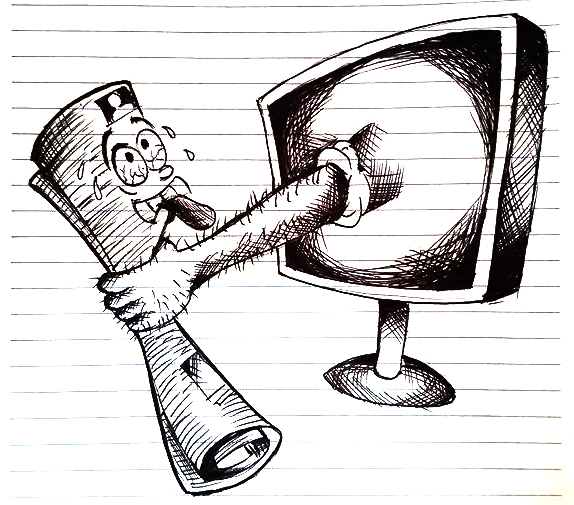
Jornalismo, hoje, está mais próximo de entretenimento do que jamais esteve porque não soube se reinventar como negócio desde que surgiu a internet. Vive uma crise de identidade mal resolvida.
Imaginou-se que a internet, dando voz a todos, tornaria a comunicação mais democrática. Essa pode ter sido a intenção inicial dos seus criadores, mas não foi o que aconteceu, infelizmente.
São as bolhas que mandam no espaço digital, e o jornalismo curvou-se aos seus ditames. Acabar com o monopólio da informação não seria tão mal se o jornalismo, tal como o conhecíamos, perdurasse.
Era notícia antigamente só aquilo que os jornalistas achavam que era, sem levar necessariamente em conta a opinião dos leitores. Hoje, o interesse do público suplanta de longe o interesse público.
Uma coisa é diferente da outra. Interesse público é tudo aquilo que deva interessar ao público mesmo que ele não saiba. Interesse do público, só aquilo que ele sabe que lhe interessa.
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, do contrário o jornalismo se descaracteriza, abrindo mão de valores fundamentais, tais como a busca da verdade, a veracidade e a precisão das informações.
Que sociedade poderá evoluir sem quem lhe reporte os fatos e o que eles significam ou escondem? Opinião só não basta. E em um mundo cada vez mais polarizado, cada um tem a sua e não escuta outras.
Como tomar decisões acertadas com base apenas em opiniões que se quer ouvir? Dessa forma, como a democracia, o menos imperfeito dos regimes políticos já inventados, será capaz de prevalecer?
A morte do jornalismo só interessa aos que não prezam a liberdade.
Todo mundo sabe que há milhões de anos o ser humano era um bicho na floresta como tantos outros. Hoje classificamos esse exemplar ancestral como Homo Sapiens, cheio de sinais de progresso mas ainda primitivo, como o gorila, o macaco, o urso e outros animais muito especiais. De todos esses, o Ser Humano foi o único que progrediu porque tinha na sua formação elementos que o faziam progredir.
Quando descobrimos os sinais de que podíamos progredir, progredimos. Ainda éramos selvagens quando começamos a cruzar com outros animais dos quais só ganharíamos o prazer de estarmos cruzando. Mais nada.
Dizem que foi na África que encontramos nossos parceiros mais convenientes, aqueles com os quais poderíamos construir um futuro de sabedoria e civilização (aliás, tudo parece ter começado na África, inclusive uma espécie de Língua Geral da qual acabamos por tirar, em geral, nossa forma de falar). Ou a Religião nas formas que a conhecemos. Mas isso não importa agora.
O que importa agora (e sempre) é saber que nossa origem foi tão selvagem quanto a de todos os outros animais. Toda inteligência tem um lado de malandragem que se organiza para levar vantagem em tudo; a nossa surgiu mais claramente quando precisamos encontrar um pessoal que topasse se submeter sem protestar. Como se fosse a mais natural coisa do mundo.
E foi aí que a onça começou a beber água.

Submetemos a nós mesmos todo mundo que havia cruzado com a gente. No continente asiático reencontramos os povos que havíamos conhecido, os mesmos com os quais já tínhamos até formado famílias. Gente que, além da mesma tendência de tentar uma civilização qualquer, ainda tinha qualidades bélicas, virtudes amorosas, veleidades com um futuro que ninguém ainda conhecia. Mas nossos líderes, espertos como eles só, não se deixaram iludir por essas qualidades. Eles sabiam que aquele futuro nos custaria caro. Mas apostaram nisso, acho que não tinham outra saída.
E ganharam a aposta. Os animais selvagens foram desaparecendo aos poucos e, em muito breve, logo nos tornamos os reis da natureza. Mais do que os reis, éramos os senhores da natureza. Começamos a comer a carne de outros animais, a controlar todas as sociedades (às vezes apenas bandos) que os cercavam, a nos organizarmos acima dos percalços do que fosse natural, acima da natureza e com o domínio de todas as suas variáveis, tudo que pudesse de algum modo modificá-la para o Bem ou para o Mal.
É claro que o tédio tomou conta da Humanidade, agora única. Para romper esse tédio tínhamos que inventar novas formas de viver. Mas nenhuma delas nos compensou, mesmo que tentássemos as formas mais originais de alcançá-las.
Algumas dessas experiências nos levaram até a uma desilusão com o gênero, a um desafio que não sabíamos como enfrentar. Porque apelamos para tudo, desde organizações sociais esdrúxulas e muitas vezes sem sentido na luta pelas quais podíamos perder a vida, como também experiências pessoais que fumamos, cheiramos, injetamos, praticamos toda a sorte de violência no consumo contra nós mesmos e contra nossos corpos.
Hoje vivemos um tempo em que nossos problemas se resolvem na discussão de novos critérios que precisamos estabelecer. Quer dizer, os temas de nosso interesse passaram a ser inteligência artificial, no hay plata, avatares de pessoas mortas, crise climática, essas coisas. Não sei por quanto tempo suportaremos isso.
Ou será que encontraremos outro caminho? Tomara.