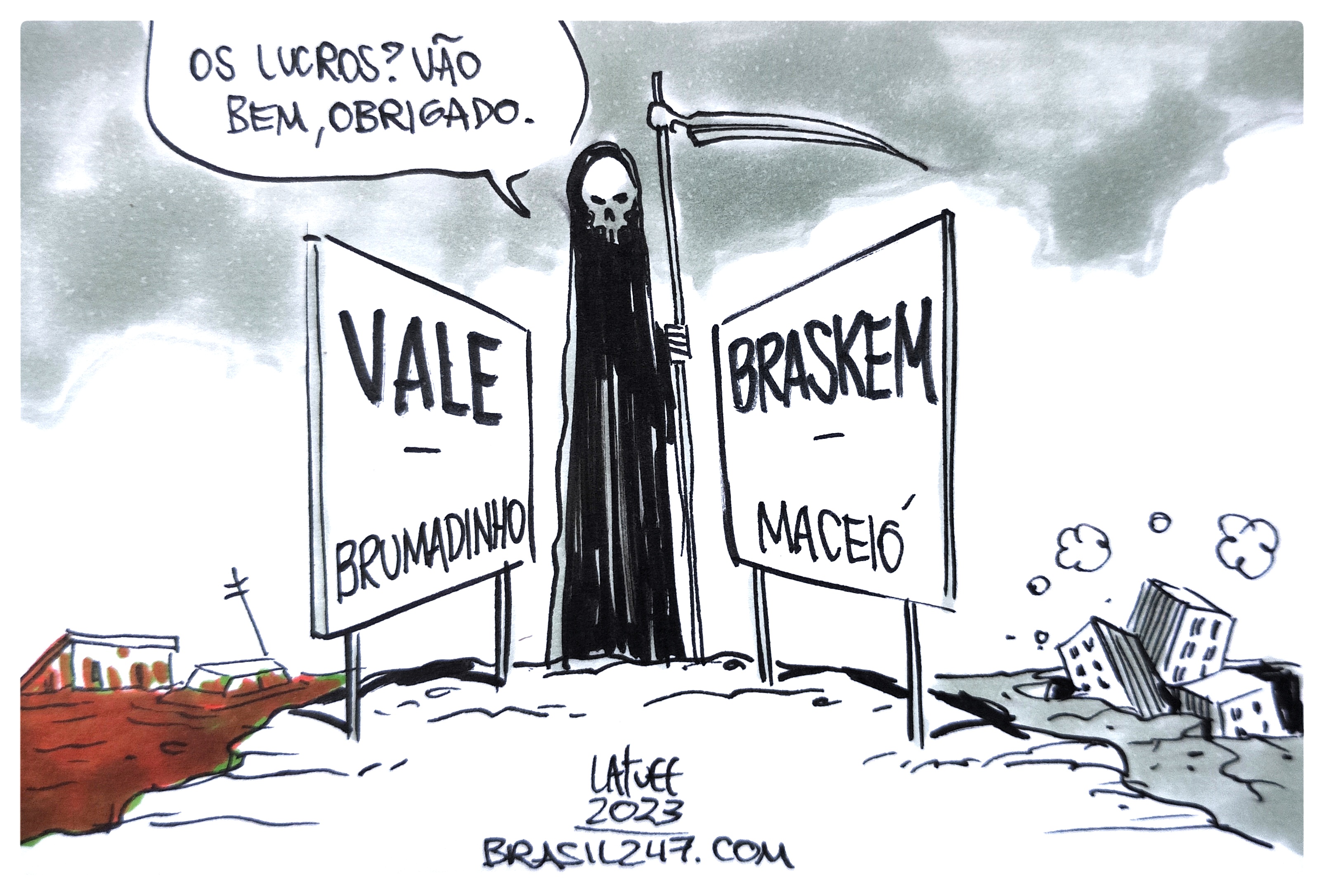domingo, 10 de dezembro de 2023
Quem se importará quando pouco ou nada mais restar de Gaza?
Uma vez, no fim dos anos 1980, em Hamburgo, durante entrevista coletiva, perguntei ao presidente do Banco Central da Alemanha sobre as chances de os países africanos se desenvolverem. Não lembro por quê, mas a África estava na moda naquela ocasião.
Ele me olhou surpreso e respondeu? “África? A África não tem a menor importância. Próxima pergunta.” Tinha pressa, e dali a duas horas uma reunião com diretores do banco em Berlim. Não perderia tempo a conversar sobre o continente mais pobre do mundo.
Esta é uma das vantagens do mundo globalizado e digital: há mais de 60 dias conversamos sem cessar sobre a carnificina promovida por Israel na miserável e superpovoada Faixa de Gaza. O legítimo direito de Israel à defesa escalou para o ilegítimo direito ao massacre.
O show de cinismo dos líderes das principais potências mundiais é vergonhoso e dá asco. Ante o crescente número de palestinos mortos, cerca de 18 mil a essa altura, 70% deles mulheres e crianças, renovam a todo instante seu apoio a Israel, mas sugerem moderação.
Israel agradece o apoio e continua a matar inocentes onde quer que estejam a pretexto de que os terroristas do Hamas se escondem por trás deles. É como se dissesse: sinto muito, mas vou matá-lo porque na sua cidade, no seu bairro, no seu prédio pode haver terroristas.
Pode haver, não obrigatoriamente há. Mas, na dúvida, que morram todos. O Hamas, enquanto grupo organizado e bem armado, é cria de Israel, que imaginou corrompê-lo como fez com a Autoridade Palestina, que finge governar a Cisjordânia, suposto território palestino.
Para vingar-se da invasão sangrenta do 7 de Outubro e demonstrar suas boas intenções humanitárias, Israel ordenou aos palestinos de Gaza que se mudassem do Norte do enclave para o Sul. Mais da metade deles obedeceu para salvar a pele. Israel, agora, os mata no Sul.
Nesse ritmo, não ficará pedra sobre pedra em Gaza, e a população que restar quando a guerra chegar ao fim não terá onde viver, o que comer, onde se tratar. Dependerá da caridade internacional, e essa da pressão da volúvel opinião pública sempre ávida por novidades.
No mesmo dia em que orientou o embaixador do seu país no Conselho de Segurança da ONU a vetar mais uma resolução que pedia novo cessar-fogo em Gaza, o presidente americano, Joe Biden, voltou a pedir a Israel que proteja os civis palestinos.
Como seus apelos repetidos dia sim e outro também esbarram em ouvidos moucos, por que Biden não suspende a venda de armas de destruição em massa a Israel? Não: Biden briga com o Congresso para que libere mais uma ajuda de 14 bilhões de dólares a Israel.
Assim caminha a desumanidade.
Ele me olhou surpreso e respondeu? “África? A África não tem a menor importância. Próxima pergunta.” Tinha pressa, e dali a duas horas uma reunião com diretores do banco em Berlim. Não perderia tempo a conversar sobre o continente mais pobre do mundo.
Esta é uma das vantagens do mundo globalizado e digital: há mais de 60 dias conversamos sem cessar sobre a carnificina promovida por Israel na miserável e superpovoada Faixa de Gaza. O legítimo direito de Israel à defesa escalou para o ilegítimo direito ao massacre.
O show de cinismo dos líderes das principais potências mundiais é vergonhoso e dá asco. Ante o crescente número de palestinos mortos, cerca de 18 mil a essa altura, 70% deles mulheres e crianças, renovam a todo instante seu apoio a Israel, mas sugerem moderação.
Israel agradece o apoio e continua a matar inocentes onde quer que estejam a pretexto de que os terroristas do Hamas se escondem por trás deles. É como se dissesse: sinto muito, mas vou matá-lo porque na sua cidade, no seu bairro, no seu prédio pode haver terroristas.
Pode haver, não obrigatoriamente há. Mas, na dúvida, que morram todos. O Hamas, enquanto grupo organizado e bem armado, é cria de Israel, que imaginou corrompê-lo como fez com a Autoridade Palestina, que finge governar a Cisjordânia, suposto território palestino.
Para vingar-se da invasão sangrenta do 7 de Outubro e demonstrar suas boas intenções humanitárias, Israel ordenou aos palestinos de Gaza que se mudassem do Norte do enclave para o Sul. Mais da metade deles obedeceu para salvar a pele. Israel, agora, os mata no Sul.
Nesse ritmo, não ficará pedra sobre pedra em Gaza, e a população que restar quando a guerra chegar ao fim não terá onde viver, o que comer, onde se tratar. Dependerá da caridade internacional, e essa da pressão da volúvel opinião pública sempre ávida por novidades.
No mesmo dia em que orientou o embaixador do seu país no Conselho de Segurança da ONU a vetar mais uma resolução que pedia novo cessar-fogo em Gaza, o presidente americano, Joe Biden, voltou a pedir a Israel que proteja os civis palestinos.
Como seus apelos repetidos dia sim e outro também esbarram em ouvidos moucos, por que Biden não suspende a venda de armas de destruição em massa a Israel? Não: Biden briga com o Congresso para que libere mais uma ajuda de 14 bilhões de dólares a Israel.
Assim caminha a desumanidade.
A cura
Acho que precisamos nos unir coletivamente e vivenciar isso juntos. Acho que precisamos nos emocionar com as histórias dos outros. E acho que precisamos nos abrir para a catarse... se pudermos fazer isso, então poderemos começar a nos curar
O artifício é todo nosso
Gostava de ser tão velho que me lembrasse do burburinho que foi quando se inventou a fotografia, mas é como se fosse.
Lembro-me do terror que acompanhou o aparecimento da televisão, das casetes de áudio e vídeo, do computador pessoal, da Internet, e dos computadores de bolso a que chamamos “telemóveis”.
Agora é a inteligência artificial (IA). É diferente? Sim, diz-se sempre que é diferente. Mas a história é sempre a mesma: o roubo da nossa alma, acompanhado pelo desaparecimento de uma coisa que nos faz bem à alma.
A fotografia roubava-nos a alma, estampando com ela num papel. Fazia desaparecer os retratos feitos pelos pintores. A televisão roubava-nos a alma, enchendo-nos de lixo e fixando-nos em casa. Fazia desaparecer o teatro, a rádio e o cinema.
Confundimos sempre os nossos medos com as nossas percepções. Continuamos nas cavernas, a dar os primeiros passos para nos transformarmos em camponeses.
Cada coisa nova que aparece parece que nos vem comer.
A IA parece que vai comer trabalhadores, mas a única coisa que vai comer é trabalhos que ninguém gosta de fazer. Vai ser como a invenção da roda ou da máquina de lavar roupa: o ser humano passa a poder fazer um trabalho de que goste mais.
A IA é um retrato, uma imitação do cérebro humano. Assim como o retrato só dá mais valor à pessoa que foi retratada – mexe-se e fala e dança e faz amor –, a IA só chama a atenção para a maravilha que é o cérebro humano.
Veja-se tudo o que a Disney faz para imitar o movimento dos animais – e depois olhe-se para um gatinho a brincar com uma tampa de esferográfica. Não é espantoso o que um gatinho consegue fazer com uma simples tampa de esferográfica?
Ontem deliciei-me a ver em 3 minutos faz-te-foruardados, um filme chamado Bad CGI Gator em que se exagera a rasquice dos efeitos especiais para salientar o ridículo de um jacaré obviamente fictício.
É o que se está a fazer com a IA, esquecendo o que o artificial faz ao que é natural: endeusa-o.
Lembro-me do terror que acompanhou o aparecimento da televisão, das casetes de áudio e vídeo, do computador pessoal, da Internet, e dos computadores de bolso a que chamamos “telemóveis”.
Agora é a inteligência artificial (IA). É diferente? Sim, diz-se sempre que é diferente. Mas a história é sempre a mesma: o roubo da nossa alma, acompanhado pelo desaparecimento de uma coisa que nos faz bem à alma.
A fotografia roubava-nos a alma, estampando com ela num papel. Fazia desaparecer os retratos feitos pelos pintores. A televisão roubava-nos a alma, enchendo-nos de lixo e fixando-nos em casa. Fazia desaparecer o teatro, a rádio e o cinema.
Confundimos sempre os nossos medos com as nossas percepções. Continuamos nas cavernas, a dar os primeiros passos para nos transformarmos em camponeses.
Cada coisa nova que aparece parece que nos vem comer.
A IA parece que vai comer trabalhadores, mas a única coisa que vai comer é trabalhos que ninguém gosta de fazer. Vai ser como a invenção da roda ou da máquina de lavar roupa: o ser humano passa a poder fazer um trabalho de que goste mais.
A IA é um retrato, uma imitação do cérebro humano. Assim como o retrato só dá mais valor à pessoa que foi retratada – mexe-se e fala e dança e faz amor –, a IA só chama a atenção para a maravilha que é o cérebro humano.
Veja-se tudo o que a Disney faz para imitar o movimento dos animais – e depois olhe-se para um gatinho a brincar com uma tampa de esferográfica. Não é espantoso o que um gatinho consegue fazer com uma simples tampa de esferográfica?
Ontem deliciei-me a ver em 3 minutos faz-te-foruardados, um filme chamado Bad CGI Gator em que se exagera a rasquice dos efeitos especiais para salientar o ridículo de um jacaré obviamente fictício.
É o que se está a fazer com a IA, esquecendo o que o artificial faz ao que é natural: endeusa-o.
Canibalismos
Em tempos diluvianos, éramos animais. O primeiro canibalismo veio com a “alma” ou com a consciência, facultada pela linguagem articulada, que separou o vivido do explicado. Ela engendrou o cisma entre bicho e humanidade nas suas variadas encarnações no “bicho-homem” engendrado entre nós.
Um segundo canibalismo veio alimentado pelo controle do fogo, que, como mostrou Lévi-Strauss, criou a oposição complementar entre o cru (natureza) e o cozido (pacto social ou cultura). Dualidade que consolidou a diferença entre a animalidade governada por instintos inseparáveis de seus portadores do bicho-homem administrado por regras, mandamentos, códigos e crenças. Pelo que os antropólogos chamam de “cultura”, que, como as múltiplas línguas, é imposta, varia de grupo a grupo e chega de fora para dentro.
Tal é o desconjuntado conjunto do “bicho-homem” — expressão que, no Brasil, muito sabiamente, caracteriza a condição humana, pois não são poucas as situações em que o bicho canibaliza o homem, como testemunha a História.
Não custa muito imaginar que nossas crenças se transformem em dogmas e determinismos legitimadores de abomináveis opressões e preconceitos que levam à morte, à destruição e à guerra. O bicho-homem morre, mas sua voz — centrada naquilo que lhe foi dado a acreditar — fica como prova dessa combinação intrigante e insolúvel.
O bicho faz perna com o homem. O homem canibaliza o bicho, mas é eventualmente por ele canibalizado.
Bicho faz sistema com o cru e o homem com o cozido. O fogo e a palavra são os mediadores dessa humanização, mas nem sempre, como experimentamos recorrentemente, o cozido é saboroso. Ou melhor: quem foi eleito como cozido é cru e, pior, rejeitava as canibalizações habituais.
Eleição faz perna com rebelião e revolução. Felizmente, a violência do autocanibalismo negativo é sublimada pela democracia.
Todo candidato representa uma alternativa a quem governa. Mesmo não sendo dogmático, ele configura opções e, assim, propõe uma transformação do statu quo. Com isso, fica à esquerda e desloca até mesmo os mais notórios populistas-esquerdistas que se transformam em conservadores ou reacionários.
O espírito da democracia tem o pendor de desarticular e relativizar extremos, pois ela se concretiza canibalizando o cru que vira cozido e o cozido, que, reitero, pode se transformar em cru. Num certo sentido, o canibalismo democrático nivela ou desilude os que pensam ter balas de prata e soluções finais para os problemas. Daí a dificuldade de praticar democracia em estruturas sociais de fundo histórico aristocrático, escravista — obviamente racista — e elitista. Em sistemas fundados nas hierarquias do “sabe quem está falando?” e do “esse eu conheço!”...
Todo candidato eleito num sistema democrático sabe que será canibalizado por diversas ondas de poderosos agentes sociopolíticos.
Em primeiro lugar, chega o cargo com seus encargos práticos, seu fascínio litúrgico e seu potencial de mando e negociação que imediatamente equaciona limites e fronteiras.
Em seguida, chega o partido, com suas demandas e cobranças. E, finalmente, chega o enxame dos elos pessoais. As dívidas da reciprocidade, do “dar para receber”, quase sempre divergente dos projetos políticos mais racionais e impessoais. Com isso e a seu lado, há o peso do parentesco, do compadrio e das amizades para as quais nada pode ser negado.
Todos esses canibalismos da “casa” se igualam às racionalidades da “rua”. Elas praticamente anulam o universo público em que vive a política.
Essa constelação de canibalismos — do rebelde e revolucionário ao negociador malandro e populista que muda para não mudar — produz uma gramática histórica cuja ambiguidade é irritante. Nela, cada passo adiante promove um retorno. Não é o fim do mundo, porque o novo é inevitável, mas requer muita paciência dos canibais, que, afinal, são velhos amigos e eleitores.
P.S.: Veremos como a “maluquice” de Javier Milei reage à “fritura” canibal portenha.
Um segundo canibalismo veio alimentado pelo controle do fogo, que, como mostrou Lévi-Strauss, criou a oposição complementar entre o cru (natureza) e o cozido (pacto social ou cultura). Dualidade que consolidou a diferença entre a animalidade governada por instintos inseparáveis de seus portadores do bicho-homem administrado por regras, mandamentos, códigos e crenças. Pelo que os antropólogos chamam de “cultura”, que, como as múltiplas línguas, é imposta, varia de grupo a grupo e chega de fora para dentro.
Tal é o desconjuntado conjunto do “bicho-homem” — expressão que, no Brasil, muito sabiamente, caracteriza a condição humana, pois não são poucas as situações em que o bicho canibaliza o homem, como testemunha a História.
Não custa muito imaginar que nossas crenças se transformem em dogmas e determinismos legitimadores de abomináveis opressões e preconceitos que levam à morte, à destruição e à guerra. O bicho-homem morre, mas sua voz — centrada naquilo que lhe foi dado a acreditar — fica como prova dessa combinação intrigante e insolúvel.
O bicho faz perna com o homem. O homem canibaliza o bicho, mas é eventualmente por ele canibalizado.
Bicho faz sistema com o cru e o homem com o cozido. O fogo e a palavra são os mediadores dessa humanização, mas nem sempre, como experimentamos recorrentemente, o cozido é saboroso. Ou melhor: quem foi eleito como cozido é cru e, pior, rejeitava as canibalizações habituais.
Eleição faz perna com rebelião e revolução. Felizmente, a violência do autocanibalismo negativo é sublimada pela democracia.
Todo candidato representa uma alternativa a quem governa. Mesmo não sendo dogmático, ele configura opções e, assim, propõe uma transformação do statu quo. Com isso, fica à esquerda e desloca até mesmo os mais notórios populistas-esquerdistas que se transformam em conservadores ou reacionários.
O espírito da democracia tem o pendor de desarticular e relativizar extremos, pois ela se concretiza canibalizando o cru que vira cozido e o cozido, que, reitero, pode se transformar em cru. Num certo sentido, o canibalismo democrático nivela ou desilude os que pensam ter balas de prata e soluções finais para os problemas. Daí a dificuldade de praticar democracia em estruturas sociais de fundo histórico aristocrático, escravista — obviamente racista — e elitista. Em sistemas fundados nas hierarquias do “sabe quem está falando?” e do “esse eu conheço!”...
Todo candidato eleito num sistema democrático sabe que será canibalizado por diversas ondas de poderosos agentes sociopolíticos.
Em primeiro lugar, chega o cargo com seus encargos práticos, seu fascínio litúrgico e seu potencial de mando e negociação que imediatamente equaciona limites e fronteiras.
Em seguida, chega o partido, com suas demandas e cobranças. E, finalmente, chega o enxame dos elos pessoais. As dívidas da reciprocidade, do “dar para receber”, quase sempre divergente dos projetos políticos mais racionais e impessoais. Com isso e a seu lado, há o peso do parentesco, do compadrio e das amizades para as quais nada pode ser negado.
Todos esses canibalismos da “casa” se igualam às racionalidades da “rua”. Elas praticamente anulam o universo público em que vive a política.
Essa constelação de canibalismos — do rebelde e revolucionário ao negociador malandro e populista que muda para não mudar — produz uma gramática histórica cuja ambiguidade é irritante. Nela, cada passo adiante promove um retorno. Não é o fim do mundo, porque o novo é inevitável, mas requer muita paciência dos canibais, que, afinal, são velhos amigos e eleitores.
P.S.: Veremos como a “maluquice” de Javier Milei reage à “fritura” canibal portenha.
Assinar:
Comentários (Atom)