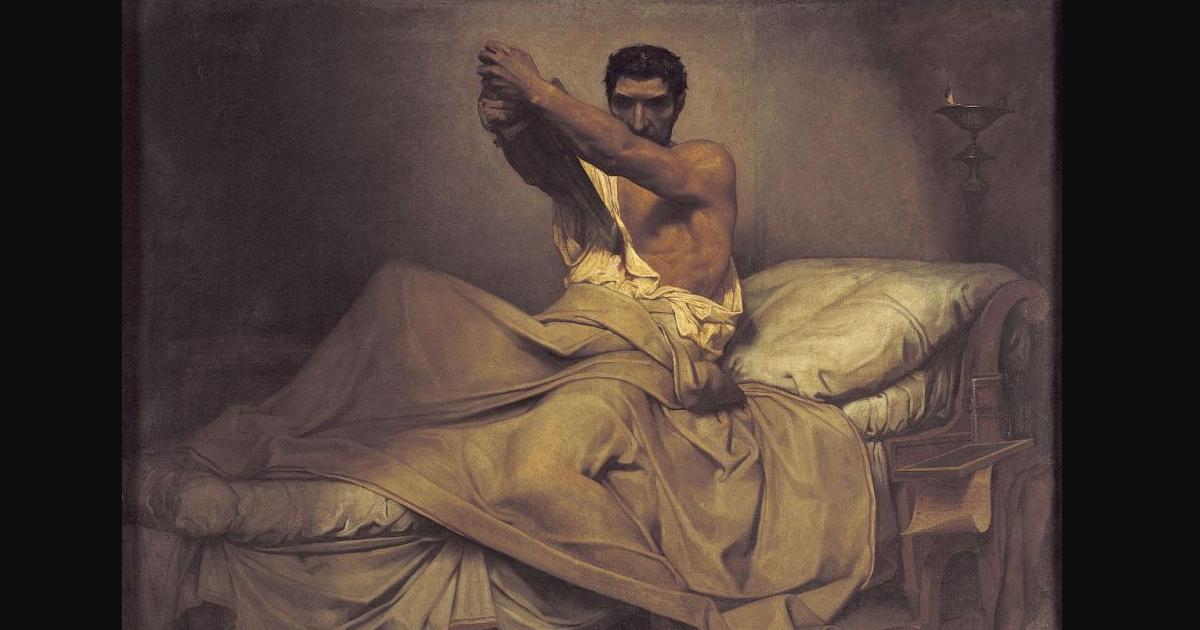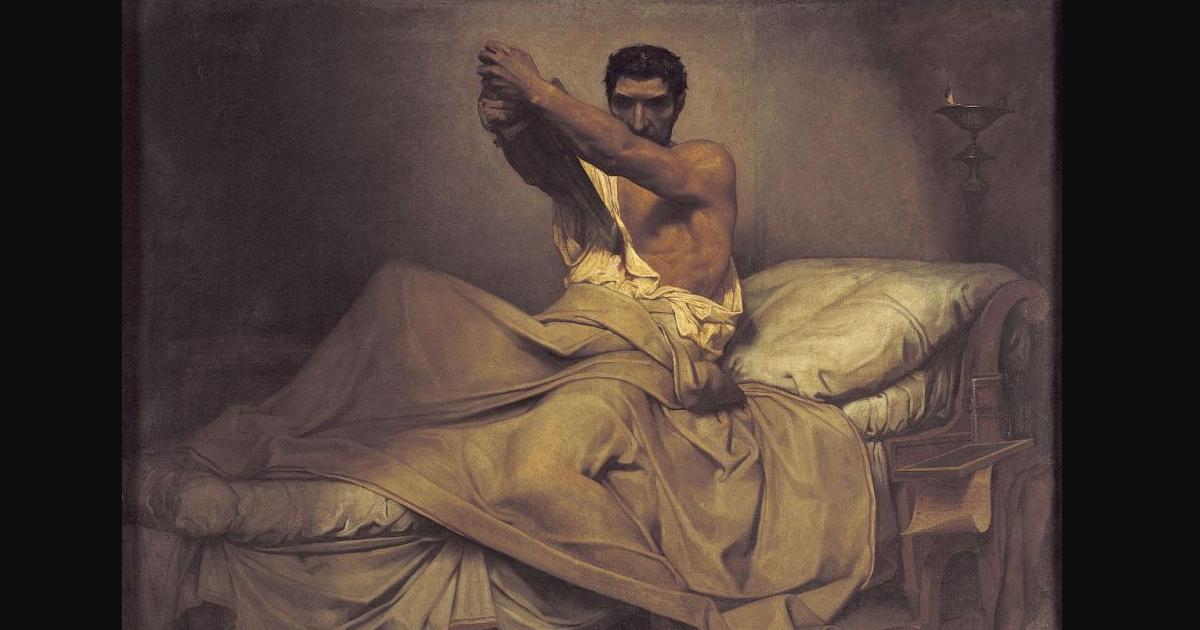 |
Marcus Porcius Cato Uticensis foi grande defensor
da república e ciado como.sábio estoico |
A pátria é triste. Sofro. Estou calmo.
Único honesto, entre deshonestos, clarividente,
entre os cegos, a indignação há muito acalmo.
Estou só. Sofro quando alguém sente.
A honestidade – que solidão! A coragem cansa.
Em breve, cadáver que a outros mortos fala,
penso em Atenas, plena de alegria mansa,
e no coração afogo palavras que o pudor cala.
Estou cansado de prever o negro acontecer.
Algo nasce. Algo morre. Com quem perde, estou.
Honestidade é pátria de quem outra não sabe ter.
Ao abismo das causas perdidas, quieto, vou.
Melhor do que ocupar-me da minha pobre vida,
agora que os pássaros a cantar começam,
na espada pego, com mão há pouco ferida
– o vento rasgo. Percebo que meus pés tropeçam.
Eugénio Lisboa