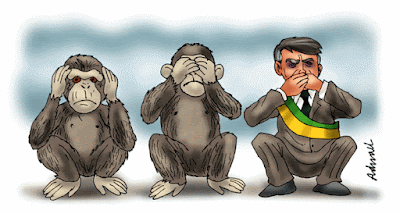sábado, 3 de dezembro de 2022
A falta que um muro de arrimo nos faz
Se fôssemos julgar pelos últimos quatro ou cinco anos, nossa conclusão só poderia ser a de que a maioria dos brasileiros, mesmo os poliglotas e os pertencentes às camadas ditas “nobres”, adora o debate público, não porque tenha grande interesse no desenvolvimento do País, mas porque seus maiores deleites são maldizer as instituições e insultar adversários.
Confesso que não tenho mais paciência para isso. Dou atenção a tais embates – que tiveram seu ápice na eleição presidencial de 2018 – por razões estritamente profissionais. Pessoalmente, posso manifestar desânimo, resmungar e até grunhir quando me deparo com algum fato público abominável – e os há em abundância; mas deixo para os desocupados o contentamento de martelar sandices como essas dos últimos anos.
Nossa história ostenta uma pândega simetria. Cerca de 80 anos atrás, os poliglotas e nobres a que acima me referi, representando-se como combatentes das justas medievais, abarrotavam-se nos melhores salões a fim de esgrimir no mais castiço português a contraposição de suas teses sobre o que significava “ser brasileiro”. Era raro irem à janela para dar uma olhada no ambiente externo; se lá fossem, não veriam muita coisa, pois a iluminação era escassa, uns poucos pobretões matavam o tempo e a maioria da população não estava lá, estava no interior, tentando sobreviver como trabalhadores rurais.
Nos salões, os que se mantinham em suas poltronas acompanhavam a liça, liderada, de um lado, por um grande historiador, Sérgio Buarque de Holanda, do outro pelo poeta Cassiano Ricardo, louvaminheiro-mor da ditadura Vargas. Sérgio defendia que o traço que nos distinguia como povo era um legado português, a “cordialidade”, frisando que tomava esse termo no sentido etimológico (aquilo que vem do coração, que tanto pode ser um jeito pacífico ou um jeito odiento); Cassiano esbravejava que o sentido profundo de nossa cordialidade era não sermos propensos ao conflito, fruto de nossa abundância de recursos, da quantidade de terras, e, portanto, em última análise, da vontade de Deus.
Subjacente a essa elegante esgrima, o que encontramos é a peculiar recusa brasileira em entender que sociedades tanto podem progredir como regredir. Se avanços acontecem, retrocessos, recuos e rupturas também podem acontecer. Já usei este espaço algumas vezes para lembrar que a mesma Argentina que um dia ostentou uma renda anual per capita no mesmo nível da de Espanha, Itália, Alemanha e Suécia, na hora atual marcha célere para se tornar um dos países mais pobres do hemisfério, com uma inflação anual perigando bater nos três dígitos.
E daí?, poderá perguntar meu impaciente leitor. Daí duas coisas. Primeiro, sabemos todos que nossa democracia é defeituosa. Quem preferir viver sob uma ditadura, em vez de contribuir para o aprimoramento desta democracia que bem ou mal temos, só o que tem a fazer é escolher a linha aérea de sua preferência.
Segundo, ressaltar que somos um país sem muro de arrimo. Muro de arrimo, como também sabemos, é uma barreira formada por milhares ou milhões de pedras. Imaginemos, contudo, um arrimo formado não por pedras, mas por milhões de seres humanos – vale dizer, de cidadãos. Para tornar compreensível essa sugestão, permitam-me acrescentar dois pontos. Nossas instituições políticas são inexpugnáveis, invulneráveis, imunes a uma queda como a sofrida pela Argentina durante o século 20. Aos que acreditam piamente na “robustez” de nossas instituições, lembrarei apenas que, mesmo no período dos governos militares, até o poderoso general Ernesto Geisel precisou se precaver contra um golpe. O segundo ponto é nossa distribuição de renda. Ninguém ignora que o conjunto formado pelos 10% mais pobres de nosso país é centenas de vezes maior que o constituído pelos 10% mais ricos. Ou, abrindo um breve espaço para a linguagem jornalística corrente, que os descamisados que passam o dia catando ossos e restos de comida para a sopa da noite são um colossal múltiplo daqueles que vez por outra se reúnem para saborear um camarão e um bom vinho. Entre os de cima e os de baixo, nada há que possa escorar as instituições políticas. Para termos mais segurança, alguns milhões de integrantes das camadas médias teriam de se preparar para uma função de arrimo. Mas, por favor, não me entendam mal: no Brasil (como na maioria dos países semelhantes ao nosso) os desacertos e retrocessos constitucionais são mais frequentemente causados por aqueles, fardados ou não, que preferem crustáceos a sopas de ossos.
Um esclarecimento final. Meu propósito neste artigo não foi entoar cantilenas de Cassandra. Torço para que o próximo governo seja capaz de nos tirar deste atoleiro em que nos meteram. Sempre tive ressalvas a respeito do sr. Lula, mas reconheço que ele amadureceu no transcurso dos últimos 20 anos; reconheço, principalmente, que agora ele parece compenetrado de que nossa primeiríssima prioridade é desarmar os ânimos, ou seja, repor nossa vida pública num ambiente de comedimento e bons modos.
Confesso que não tenho mais paciência para isso. Dou atenção a tais embates – que tiveram seu ápice na eleição presidencial de 2018 – por razões estritamente profissionais. Pessoalmente, posso manifestar desânimo, resmungar e até grunhir quando me deparo com algum fato público abominável – e os há em abundância; mas deixo para os desocupados o contentamento de martelar sandices como essas dos últimos anos.
Nossa história ostenta uma pândega simetria. Cerca de 80 anos atrás, os poliglotas e nobres a que acima me referi, representando-se como combatentes das justas medievais, abarrotavam-se nos melhores salões a fim de esgrimir no mais castiço português a contraposição de suas teses sobre o que significava “ser brasileiro”. Era raro irem à janela para dar uma olhada no ambiente externo; se lá fossem, não veriam muita coisa, pois a iluminação era escassa, uns poucos pobretões matavam o tempo e a maioria da população não estava lá, estava no interior, tentando sobreviver como trabalhadores rurais.
Nos salões, os que se mantinham em suas poltronas acompanhavam a liça, liderada, de um lado, por um grande historiador, Sérgio Buarque de Holanda, do outro pelo poeta Cassiano Ricardo, louvaminheiro-mor da ditadura Vargas. Sérgio defendia que o traço que nos distinguia como povo era um legado português, a “cordialidade”, frisando que tomava esse termo no sentido etimológico (aquilo que vem do coração, que tanto pode ser um jeito pacífico ou um jeito odiento); Cassiano esbravejava que o sentido profundo de nossa cordialidade era não sermos propensos ao conflito, fruto de nossa abundância de recursos, da quantidade de terras, e, portanto, em última análise, da vontade de Deus.
Subjacente a essa elegante esgrima, o que encontramos é a peculiar recusa brasileira em entender que sociedades tanto podem progredir como regredir. Se avanços acontecem, retrocessos, recuos e rupturas também podem acontecer. Já usei este espaço algumas vezes para lembrar que a mesma Argentina que um dia ostentou uma renda anual per capita no mesmo nível da de Espanha, Itália, Alemanha e Suécia, na hora atual marcha célere para se tornar um dos países mais pobres do hemisfério, com uma inflação anual perigando bater nos três dígitos.
E daí?, poderá perguntar meu impaciente leitor. Daí duas coisas. Primeiro, sabemos todos que nossa democracia é defeituosa. Quem preferir viver sob uma ditadura, em vez de contribuir para o aprimoramento desta democracia que bem ou mal temos, só o que tem a fazer é escolher a linha aérea de sua preferência.
Segundo, ressaltar que somos um país sem muro de arrimo. Muro de arrimo, como também sabemos, é uma barreira formada por milhares ou milhões de pedras. Imaginemos, contudo, um arrimo formado não por pedras, mas por milhões de seres humanos – vale dizer, de cidadãos. Para tornar compreensível essa sugestão, permitam-me acrescentar dois pontos. Nossas instituições políticas são inexpugnáveis, invulneráveis, imunes a uma queda como a sofrida pela Argentina durante o século 20. Aos que acreditam piamente na “robustez” de nossas instituições, lembrarei apenas que, mesmo no período dos governos militares, até o poderoso general Ernesto Geisel precisou se precaver contra um golpe. O segundo ponto é nossa distribuição de renda. Ninguém ignora que o conjunto formado pelos 10% mais pobres de nosso país é centenas de vezes maior que o constituído pelos 10% mais ricos. Ou, abrindo um breve espaço para a linguagem jornalística corrente, que os descamisados que passam o dia catando ossos e restos de comida para a sopa da noite são um colossal múltiplo daqueles que vez por outra se reúnem para saborear um camarão e um bom vinho. Entre os de cima e os de baixo, nada há que possa escorar as instituições políticas. Para termos mais segurança, alguns milhões de integrantes das camadas médias teriam de se preparar para uma função de arrimo. Mas, por favor, não me entendam mal: no Brasil (como na maioria dos países semelhantes ao nosso) os desacertos e retrocessos constitucionais são mais frequentemente causados por aqueles, fardados ou não, que preferem crustáceos a sopas de ossos.
Um esclarecimento final. Meu propósito neste artigo não foi entoar cantilenas de Cassandra. Torço para que o próximo governo seja capaz de nos tirar deste atoleiro em que nos meteram. Sempre tive ressalvas a respeito do sr. Lula, mas reconheço que ele amadureceu no transcurso dos últimos 20 anos; reconheço, principalmente, que agora ele parece compenetrado de que nossa primeiríssima prioridade é desarmar os ânimos, ou seja, repor nossa vida pública num ambiente de comedimento e bons modos.
'De que cor é a fome, mãe?'
Li que na grande e rica São Paulo, a maior cidade da América Latina e um estado como toda a Espanha, uma menina do subúrbio perguntou à mãe de que cor é a fome. Ela não perguntou qual era o gosto das dores da fome, ela as conhecia muito bem, mas de que cor. As crianças são tão criativas.
Deve ter sentido o amargor da fome, como sentem hoje milhões de brasileiros , algo que se torna mais agudo na véspera do Natal , para perguntar se, além do gosto amargo, também tem cor.
Essa nova situação paradoxal de um mundo cada vez mais rico e com mais fome por metro quadrado é o que os políticos, todos eles, deveriam estar estudando e resolvendo antes de mais nada.
E é talvez porque a maioria da humanidade, melhor ou pior ainda, continua a comer para sobreviver que não conseguimos compreender a crueldade crua da fome.
Escrevo com conhecimento de causa porque pertenço ao grupo dos que conheceram os golpes da fome. Foi durante a guerra civil espanhola, que foi seguida pela odiosa e dolorosa ditadura de Franco . Sim, então sabíamos o que era a fome, a doçura de um pedaço de pão branco ou preto, trigo ou cevada.
Também a conheci pessoalmente na escola religiosa onde estudei o ensino médio. Éramos jovens e nosso estômago estava sempre reclamando. Na Espanha foram anos de escassez. Muito tempo se passou para mim, mas os sonhos do forno na aldeia da minha infância de onde saíam os pães com cheiro a céu quentes como sóis ainda estão vivos na minha memória.
Na escola davam-nos ao pequeno-almoço café com leite, um pãozinho pontiagudo que acabava com duas dentadas. O que nós inventamos? Corte cada dia os dois picos do pãozinho, guarde-os para ter 14 no final de semana e poder encher a tigela de leite. O triste era que às vezes algum bandido descobria onde eu os guardava e os roubava. Aquele domingo foi duplamente amargo.
Durante o verão, eles nos levaram a alguns acampamentos do exército nos Picos de Urbión, no meio das montanhas. Na nossa idade e andando 20 km todos os dias, nosso apetite era devastador. Foi assim que inventamos tudo. Nos dividimos em grupos para tentar encontrar algo para comer. No meu, alguns de nós íamos pescar trutas com as próprias mãos debaixo das pedras do rio e outros, sobretudo os asturianos, tentavam ordenhar uma vaca. Foi um banquete.
No Natal, às vezes as famílias nos mandavam um tablete de nougat duro. O que fizemos para que durasse mais? Cortamos em pedacinhos e embrulhamos em jornal como bombons para durarem mais. Isso se passou para mim, 75 anos, e ainda me parece agora.
Talvez por pertencer ao grupo dos que acreditam que os tempos passados foram piores, também penso com alguma raiva que hoje não deve faltar comida a ninguém nem Natal sem mimo a uma criança. Estou errado e tenho certeza que neste Natal e neste rico Brasil, milhões de crianças passarão fome novamente.
Ontem, na pequena vila de pescadores, perto do Rio onde moro, presenciei no mercado, na porta de minha casa, uma cena que mesmo que eu vivesse mais 90 anos do que já completei, não conseguiria esquecer. Ela era uma mulher velha, com um rosto magro. Eu estava sozinho. Ela foi comprar bananas. Ela pegou duas, daquelas que são cozidas. Ela foi ao caixa pagar. No caminho, olhou para as moedas em sua mão. E pensou por alguns segundos. Ela se virou e devolveu uma das bananas que havia escolhido. Fiquei tentado a escolher o melhor cacho da mesa do mercado e colocá-lo em sua bolsa. Não o fiz para não a humilhar, mas prometi a mim mesmo que minha primeira coluna seria dedicada ao drama daquela velha que partiu triste com uma única banana na mão.
Em casa, eu não consegui ler os jornais coalhados como sempre com os escândalos de corrupção política enquanto há gente, idosos e crianças que passam fome e até o pão puro, sem nada, tornou-se uma iguaria e um luxo. A raiva subiu aos meus olhos.
Há alguns dias, minha colega Naiara, correspondente deste jornal aqui no Brasil, me perguntou, intrigada, por que em meu recente livro de poemas, Alfabetos Perdidos, dediquei um deles ao “pão”. É que, além das minhas lembranças da fome na infância, ainda tenho a cena vivida aqui em minha casa com um sobrevivente do campo de extermínio nazista de Auschwitz.
Minha esposa preparou uma refeição e fez pão caseiro. Quando o nosso comensal se sentou à mesa, desculpou-se por comer apenas pão e disse-nos que nos anos do inferno em Auschwitz os seus sonhos, os seus desejos mais ardentes, os seus pesadelos, eram um pedaço de pão, duro ou mole, não importava. Era pão. E sim, ele comia apenas pão. Pouco depois soubemos que ele se foi para sempre. Jamais o esquecerei com o pão quente da minha mulher nas mãos comendo-o aos bocadinhos.
Sim, hoje num mundo rico em tecnologia, em milagres da ciência, onde o Homo Sapiens consegue viver cada vez mais e já sonha em conquistar e habitar o cosmos, ainda há crianças sem poder comer no natal e perguntando angelicalmente de que cor é a fome. Isso nos julga e nos condena.
Deve ter sentido o amargor da fome, como sentem hoje milhões de brasileiros , algo que se torna mais agudo na véspera do Natal , para perguntar se, além do gosto amargo, também tem cor.
Essa nova situação paradoxal de um mundo cada vez mais rico e com mais fome por metro quadrado é o que os políticos, todos eles, deveriam estar estudando e resolvendo antes de mais nada.
E é talvez porque a maioria da humanidade, melhor ou pior ainda, continua a comer para sobreviver que não conseguimos compreender a crueldade crua da fome.
Escrevo com conhecimento de causa porque pertenço ao grupo dos que conheceram os golpes da fome. Foi durante a guerra civil espanhola, que foi seguida pela odiosa e dolorosa ditadura de Franco . Sim, então sabíamos o que era a fome, a doçura de um pedaço de pão branco ou preto, trigo ou cevada.
Também a conheci pessoalmente na escola religiosa onde estudei o ensino médio. Éramos jovens e nosso estômago estava sempre reclamando. Na Espanha foram anos de escassez. Muito tempo se passou para mim, mas os sonhos do forno na aldeia da minha infância de onde saíam os pães com cheiro a céu quentes como sóis ainda estão vivos na minha memória.
Na escola davam-nos ao pequeno-almoço café com leite, um pãozinho pontiagudo que acabava com duas dentadas. O que nós inventamos? Corte cada dia os dois picos do pãozinho, guarde-os para ter 14 no final de semana e poder encher a tigela de leite. O triste era que às vezes algum bandido descobria onde eu os guardava e os roubava. Aquele domingo foi duplamente amargo.
Durante o verão, eles nos levaram a alguns acampamentos do exército nos Picos de Urbión, no meio das montanhas. Na nossa idade e andando 20 km todos os dias, nosso apetite era devastador. Foi assim que inventamos tudo. Nos dividimos em grupos para tentar encontrar algo para comer. No meu, alguns de nós íamos pescar trutas com as próprias mãos debaixo das pedras do rio e outros, sobretudo os asturianos, tentavam ordenhar uma vaca. Foi um banquete.
No Natal, às vezes as famílias nos mandavam um tablete de nougat duro. O que fizemos para que durasse mais? Cortamos em pedacinhos e embrulhamos em jornal como bombons para durarem mais. Isso se passou para mim, 75 anos, e ainda me parece agora.
Talvez por pertencer ao grupo dos que acreditam que os tempos passados foram piores, também penso com alguma raiva que hoje não deve faltar comida a ninguém nem Natal sem mimo a uma criança. Estou errado e tenho certeza que neste Natal e neste rico Brasil, milhões de crianças passarão fome novamente.
Ontem, na pequena vila de pescadores, perto do Rio onde moro, presenciei no mercado, na porta de minha casa, uma cena que mesmo que eu vivesse mais 90 anos do que já completei, não conseguiria esquecer. Ela era uma mulher velha, com um rosto magro. Eu estava sozinho. Ela foi comprar bananas. Ela pegou duas, daquelas que são cozidas. Ela foi ao caixa pagar. No caminho, olhou para as moedas em sua mão. E pensou por alguns segundos. Ela se virou e devolveu uma das bananas que havia escolhido. Fiquei tentado a escolher o melhor cacho da mesa do mercado e colocá-lo em sua bolsa. Não o fiz para não a humilhar, mas prometi a mim mesmo que minha primeira coluna seria dedicada ao drama daquela velha que partiu triste com uma única banana na mão.
Em casa, eu não consegui ler os jornais coalhados como sempre com os escândalos de corrupção política enquanto há gente, idosos e crianças que passam fome e até o pão puro, sem nada, tornou-se uma iguaria e um luxo. A raiva subiu aos meus olhos.
Há alguns dias, minha colega Naiara, correspondente deste jornal aqui no Brasil, me perguntou, intrigada, por que em meu recente livro de poemas, Alfabetos Perdidos, dediquei um deles ao “pão”. É que, além das minhas lembranças da fome na infância, ainda tenho a cena vivida aqui em minha casa com um sobrevivente do campo de extermínio nazista de Auschwitz.
Minha esposa preparou uma refeição e fez pão caseiro. Quando o nosso comensal se sentou à mesa, desculpou-se por comer apenas pão e disse-nos que nos anos do inferno em Auschwitz os seus sonhos, os seus desejos mais ardentes, os seus pesadelos, eram um pedaço de pão, duro ou mole, não importava. Era pão. E sim, ele comia apenas pão. Pouco depois soubemos que ele se foi para sempre. Jamais o esquecerei com o pão quente da minha mulher nas mãos comendo-o aos bocadinhos.
Sim, hoje num mundo rico em tecnologia, em milagres da ciência, onde o Homo Sapiens consegue viver cada vez mais e já sonha em conquistar e habitar o cosmos, ainda há crianças sem poder comer no natal e perguntando angelicalmente de que cor é a fome. Isso nos julga e nos condena.
Anistia nunca mais
Muitas vozes alertam o Brasil sobre os custos impagáveis de cometer um erro similar àquele feito há 40 anos. No final da ditadura militar, setores da sociedade e do governo impuseram o silêncio duradouro sobre crimes contra a humanidade perpetrados durante os vinte anos de governo autoritário. Vendia-se a ilusão de que se tratava de astúcia política. Um país “que tem pressa”, diziam, não poderia desperdiçar tempo acertando contas com o passado, elaborando a memória de seus crimes, procurando responsáveis pelo uso do aparato do Estado para prática de tortura, assassinato, estupro e sequestro. Impôs-se a narrativa de que o dever de memória seria mero exercício de “revanchismo” – mesmo que o continente latino-americano inteiro acabasse por compreender que quem deixasse impunes os crimes do passado iria vê-los se repetirem.
Para tentar silenciar de vez as demandas de justiça e de verdade, vários setores da sociedade brasileira, desde os militares até a imprensa hegemônica, não temeram utilizar a chamada “teoria dos dois demônios”. Segundo ela, toda a violência estatal teria sido resultado de uma “guerra”, com “excessos” dos dois lados. Ignorava-se, assim, que um dos direitos humanos fundamentais na democracia é o direito de resistência contra a tirania. Já no século 18, o filósofo John Locke, fundador do liberalismo, defendia o direito de todo cidadão e de toda cidadã matar o tirano. Pois toda ação contra um estado ilegal é uma ação legal. Note-se: estamos a falar da tradição liberal.
Os liberais latino-americanos, porém, têm essa capacidade de estar sempre abaixo dos seus próprios princípios. Por isso, não é surpresa alguma ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal, como Dias Toffoli, declarar, em pleno 2022, pós-Bolsonaro: “Não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina, uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar (...) o Brasil é muito mais forte do que isso”.
Afora o desrespeito a um dos países mais importantes para a diplomacia brasileira, um magistrado que confunde exigência de justiça com clamor de ódio, que vê na punição a torturadores e a perpetradores de golpes de estado apenas vingança, é a expressão mais bem acabada de um país, esse sim, que nunca deixou de olhar para o retrovisor. Um país submetido a um governo que, durante quatro anos, fez de torturadores heróis nacionais, fez de seu aparato policial uma máquina de extermínio de pobres.
Alguns deveriam pensar melhor sobre a experiência social de “elaborar o passado” como condição para preservação do presente. Não existe “superação” onde acordos são extorquidos e silenciamentos são impostos. A prova é que, até segunda ordem, a Argentina nunca mais passou por nenhuma espécie de ameaça à ordem institucional. Nós, ao contrário, enfrentamos tais ataques quase todos os dias dos últimos quatro anos. Nada do que aconteceu conosco nos últimos anos teria ocorrido se houvéssemos instaurado uma efetiva justiça de transição, capaz de impedir que integrantes de governos autoritários se auto-anistiassem. Pois dessa forma acabou-se por permitir discursos e práticas de um país que “ficou preso no passado”. Ocultar cadáveres, por exemplo, não foi algo que os militares fizeram apenas na ditadura. Eles fizeram isso agora, quando gerenciavam o combate à pandemia, escondendo números, negando informações, impondo a indiferença às mortes como afeto social, impedindo o luto coletivo.
É importante que tudo isso seja lembrado neste momento. Porque conhecemos a tendência brasileira ao esquecimento. Este foi um país feito por séculos de crimes sem imagens, de mortes sem lágrimas, de apagamento. Essa é sua tendência natural, seja qual for o governante e seu discurso. As forças seculares do apagamento são como espectros que rondam os vivos. Moldam não apenas o corpo social, mas a vida psíquica dos sujeitos.
Cometer novamente o erro do esquecimento, repetir a covardia política que instaurou a Nova República e selou seu fim, seria a maneira mais segura de fragilizar o novo governo. Não há porque deleitar-se no pensamento mágico de que tudo o que vimos foi um “pesadelo” que passará mais rapidamente quanto menos falarmos dele. O que vimos, com toda sua violência, foi o resultado direto das políticas de esquecimento no Brasil. Foi resultado direto de nossa anistia.
A sociedade civil precisa exigir do governo que se inicia a responsabilização pelos crimes cometidos por Bolsonaro e seus gerentes. Isso só poderá ser feito nos primeiros meses do novo governo, quando há ainda força para tanto. Quando falamos em crimes, falamos tanto da responsabilidade direta pela gestão da pandemia, quanto pelos crimes cometidos no processo eleitoral.
O Tribunal Penal Internacional aceitou analisar a abertura de processo contra Bolsonaro por genocídio indígena na gestão da pandemia. Há farto material levantado pela CPI da Covid, demonstrando os crimes de responsabilidade do governo que redundaram em um país com 3% da população mundial contaminada e 15% das mortes na pandemia. Punir os responsáveis não tem nada a ver com vingança, mas com respeito à população. Essa é a única maneira de fornecer ao estado nacional balizas para ações futuras relacionadas a crises sanitárias similares, que certamente ocorrerão.
Por outro lado, o Brasil conheceu duas formas de crimes eleitorais. Primeiro, o crime mais explícito, como o uso do aparato policial para impedir eleitores de votar, para dar suporte a manifestações golpistas pós-eleições. A polícia brasileira é hoje um partido político. Segundo, o pior de todos os crimes contra a democracia: a chantagem contínua das Forças Armadas contra a população. Forças que hoje atuam como um estado dentro do estado, um poder à parte.
Espera-se do governo duas atitudes enérgicas: que coloque na reserva o alto comando das Forças Armadas que chantageou a República; e que responsabilize os policiais que atentaram contra eleitores brasileiros, modificando a estrutura arcaica e militar da força policial. Se isso não for feito, veremos as cenas que nos assombraram se repetirem por tempo indefinido.
Não há nada parecido a uma democracia sem uma renovação total do comando das Forças Armadas e sem o combate à polícia como partido político. A polícia pode agir dessa forma porque sempre atuou como uma força exterior, como uma força militar a submeter a sociedade. Se errarmos mais uma vez e não compreendermos o caráter urgente e decisivo de tais ações, continuaremos a história terrível de um país fundado no esquecimento e que preserva de forma compulsiva os núcleos autoritários de quem comanda a violência do Estado. Mobilizar a sociedade para a memória coletiva e suas exigências de justiça sempre foi e continua sendo a única forma de efetivamente construir um país.
Para tentar silenciar de vez as demandas de justiça e de verdade, vários setores da sociedade brasileira, desde os militares até a imprensa hegemônica, não temeram utilizar a chamada “teoria dos dois demônios”. Segundo ela, toda a violência estatal teria sido resultado de uma “guerra”, com “excessos” dos dois lados. Ignorava-se, assim, que um dos direitos humanos fundamentais na democracia é o direito de resistência contra a tirania. Já no século 18, o filósofo John Locke, fundador do liberalismo, defendia o direito de todo cidadão e de toda cidadã matar o tirano. Pois toda ação contra um estado ilegal é uma ação legal. Note-se: estamos a falar da tradição liberal.
Os liberais latino-americanos, porém, têm essa capacidade de estar sempre abaixo dos seus próprios princípios. Por isso, não é surpresa alguma ouvir um ministro do Supremo Tribunal Federal, como Dias Toffoli, declarar, em pleno 2022, pós-Bolsonaro: “Não podemos nos deixar levar pelo que aconteceu na Argentina, uma sociedade que ficou presa no passado, na vingança, no ódio e olhando para trás, para o retrovisor, sem conseguir se superar (...) o Brasil é muito mais forte do que isso”.
Afora o desrespeito a um dos países mais importantes para a diplomacia brasileira, um magistrado que confunde exigência de justiça com clamor de ódio, que vê na punição a torturadores e a perpetradores de golpes de estado apenas vingança, é a expressão mais bem acabada de um país, esse sim, que nunca deixou de olhar para o retrovisor. Um país submetido a um governo que, durante quatro anos, fez de torturadores heróis nacionais, fez de seu aparato policial uma máquina de extermínio de pobres.
Alguns deveriam pensar melhor sobre a experiência social de “elaborar o passado” como condição para preservação do presente. Não existe “superação” onde acordos são extorquidos e silenciamentos são impostos. A prova é que, até segunda ordem, a Argentina nunca mais passou por nenhuma espécie de ameaça à ordem institucional. Nós, ao contrário, enfrentamos tais ataques quase todos os dias dos últimos quatro anos. Nada do que aconteceu conosco nos últimos anos teria ocorrido se houvéssemos instaurado uma efetiva justiça de transição, capaz de impedir que integrantes de governos autoritários se auto-anistiassem. Pois dessa forma acabou-se por permitir discursos e práticas de um país que “ficou preso no passado”. Ocultar cadáveres, por exemplo, não foi algo que os militares fizeram apenas na ditadura. Eles fizeram isso agora, quando gerenciavam o combate à pandemia, escondendo números, negando informações, impondo a indiferença às mortes como afeto social, impedindo o luto coletivo.
É importante que tudo isso seja lembrado neste momento. Porque conhecemos a tendência brasileira ao esquecimento. Este foi um país feito por séculos de crimes sem imagens, de mortes sem lágrimas, de apagamento. Essa é sua tendência natural, seja qual for o governante e seu discurso. As forças seculares do apagamento são como espectros que rondam os vivos. Moldam não apenas o corpo social, mas a vida psíquica dos sujeitos.
Cometer novamente o erro do esquecimento, repetir a covardia política que instaurou a Nova República e selou seu fim, seria a maneira mais segura de fragilizar o novo governo. Não há porque deleitar-se no pensamento mágico de que tudo o que vimos foi um “pesadelo” que passará mais rapidamente quanto menos falarmos dele. O que vimos, com toda sua violência, foi o resultado direto das políticas de esquecimento no Brasil. Foi resultado direto de nossa anistia.
A sociedade civil precisa exigir do governo que se inicia a responsabilização pelos crimes cometidos por Bolsonaro e seus gerentes. Isso só poderá ser feito nos primeiros meses do novo governo, quando há ainda força para tanto. Quando falamos em crimes, falamos tanto da responsabilidade direta pela gestão da pandemia, quanto pelos crimes cometidos no processo eleitoral.
O Tribunal Penal Internacional aceitou analisar a abertura de processo contra Bolsonaro por genocídio indígena na gestão da pandemia. Há farto material levantado pela CPI da Covid, demonstrando os crimes de responsabilidade do governo que redundaram em um país com 3% da população mundial contaminada e 15% das mortes na pandemia. Punir os responsáveis não tem nada a ver com vingança, mas com respeito à população. Essa é a única maneira de fornecer ao estado nacional balizas para ações futuras relacionadas a crises sanitárias similares, que certamente ocorrerão.
Por outro lado, o Brasil conheceu duas formas de crimes eleitorais. Primeiro, o crime mais explícito, como o uso do aparato policial para impedir eleitores de votar, para dar suporte a manifestações golpistas pós-eleições. A polícia brasileira é hoje um partido político. Segundo, o pior de todos os crimes contra a democracia: a chantagem contínua das Forças Armadas contra a população. Forças que hoje atuam como um estado dentro do estado, um poder à parte.
Espera-se do governo duas atitudes enérgicas: que coloque na reserva o alto comando das Forças Armadas que chantageou a República; e que responsabilize os policiais que atentaram contra eleitores brasileiros, modificando a estrutura arcaica e militar da força policial. Se isso não for feito, veremos as cenas que nos assombraram se repetirem por tempo indefinido.
Não há nada parecido a uma democracia sem uma renovação total do comando das Forças Armadas e sem o combate à polícia como partido político. A polícia pode agir dessa forma porque sempre atuou como uma força exterior, como uma força militar a submeter a sociedade. Se errarmos mais uma vez e não compreendermos o caráter urgente e decisivo de tais ações, continuaremos a história terrível de um país fundado no esquecimento e que preserva de forma compulsiva os núcleos autoritários de quem comanda a violência do Estado. Mobilizar a sociedade para a memória coletiva e suas exigências de justiça sempre foi e continua sendo a única forma de efetivamente construir um país.
Desigualdade que vem do berço
O prêmio Nobel de economia Angus Deaton começa seu livro “A Grande Saída” convidando o leitor a entender que, muitas vezes, situações positivas podem gerar desigualdades. Se, entre dois prisioneiros de um campo de concentração, um consegue escapar, isso vai gerar uma desigualdade.
Obviamente, isso não significa que seja ruim que alguém escape daquela situação infernal. É positivo que uma pessoa deixe de ser vítima de uma injustiça. A desigualdade, no caso, reflete que nem todos conseguiram escapar de uma situação ruim.
No livro, Deaton fala de como a Humanidade vem escapando da penúria ao longo dos últimos séculos. Até pouco tempo, quase todos os seres humanos tinham níveis de consumo baixo, acesso muito limitado à saúde e viviam sob governos tirânicos.
Ao longo desses anos, partes do mundo conseguiram escapar desses grilhões. Primeiro veio a revolução sanitária, que reduziu a mortalidade infantil inicialmente no Ocidente, depois no resto do mundo. Depois veio a melhora nas condições materiais. Em 1990 (praticamente anteontem!), 38% do mundo viviam na extrema pobreza. Em 2019, já eram bem menos: 8,4%.
Mas nem todos escaparam. Mesmo em países de renda média, como o Brasil, há partes da população que estão presas a condições prejudiciais. Por aqui, há um fator adicional: aqueles que ficam para trás parecem ter seu destino traçado desde o nascimento.
Um trabalho recente dos economistas Diogo Britto, Alexandre Fonseca, Paolo Pinotti, Breno Sampaio e Lucas Warwar traz informações inéditas sobre mobilidade social no Brasil. Usando dados da Receita Federal, de pesquisas domiciliares e de programas sociais, eles criaram uma nova base de dados de relações entre filhos e pais e a renda de cada um deles.
Como em boa parte do mundo, os filhos de pais ricos também tendem a ser ricos. No Brasil, contudo, a persistência da desigualdade de renda de uma geração para outra é muito maior do que em outros países.
Filhos nascidos em lares que estavam entre os 20% mais pobres só têm 4% de chance de chefiarem famílias que estarão entre as 20% mais ricas. Entre aqueles que nasceram em lares que estão entre os 20% mais ricos, há quase 50% de chance de que eles continuem entre os mais ricos quando adultos.
Em média, cerca de 50% da renda dos brasileiros é determinada pela renda dos pais. Esse percentual é muito maior do que nos Estados Unidos (35%), Canadá (25%) ou países escandinavos (20%), indicando baixa mobilidade social.
A persistência na desigualdade ao longo do tempo é particularmente perversa. Ela indica que mesmo alguém talentoso e esforçado vai ter uma chance muito baixa de reverter seu infortúnio de berço. Se uniformidade social mata os incentivos para a inovação e o esforço, a imobilidade social também o faz.
E quais são as soluções para isso? Obviamente, não há uma resposta simples a essa pergunta. Mas experimentos na educação de primeira infância iluminam alguns possíveis caminhos.
Recentemente, um grupo de pesquisadores que inclui os brasileiros Lycia Lima, Pedro Olinto e Ricardo Paes de Barros analisou os efeitos de uma loteria que deu acesso gratuito a creches para famílias pobres do Rio de Janeiro. Como o benefício era aleatorizado, as diferenças entre os que receberam e não receberam o benefício são causadas pelo acesso a creche — e não como mera correlação.
O estudo mostra que, durante vários anos, as crianças que receberam esse tipo de apoio na primeira infância eram mais altas, mais bem nutridas e tinham melhores índices cognitivos do que as que não receberam. Um efeito importante do programa é o fato de as creches liberarem irmãos, mães e avós do trabalho doméstico — podendo assim trabalhar fora e aumentar a renda da família.
Tal estudo replica no Brasil resultados similares de estudos em países ricos. Você já leu sobre eles nestas páginas (“O Direito de Sonhar”, 29/01/2022). Em comum, eles mostram que intervenções na primeira infância têm impactos substantivos sobre crianças que crescem em lares pobres, amenizando algumas das amarras que as prendem naquela situação.
O Brasil é muito desigual. Mas há algo além: nossa desigualdade é persistente, o que impede que gerações de brasileiros escapem das suas circunstâncias. Se quisermos construir uma sociedade em que o destino de uma criança não esteja sacramentado antes de ela nascer, é prioritário atacar a desigualdade que vem de berço.
Obviamente, isso não significa que seja ruim que alguém escape daquela situação infernal. É positivo que uma pessoa deixe de ser vítima de uma injustiça. A desigualdade, no caso, reflete que nem todos conseguiram escapar de uma situação ruim.
No livro, Deaton fala de como a Humanidade vem escapando da penúria ao longo dos últimos séculos. Até pouco tempo, quase todos os seres humanos tinham níveis de consumo baixo, acesso muito limitado à saúde e viviam sob governos tirânicos.
Ao longo desses anos, partes do mundo conseguiram escapar desses grilhões. Primeiro veio a revolução sanitária, que reduziu a mortalidade infantil inicialmente no Ocidente, depois no resto do mundo. Depois veio a melhora nas condições materiais. Em 1990 (praticamente anteontem!), 38% do mundo viviam na extrema pobreza. Em 2019, já eram bem menos: 8,4%.
Mas nem todos escaparam. Mesmo em países de renda média, como o Brasil, há partes da população que estão presas a condições prejudiciais. Por aqui, há um fator adicional: aqueles que ficam para trás parecem ter seu destino traçado desde o nascimento.
Um trabalho recente dos economistas Diogo Britto, Alexandre Fonseca, Paolo Pinotti, Breno Sampaio e Lucas Warwar traz informações inéditas sobre mobilidade social no Brasil. Usando dados da Receita Federal, de pesquisas domiciliares e de programas sociais, eles criaram uma nova base de dados de relações entre filhos e pais e a renda de cada um deles.
Como em boa parte do mundo, os filhos de pais ricos também tendem a ser ricos. No Brasil, contudo, a persistência da desigualdade de renda de uma geração para outra é muito maior do que em outros países.
Filhos nascidos em lares que estavam entre os 20% mais pobres só têm 4% de chance de chefiarem famílias que estarão entre as 20% mais ricas. Entre aqueles que nasceram em lares que estão entre os 20% mais ricos, há quase 50% de chance de que eles continuem entre os mais ricos quando adultos.
Em média, cerca de 50% da renda dos brasileiros é determinada pela renda dos pais. Esse percentual é muito maior do que nos Estados Unidos (35%), Canadá (25%) ou países escandinavos (20%), indicando baixa mobilidade social.
A persistência na desigualdade ao longo do tempo é particularmente perversa. Ela indica que mesmo alguém talentoso e esforçado vai ter uma chance muito baixa de reverter seu infortúnio de berço. Se uniformidade social mata os incentivos para a inovação e o esforço, a imobilidade social também o faz.
E quais são as soluções para isso? Obviamente, não há uma resposta simples a essa pergunta. Mas experimentos na educação de primeira infância iluminam alguns possíveis caminhos.
Recentemente, um grupo de pesquisadores que inclui os brasileiros Lycia Lima, Pedro Olinto e Ricardo Paes de Barros analisou os efeitos de uma loteria que deu acesso gratuito a creches para famílias pobres do Rio de Janeiro. Como o benefício era aleatorizado, as diferenças entre os que receberam e não receberam o benefício são causadas pelo acesso a creche — e não como mera correlação.
O estudo mostra que, durante vários anos, as crianças que receberam esse tipo de apoio na primeira infância eram mais altas, mais bem nutridas e tinham melhores índices cognitivos do que as que não receberam. Um efeito importante do programa é o fato de as creches liberarem irmãos, mães e avós do trabalho doméstico — podendo assim trabalhar fora e aumentar a renda da família.
Tal estudo replica no Brasil resultados similares de estudos em países ricos. Você já leu sobre eles nestas páginas (“O Direito de Sonhar”, 29/01/2022). Em comum, eles mostram que intervenções na primeira infância têm impactos substantivos sobre crianças que crescem em lares pobres, amenizando algumas das amarras que as prendem naquela situação.
O Brasil é muito desigual. Mas há algo além: nossa desigualdade é persistente, o que impede que gerações de brasileiros escapem das suas circunstâncias. Se quisermos construir uma sociedade em que o destino de uma criança não esteja sacramentado antes de ela nascer, é prioritário atacar a desigualdade que vem de berço.
Assinar:
Comentários (Atom)