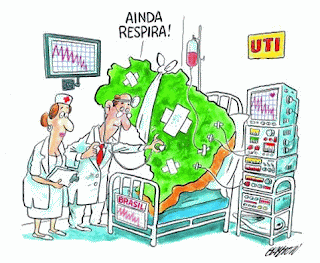Presidente, posso falar um verso bíblico para o senhor? É aquele verso que o senhor diz que gosta muito, e eu também – é um dos meus favoritos. ‘Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará’. E a verdade é Jesus, a verdade é justiça, a verdade é honestidade. E sabendo disso, dá para considerar que o senhor é uma farsa presidenteHadassa Gomes, 19 anos, estudante de jornalismo em Sorocaba (SP), no "cercadinho"
quarta-feira, 26 de janeiro de 2022
A farsa presidencial
Quando tudo isso passar
A emergência da variante ômicron do Sars-CoV-2 trouxe o melhor e o pior em termos de expectativas para uma humanidade cansada após dois anos de perdas humanas, afetivas, cognitivas, econômicas.
Do lado positivo, a expectativa de que, sim, o novo modelo da peste pode indicar o caminho para algum tipo de normalização dada a sua avassaladora transmissibilidade e aparente comedimento em termos de impacto mortífero entre aqueles que estão vacinados.
O problema está no aparente, e falo com o amargor de quem perdeu um ente muito próximo que nem de longe poderia ser qualificado de negacionista. A alta atividade do patógeno leva, evidentemente, a mais casos e à maior probabilidade de oportunidades à Ceifadora.
Infelizmente não temos W.G. Sebald cá nos trópicos para, como fez o maior escritor alemão do pós-Guerra com uma Europa destroçada, descrever a perplexidade e impotência ante o tsunami que nos colheu.
E, com sorte, transcender algo dela por meio da Grande Beleza, para agora roubar o título do filmaço de Paolo Sorrentino (nota aleatória, "A Mão de Deus", no Netflix, é imperdível).
Não temos um Sebald, embora ao menos no quesito de pecados na academia, a acusação mais séria de Angier, não nos faltem exemplos. O chororô criado acerca do método do alemão ao criar ficção parece, à primeira vista, só isso.
Já o impacto da Covid-19 num país governado por uma casta particularmente nefasta de lorpas é objeto para choro real. E não, não espezinharei a morte do negacionista ora elevado a merecedor de luto nacional.
Critiquem sua obra tola, combatam hagiografias, mas deixem a família do homem em paz. Falta-nos um Sebald para contar tudo isso ao porvir, na hipótese de Putin e Biden nos concederem a graça.
Do lado positivo, a expectativa de que, sim, o novo modelo da peste pode indicar o caminho para algum tipo de normalização dada a sua avassaladora transmissibilidade e aparente comedimento em termos de impacto mortífero entre aqueles que estão vacinados.
O problema está no aparente, e falo com o amargor de quem perdeu um ente muito próximo que nem de longe poderia ser qualificado de negacionista. A alta atividade do patógeno leva, evidentemente, a mais casos e à maior probabilidade de oportunidades à Ceifadora.
Infelizmente não temos W.G. Sebald cá nos trópicos para, como fez o maior escritor alemão do pós-Guerra com uma Europa destroçada, descrever a perplexidade e impotência ante o tsunami que nos colheu.
A propósito, Sebald, cuja obra se assenta em quatro obras-primas e foi interrompida por uma morte estúpida aos meros 57 anos, em 2001, ora é escrutinado em uma instigante biografia da britânica Carole Angier, lançada recentemente.
Ela percorre os caminhos tortuosos da mente do escritor, aponta contradições éticas graves em seu trabalho acadêmico e registra a revolta com que os personagens de seus livros foram decalcados de histórias reais --basicamente, Sebald destruía sua matéria-prima e a remontava de uma forma ficcional crível e bela.
Com isso, ele trouxe as reflexões acerca da culpa coletiva de uma Europa sob o nazismo, que ele vira ausente em seu pai, que servira à Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial.
Os fragmentos, muitas vezes colagens fotográficas ou palimpsestos mentais tirados da observação da topografia arquitetônica do continente, ganhavam vida para exprimir a dor vazia do Holocausto.
Ela percorre os caminhos tortuosos da mente do escritor, aponta contradições éticas graves em seu trabalho acadêmico e registra a revolta com que os personagens de seus livros foram decalcados de histórias reais --basicamente, Sebald destruía sua matéria-prima e a remontava de uma forma ficcional crível e bela.
Com isso, ele trouxe as reflexões acerca da culpa coletiva de uma Europa sob o nazismo, que ele vira ausente em seu pai, que servira à Wehrmacht na Segunda Guerra Mundial.
Os fragmentos, muitas vezes colagens fotográficas ou palimpsestos mentais tirados da observação da topografia arquitetônica do continente, ganhavam vida para exprimir a dor vazia do Holocausto.
E, com sorte, transcender algo dela por meio da Grande Beleza, para agora roubar o título do filmaço de Paolo Sorrentino (nota aleatória, "A Mão de Deus", no Netflix, é imperdível).
Não temos um Sebald, embora ao menos no quesito de pecados na academia, a acusação mais séria de Angier, não nos faltem exemplos. O chororô criado acerca do método do alemão ao criar ficção parece, à primeira vista, só isso.
Já o impacto da Covid-19 num país governado por uma casta particularmente nefasta de lorpas é objeto para choro real. E não, não espezinharei a morte do negacionista ora elevado a merecedor de luto nacional.
Critiquem sua obra tola, combatam hagiografias, mas deixem a família do homem em paz. Falta-nos um Sebald para contar tudo isso ao porvir, na hipótese de Putin e Biden nos concederem a graça.
Olavo deixa órfãos Bolsonaro, seus devotos e a direita sem vergonha
É no que deu bater palmas para que maluco dançasse. Ex-simpatizante do Partido Comunista Brasileiro, o autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho derivou mais tarde para a astrologia, o esoterismo, e morreu aos 74 anos como guru da direita brasileira que antes temia ser chamada pelo nome.
Décadas a fio, ela preferiu identificar-se como centro, tal era seu complexo de inferioridade, como se apenas à esquerda coubesse o papel de defensora de melhores condições de vida para os pobres e de mudanças estruturais. A direita também precisa que os pobres comam para que o capitalismo se expanda.
A esquerda jamais governou o Brasil desde que a democracia fez sua estreia por aqui. Pensou que poderia governar com a chegada ao poder de João Goulart, depois que Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Não contava, porém, com o golpe militar de 64. Finalmente, deu pinta de que chegara com Lula e Dilma.
No caso de Lula, foi ele que cavalgou a esquerda, não o contrário. Dilma causou mais assombro à direita, e por isso acabou derrubada. A Lava Jato surgiu como a melhor oportunidade para que a direita se livrasse por muito tempo do risco de o PT voltar. É pela direita que se diz de centro que Lula pretende voltar.
Abriu-se então o espaço para que emergisse Olavo, um charlatão bom de bico, autor de alguns poucos livros de sucesso, e que fora morar nos Estados Unidos. Durante certo período, ele foi colunista de alguns dos mais importantes jornais e revistas do Brasil, ganhando fama de excêntrico, mas divertido.
Tinha pouco de conservador. Era um reacionário. Entenda-se por isso: retrógrado, antidemocrático, antiliberal. Saudado como o ideólogo da nova direita, logo se tornou um extremista, valendo-se de xingamentos, mentiras e ataques pessoais para disseminar as mais esdrúxulas teses e teorias conspiratórias.
E o fez em busca de protagonismo e também para ganhar dinheiro com os cursos on-line que oferecia, sintonizado com o que havia de pior na direita americana. Jornalista de ocasião, ele pregou a violência contra jornalistas que não compartilhavam suas ideias. Escreveu que a Terra era plana e que a Covid-19 não matava.
Deu sorte de estar no melhor da sua forma conspiratória quando viu ascenderem no Brasil o ex-capitão Bolsonaro e seus filhos – ele, um sindicalista militar sem rumo e prestes a se aposentar como deputado federal do baixo clero; os filhos, de futuro incerto, dependentes do pai para seguirem sua carreira política.
Sobre a mesa em que Bolsonaro gravou o primeiro discurso após a vitória havia um livro de Olavo: “O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota”. O idiota jamais leu aquele livro, sequer o de memórias do coronel torturador Brilhante Ulstra, seu herói. Mas, juntou-se à vontade de comer de um a do outro de servir.
Bolsonaro carecia de direção. Olavo, de alguém poderoso que ele pilotasse. O enlace durou menos do que Olavo imaginava. Mais esperto do que ele, Bolsonaro trocou sua companhia pela do Centrão para escapar do impeachment, governar como refém, e tentar se reeleger. Olavo morreu rompido com Bolsonaro.
A última batalha a ser travada entre os dois ficou para a posteridade. É quando se saberá quem irá sobreviver – o olavismo ou o bolsonarismo. Palpite: Olavo derrotará Bolsonaro.
Décadas a fio, ela preferiu identificar-se como centro, tal era seu complexo de inferioridade, como se apenas à esquerda coubesse o papel de defensora de melhores condições de vida para os pobres e de mudanças estruturais. A direita também precisa que os pobres comam para que o capitalismo se expanda.
A esquerda jamais governou o Brasil desde que a democracia fez sua estreia por aqui. Pensou que poderia governar com a chegada ao poder de João Goulart, depois que Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Não contava, porém, com o golpe militar de 64. Finalmente, deu pinta de que chegara com Lula e Dilma.
No caso de Lula, foi ele que cavalgou a esquerda, não o contrário. Dilma causou mais assombro à direita, e por isso acabou derrubada. A Lava Jato surgiu como a melhor oportunidade para que a direita se livrasse por muito tempo do risco de o PT voltar. É pela direita que se diz de centro que Lula pretende voltar.
Abriu-se então o espaço para que emergisse Olavo, um charlatão bom de bico, autor de alguns poucos livros de sucesso, e que fora morar nos Estados Unidos. Durante certo período, ele foi colunista de alguns dos mais importantes jornais e revistas do Brasil, ganhando fama de excêntrico, mas divertido.
Tinha pouco de conservador. Era um reacionário. Entenda-se por isso: retrógrado, antidemocrático, antiliberal. Saudado como o ideólogo da nova direita, logo se tornou um extremista, valendo-se de xingamentos, mentiras e ataques pessoais para disseminar as mais esdrúxulas teses e teorias conspiratórias.
E o fez em busca de protagonismo e também para ganhar dinheiro com os cursos on-line que oferecia, sintonizado com o que havia de pior na direita americana. Jornalista de ocasião, ele pregou a violência contra jornalistas que não compartilhavam suas ideias. Escreveu que a Terra era plana e que a Covid-19 não matava.
Deu sorte de estar no melhor da sua forma conspiratória quando viu ascenderem no Brasil o ex-capitão Bolsonaro e seus filhos – ele, um sindicalista militar sem rumo e prestes a se aposentar como deputado federal do baixo clero; os filhos, de futuro incerto, dependentes do pai para seguirem sua carreira política.
Sobre a mesa em que Bolsonaro gravou o primeiro discurso após a vitória havia um livro de Olavo: “O mínimo que você precisa saber para não ser um idiota”. O idiota jamais leu aquele livro, sequer o de memórias do coronel torturador Brilhante Ulstra, seu herói. Mas, juntou-se à vontade de comer de um a do outro de servir.
Bolsonaro carecia de direção. Olavo, de alguém poderoso que ele pilotasse. O enlace durou menos do que Olavo imaginava. Mais esperto do que ele, Bolsonaro trocou sua companhia pela do Centrão para escapar do impeachment, governar como refém, e tentar se reeleger. Olavo morreu rompido com Bolsonaro.
A última batalha a ser travada entre os dois ficou para a posteridade. É quando se saberá quem irá sobreviver – o olavismo ou o bolsonarismo. Palpite: Olavo derrotará Bolsonaro.
Pacificação, governança, reconstrução
O professor Hussein Kalout costuma lembrar que o próximo presidente terá três desafios: pacificação, governança e reconstrução. Ele terá o desafio de pacificar o país, social e politicamente. Quebrar a polarização que divide o Brasil em polos divorciados, depois de cinco séculos de desigualdade social com cara de apartação, e de alguns anos com líderes, militantes e cidadãos separados em extremos sem diálogo.
Deverá também ser capaz de exercer governança que permita ao Brasil voltar a funcionar, depois da degradação de suas instituições, do imenso desequilíbrio fiscal, da corrupção, do corporativismo e da política sem espírito público. Fazer o país funcionar e o Estado ter eficiência é um desafio fundamental para o próximo presidente.
Precisará também iniciar a reconstrução do que vem sendo destruído ao longo dos anos de recessão econômica, sequestro e aparelhamento do Estado, atraso tecnológico, agravados pela estupidez revogatória do atual governo eliminando avanços do passado. Esses desafios seriam enfrentados mais facilmente se as forças políticas tivessem sido capazes de encontrar propostas, nomes, ideias e forças novas que permitissem, em 2022, um salto adiante, sem amarras com o passado. Mas isso não ocorreu.
Prisioneiras do radicalismo, do partidarismo e do imediatismo, nossas lideranças políticas não foram capazes de apresentar novidade nas eleições deste ano. Os 12 candidatos que se apresentam têm cara e propostas (ou falta de propostas) características do passado, dificilmente surgirão nomes capazes de trazer ares novos, passar confiança e seduzir o eleitorado, nas poucas semanas adiante, antes das eleições.
Tudo indica que o processo eleitoral chegará ao segundo turno entre Bolsonaro e Lula, e este último será o nome que o Brasil disporá para pacificar, exercer governança e reconstruir o país. Mas, para isso, ele precisará enfrentar dificuldades com a postura tradicional do partido.
Para pacificar, precisará superar o comportamento de parte da militância e da direção de dividir o Brasil entre o PT e o resto; ser capaz de atrair os que são tratados como inimigos por terem sido discordantes. Esta é uma eleição para o eleito se comportar como pacificador, não como vitorioso.
Lula passa essa visão quando dialoga com líderes de outras forças, mas é preciso mais que isso: uma postura de aceitação de outras forças, propostas e visões dos que desejam tirar o Brasil do abismo, mesmo discordando do PT. A pacificação é um desafio para vencer a eleição, de preferência no primeiro turno, e necessária para permitir a governança depois da posse.
Nesse desafio, o próximo presidente precisará ser pacificador e responsável. Não haverá governança com irresponsabilidade fiscal e inflação roubando salários de trabalhadores e aposentados, tampouco sem reformas em regras que isolam e emperram a economia brasileira; precisará liberar forças produtivas e barrar privilégios corporativos que impedem a distribuição da produção. A governança exigirá sensibilidade social para atender às necessidades das camadas pobres, mas também responsabilidade com os limites dos recursos, ecológicos ou fiscais. Seria uma tragédia vencer para acabar com o negacionismo de direita e substituí-lo por negacionismo de esquerda.
Para reconstruir, Lula precisa olhar para o futuro, escapando de visões obsoletas de alguns de seus aliados que se recusam a perceber a realidade do século 21, preferem continuar com ideias superadas, vendo o próximo governo como instrumento de desfazimento e não de construção. Não se constrói o futuro com nostalgia do passado.
A governança será fundamental para retirar o Brasil do atual abismo, reconstruindo nossa economia e nosso tecido social. Por isso, Lula não pode cair na tentação de revogar e desfazer para voltar a um passado superado, precisa avançar na construção de uma economia sólida e um tecido social justo.
A pacificação e a governança vão exigir comprometimento com a eficiência do Estado a serviço do país e do futuro. Para tanto, há uma palavra adicional, que serve de liga aos três desafios: confiança. Para pacificar, governar e construir, Lula e o PT precisam entender que o Brasil é maior do que qualquer partido e que o futuro não se constrói com nostalgias que negam a realidade.
Deverá também ser capaz de exercer governança que permita ao Brasil voltar a funcionar, depois da degradação de suas instituições, do imenso desequilíbrio fiscal, da corrupção, do corporativismo e da política sem espírito público. Fazer o país funcionar e o Estado ter eficiência é um desafio fundamental para o próximo presidente.
Precisará também iniciar a reconstrução do que vem sendo destruído ao longo dos anos de recessão econômica, sequestro e aparelhamento do Estado, atraso tecnológico, agravados pela estupidez revogatória do atual governo eliminando avanços do passado. Esses desafios seriam enfrentados mais facilmente se as forças políticas tivessem sido capazes de encontrar propostas, nomes, ideias e forças novas que permitissem, em 2022, um salto adiante, sem amarras com o passado. Mas isso não ocorreu.
Prisioneiras do radicalismo, do partidarismo e do imediatismo, nossas lideranças políticas não foram capazes de apresentar novidade nas eleições deste ano. Os 12 candidatos que se apresentam têm cara e propostas (ou falta de propostas) características do passado, dificilmente surgirão nomes capazes de trazer ares novos, passar confiança e seduzir o eleitorado, nas poucas semanas adiante, antes das eleições.
Tudo indica que o processo eleitoral chegará ao segundo turno entre Bolsonaro e Lula, e este último será o nome que o Brasil disporá para pacificar, exercer governança e reconstruir o país. Mas, para isso, ele precisará enfrentar dificuldades com a postura tradicional do partido.
Para pacificar, precisará superar o comportamento de parte da militância e da direção de dividir o Brasil entre o PT e o resto; ser capaz de atrair os que são tratados como inimigos por terem sido discordantes. Esta é uma eleição para o eleito se comportar como pacificador, não como vitorioso.
Lula passa essa visão quando dialoga com líderes de outras forças, mas é preciso mais que isso: uma postura de aceitação de outras forças, propostas e visões dos que desejam tirar o Brasil do abismo, mesmo discordando do PT. A pacificação é um desafio para vencer a eleição, de preferência no primeiro turno, e necessária para permitir a governança depois da posse.
Nesse desafio, o próximo presidente precisará ser pacificador e responsável. Não haverá governança com irresponsabilidade fiscal e inflação roubando salários de trabalhadores e aposentados, tampouco sem reformas em regras que isolam e emperram a economia brasileira; precisará liberar forças produtivas e barrar privilégios corporativos que impedem a distribuição da produção. A governança exigirá sensibilidade social para atender às necessidades das camadas pobres, mas também responsabilidade com os limites dos recursos, ecológicos ou fiscais. Seria uma tragédia vencer para acabar com o negacionismo de direita e substituí-lo por negacionismo de esquerda.
Para reconstruir, Lula precisa olhar para o futuro, escapando de visões obsoletas de alguns de seus aliados que se recusam a perceber a realidade do século 21, preferem continuar com ideias superadas, vendo o próximo governo como instrumento de desfazimento e não de construção. Não se constrói o futuro com nostalgia do passado.
A governança será fundamental para retirar o Brasil do atual abismo, reconstruindo nossa economia e nosso tecido social. Por isso, Lula não pode cair na tentação de revogar e desfazer para voltar a um passado superado, precisa avançar na construção de uma economia sólida e um tecido social justo.
A pacificação e a governança vão exigir comprometimento com a eficiência do Estado a serviço do país e do futuro. Para tanto, há uma palavra adicional, que serve de liga aos três desafios: confiança. Para pacificar, governar e construir, Lula e o PT precisam entender que o Brasil é maior do que qualquer partido e que o futuro não se constrói com nostalgias que negam a realidade.
Meu país ainda está aí
Meu país ainda existe. Um pouco envergonhado, se escondendo pelo cantos, mas está aí, não sumiu de vez não. Estão tentando acabar com ele no grito, na bala e na incompetência. Mas ainda respira, o meu país.
Está nas dobras das saias das mulheres que jamais se dobram. Em algum vão entre os tijolos de um bar, onde cinco amigos se reúnem há décadas. Num cruzamento perfeito na pelada na praia. Nas risadas dos moleques de cascão nos pés, que correm sem sentir dor, pisando em pedras como em folhas.
Está na música de Garoto e Pixinguinha. Nas árvores que florescem em pleno inverno. Numa tela de Portinari, carregada de um amarelo que envenena tanto quem pinta quanto quem olha. Na minhoca que se contorce, revelada pela enxada. Num verso seco de João Cabral. No porteiro do prédio que sabe cantar sambas que ninguém mais sabe, ele está.
No meu país, éramos tão magros. Viajávamos de carona em caminhão e dormíamos em redes nas casas de pescadores hospitaleiros. Conversávamos no escuro, e nos entendíamos mais no silêncio que nas palavras. Foi o que mais mudou. Meu país se drogou, inchou, se corrompeu, ficou violento. Mas ele há de voltar, tem que voltar, o mundo fica muito pobre sem o meu país.
Que um bicho grande (um gavião, de preferência) passe voando e dê uma bela cagada na cabeça de cada um que tenta destruir meu país. Chegará o dia em que todas as formigas sairão da terra para carregar em procissão, para o diabo que os carregue, os homens de arma, serra e fósforo na mão. Uma chuva trouxe seu antigo cheiro quente, úmido, de terra satisfeita. E se esse cheiro resiste, por que não a esperança?
Meu país é onde os marimbondos fazem suas casas apoiadas nos telhados das casas. O dos cachorros de rua vagabundos e pacíficos. Dos homens da roça que contam histórias enquanto enrolam a palha para pitar. O da música popular mais linda do mundo. Das fazedoras de doces no fogão a lenha, que cozinham em silêncio os segredos bem guardados. Da paçoca, da farofa, da cocada e do pastel de vento.
Um violão triste é como luta o meu país. No jogo da capoeira, mais dança que briga, é como luta o meu país. O das casas de cinco cores na fachada – sem contar as das janelas. O dos sorrisos de marfim nas peles pretas. Das maritacas que nos fios berram as últimas fofocas. O das nascentes dos rios, antes que o esgoto as alcançassem, e o das matas de cem tons de verde, antes que as serras elétricas as descobrissem.
Meu país resiste. Mas por ora, prefere se refugiar no porão, no escuro, amoitado, escondendo os dejetos, quase morto de desgosto. Sai muito raramente, apenas para nos sinalizar que ainda está. Veste uns trapos de cores esmaecidas, que nos causam dor e revolta.
Devolvam meu país, filhos desnaturados do meu país.
Cássio Zanatta
Está nas dobras das saias das mulheres que jamais se dobram. Em algum vão entre os tijolos de um bar, onde cinco amigos se reúnem há décadas. Num cruzamento perfeito na pelada na praia. Nas risadas dos moleques de cascão nos pés, que correm sem sentir dor, pisando em pedras como em folhas.
Está na música de Garoto e Pixinguinha. Nas árvores que florescem em pleno inverno. Numa tela de Portinari, carregada de um amarelo que envenena tanto quem pinta quanto quem olha. Na minhoca que se contorce, revelada pela enxada. Num verso seco de João Cabral. No porteiro do prédio que sabe cantar sambas que ninguém mais sabe, ele está.
No meu país, éramos tão magros. Viajávamos de carona em caminhão e dormíamos em redes nas casas de pescadores hospitaleiros. Conversávamos no escuro, e nos entendíamos mais no silêncio que nas palavras. Foi o que mais mudou. Meu país se drogou, inchou, se corrompeu, ficou violento. Mas ele há de voltar, tem que voltar, o mundo fica muito pobre sem o meu país.
Que um bicho grande (um gavião, de preferência) passe voando e dê uma bela cagada na cabeça de cada um que tenta destruir meu país. Chegará o dia em que todas as formigas sairão da terra para carregar em procissão, para o diabo que os carregue, os homens de arma, serra e fósforo na mão. Uma chuva trouxe seu antigo cheiro quente, úmido, de terra satisfeita. E se esse cheiro resiste, por que não a esperança?
Meu país é onde os marimbondos fazem suas casas apoiadas nos telhados das casas. O dos cachorros de rua vagabundos e pacíficos. Dos homens da roça que contam histórias enquanto enrolam a palha para pitar. O da música popular mais linda do mundo. Das fazedoras de doces no fogão a lenha, que cozinham em silêncio os segredos bem guardados. Da paçoca, da farofa, da cocada e do pastel de vento.
Um violão triste é como luta o meu país. No jogo da capoeira, mais dança que briga, é como luta o meu país. O das casas de cinco cores na fachada – sem contar as das janelas. O dos sorrisos de marfim nas peles pretas. Das maritacas que nos fios berram as últimas fofocas. O das nascentes dos rios, antes que o esgoto as alcançassem, e o das matas de cem tons de verde, antes que as serras elétricas as descobrissem.
Meu país resiste. Mas por ora, prefere se refugiar no porão, no escuro, amoitado, escondendo os dejetos, quase morto de desgosto. Sai muito raramente, apenas para nos sinalizar que ainda está. Veste uns trapos de cores esmaecidas, que nos causam dor e revolta.
Devolvam meu país, filhos desnaturados do meu país.
Cássio Zanatta
Brasil: Assim surge um “novo” clientelismo
O desenlace do ciclo político da Nova República, que aconteceu após três décadas de sua existência, tem sido acompanhado pelo rearranjo institucional que aponta para a formação de outra República no Brasil. As suas principais características, ainda que aprisionadas durante o período pós-ditadura, ganharam rapidamente maior dimensão desde o curso do golpe de Estado iniciado ao final das eleições presidenciais de 2014, quando o candidato derrotado e sua base partidária não aceitaram a derrota.
Como se fosse uma espécie de Revolução de 1930 ao inverso, as forças derrotadas a partir da segunda metade da década de 2010 tomaram corpo suficiente para levar avante a desconstrução do acordo político da Nova República, estabelecido pela Constituição de 1988. Resumidamente, o fortalecimento republicano da burocracia através do Regime Jurídico dos servidores públicos civis, autarquias e das fundações públicas, da unificação e transparência do orçamento público e da representação democrática em partidos políticos nacionais.
Mas o que aconteceu, contudo, com o desenrolar de distintos governos, foi a fragilização dos compromissos constitucionais previamente estabelecidos ao longo do próprio ciclo político da Nova República. Assim, o regime jurídico único dos serviços públicos foi sendo dilapidado pela força da terceirização, da desestatização e da gestão privatizada da administração pública.
O orçamento público foi conduzido sem contemplar a unidade à seguridade social, assim como a asfixia imposta pelo presidencialismo de coalizão ao executivo fez do parlamento, em vez de representante político da nação, tomador e gestor de recursos públicos. Emendas impositivas de vários tipos, até orçamento secreto, têm sido práticas crescentes a destoar da perspectiva constitucional de unidade e transparência orçamentária.
Por fim, o desmonte do sistema partidário de representação política foi seguido pelo desaparecimento de lideranças nacionais, favorecendo a continuidade e a formação de novas oligarquias regionais. O aparecimento do chamado Centrão, ainda no governo Sarney (1986-1990), e das bancadas suprapartidárias (ruralistas, do boi, da bala, da bíblia e outras) originadas no processo constituinte, concederam artificialidade e descrédito crescentes para grande parte dos partidos políticos no Brasil.
É diante disso que se começa a perceber a reconfiguração da outra República atualmente em marcha. Um verdadeiro museu de imensas novidades que convergem com as experiências já adotadas durante o Império (1822-1889) e a República Velha (1889-1930). Da monarquia parece provir, por exemplo, o experimento do Poder Moderador, cada vez mais exercido atualmente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em suas tentativas de reequilibrar as disputas entre os três poderes republicanos: executivo, legislativo e judiciário.
Da República Velha provém o esforço de recuperar o arranjo institucional que sustentou o sistema político daquela época. Ou seja, o tripé do poder assentado no mandonismo, clientelismo e coronelismo.
Desde o governo Temer (2016-2018), acentuado pelo de Bolsonaro, que o mandonismo tem sido mais acentuado pela prática da ocupação dos cargos públicos. Por não mais interessar os critérios mínimos republicanos como a competência técnica e a eficiência profissional, ganharam significância as indicações políticas fundamentadas no compromisso a quem manda, seja em cargos públicos civis ou não.
Assim, a desorganização provocada no interior da administração pública se alastrou. Os escândalos que se tornam públicos parecem revelar apenas a ponta do iceberg de negociatas e ilegalidades permitidas pelo mandonismo atual.
Por outro lado, o clientelismo tem avançado simultaneamente ao desmonte das políticas públicas de Estado. Seja na educação, ciências e tecnologia, agropecuária, economia, assistência social, entre outras, o governo opera cada vez mais atendendo às clientelas, não ao cidadão em geral. A destruição do programa Bolsa Família, entre outras políticas públicas, parece indicar o quanto o roteiro tradicional da eleição prévia de clientelas pelo governo de plantão visa atender a continuidade eleitoral a ser retribuída através do voto.
Nesse sentido, o coronelismo renovado se estabelece pela apropriação e comando do orçamento público em favor dos chefes de oligarquias regionais. No ano de 2021, por exemplo, cada um dos deputados federais, fora o orçamento secreto e outras iguarias orçamentárias, teve à sua disposição o valor de 16 milhões de reais de emenda impositiva a conectar poderes locais, clãs e distritos eleitorais, capazes de reproduzir as tradicionais oligarquias regionais.
Como se fosse uma espécie de Revolução de 1930 ao inverso, as forças derrotadas a partir da segunda metade da década de 2010 tomaram corpo suficiente para levar avante a desconstrução do acordo político da Nova República, estabelecido pela Constituição de 1988. Resumidamente, o fortalecimento republicano da burocracia através do Regime Jurídico dos servidores públicos civis, autarquias e das fundações públicas, da unificação e transparência do orçamento público e da representação democrática em partidos políticos nacionais.
Mas o que aconteceu, contudo, com o desenrolar de distintos governos, foi a fragilização dos compromissos constitucionais previamente estabelecidos ao longo do próprio ciclo político da Nova República. Assim, o regime jurídico único dos serviços públicos foi sendo dilapidado pela força da terceirização, da desestatização e da gestão privatizada da administração pública.
O orçamento público foi conduzido sem contemplar a unidade à seguridade social, assim como a asfixia imposta pelo presidencialismo de coalizão ao executivo fez do parlamento, em vez de representante político da nação, tomador e gestor de recursos públicos. Emendas impositivas de vários tipos, até orçamento secreto, têm sido práticas crescentes a destoar da perspectiva constitucional de unidade e transparência orçamentária.
Por fim, o desmonte do sistema partidário de representação política foi seguido pelo desaparecimento de lideranças nacionais, favorecendo a continuidade e a formação de novas oligarquias regionais. O aparecimento do chamado Centrão, ainda no governo Sarney (1986-1990), e das bancadas suprapartidárias (ruralistas, do boi, da bala, da bíblia e outras) originadas no processo constituinte, concederam artificialidade e descrédito crescentes para grande parte dos partidos políticos no Brasil.
É diante disso que se começa a perceber a reconfiguração da outra República atualmente em marcha. Um verdadeiro museu de imensas novidades que convergem com as experiências já adotadas durante o Império (1822-1889) e a República Velha (1889-1930). Da monarquia parece provir, por exemplo, o experimento do Poder Moderador, cada vez mais exercido atualmente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em suas tentativas de reequilibrar as disputas entre os três poderes republicanos: executivo, legislativo e judiciário.
Da República Velha provém o esforço de recuperar o arranjo institucional que sustentou o sistema político daquela época. Ou seja, o tripé do poder assentado no mandonismo, clientelismo e coronelismo.
Desde o governo Temer (2016-2018), acentuado pelo de Bolsonaro, que o mandonismo tem sido mais acentuado pela prática da ocupação dos cargos públicos. Por não mais interessar os critérios mínimos republicanos como a competência técnica e a eficiência profissional, ganharam significância as indicações políticas fundamentadas no compromisso a quem manda, seja em cargos públicos civis ou não.
Assim, a desorganização provocada no interior da administração pública se alastrou. Os escândalos que se tornam públicos parecem revelar apenas a ponta do iceberg de negociatas e ilegalidades permitidas pelo mandonismo atual.
Por outro lado, o clientelismo tem avançado simultaneamente ao desmonte das políticas públicas de Estado. Seja na educação, ciências e tecnologia, agropecuária, economia, assistência social, entre outras, o governo opera cada vez mais atendendo às clientelas, não ao cidadão em geral. A destruição do programa Bolsa Família, entre outras políticas públicas, parece indicar o quanto o roteiro tradicional da eleição prévia de clientelas pelo governo de plantão visa atender a continuidade eleitoral a ser retribuída através do voto.
Nesse sentido, o coronelismo renovado se estabelece pela apropriação e comando do orçamento público em favor dos chefes de oligarquias regionais. No ano de 2021, por exemplo, cada um dos deputados federais, fora o orçamento secreto e outras iguarias orçamentárias, teve à sua disposição o valor de 16 milhões de reais de emenda impositiva a conectar poderes locais, clãs e distritos eleitorais, capazes de reproduzir as tradicionais oligarquias regionais.
Assinar:
Comentários (Atom)