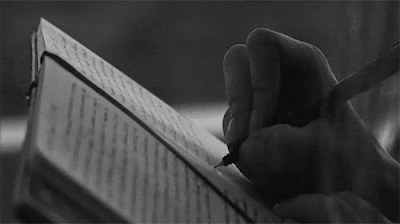quarta-feira, 1 de fevereiro de 2017
Congresso reestreia a peça do Brasil alternativo
O Congresso reestreia nesta quarta-feira um espetáculo manjado. A coisa se passa numa nação alternativa. Fora do prédio de Niemeyer, há um Brasil em pânico. Dentro, há um país fictício. Fora, quando alguém fala em corrupção numa roda, é impossível mudar de assunto. Pode-se, no máximo, mudar de corrupto. Dentro, pulsa um país sem culpados nem inocentes. Um Brasil 100% feito de cúmplices. Uma nação onde nada aconteceu.
Os congressistas propuseram e aceitaram a tese segundo a qual nenhum deles deve nada. Muito menos explicações. Há os delatados, os investigados, os denunciados, os réus… E há a banda muda, que silencia diante da promiscuidade. É nesta ficção que nenhum roteirista de teatro assinaria, para não passar por inverossímil, que o Congresso reabre suas cortinas depois do recesso. Deputados e senadores tropeçam nos corredores com o maior escândalo de corrupção da história. Mas fingem que ele não está ali.
Nos últimos dois anos, uma Lava Jato inexplicada no meio do Salão Verde da Câmara e do Salão Azul do Senado se transformou em muitas coisas. Começou como um embaraço. Evoluiu para um hábito. De repente, à medida que aumentava o número de ecrencados, tornou-se parâmetro.
Há dois anos, os deputados elegeram Eduardo Cunha para presidir a Câmara. E os senadores reelegeram Renan Calheiros. O primeiro está preso. O segundo é réu numa ação penal e protagoniza 12 inquéritos.
Hoje, os favoritos ao comando das duas Casas do Legislativo são alvos da megadelação da Odebrecht. Mas isso não é assunto que mereça a perda de tempo de uma reflexão no Brasil alternativo que está novamente em cartaz no Congresso.
Fora das cuias de Niemeyer —a da Câmara virada para cima, a do Senado emborcada para baixo—, a democracia representativa está jurada de morte. Dentro, ela se comporta como se estivesse cheia de vida.
Os congressistas propuseram e aceitaram a tese segundo a qual nenhum deles deve nada. Muito menos explicações. Há os delatados, os investigados, os denunciados, os réus… E há a banda muda, que silencia diante da promiscuidade. É nesta ficção que nenhum roteirista de teatro assinaria, para não passar por inverossímil, que o Congresso reabre suas cortinas depois do recesso. Deputados e senadores tropeçam nos corredores com o maior escândalo de corrupção da história. Mas fingem que ele não está ali.
Nos últimos dois anos, uma Lava Jato inexplicada no meio do Salão Verde da Câmara e do Salão Azul do Senado se transformou em muitas coisas. Começou como um embaraço. Evoluiu para um hábito. De repente, à medida que aumentava o número de ecrencados, tornou-se parâmetro.
Há dois anos, os deputados elegeram Eduardo Cunha para presidir a Câmara. E os senadores reelegeram Renan Calheiros. O primeiro está preso. O segundo é réu numa ação penal e protagoniza 12 inquéritos.
Hoje, os favoritos ao comando das duas Casas do Legislativo são alvos da megadelação da Odebrecht. Mas isso não é assunto que mereça a perda de tempo de uma reflexão no Brasil alternativo que está novamente em cartaz no Congresso.
Fora das cuias de Niemeyer —a da Câmara virada para cima, a do Senado emborcada para baixo—, a democracia representativa está jurada de morte. Dentro, ela se comporta como se estivesse cheia de vida.
Empenhos e prisões
Ainda vai levar tempo para nos recuperarmos da descoberta indiscutível que, no Brasil, o campo político está colado a redes de velhos empenhos, os quais estremeceram muita esperança ideológica e produziram projetos impensáveis de enriquecimento particular. No tamanho e na expressão, seriam equivalentes aos Planos Quinquenais soviéticos só que foram realizados por meio de uma ética relacional. Por um casamento não previsto de burocracia com carisma e patrimonialismo. O elo entre Cabral filho e Eike Batista, desenvolvido a partir de uma foco clientelístico (ah! moleque! Você é dos meus), populista (comigo ninguém perde) e burocrática (tudo dentro da lei), demonstra a força da reciprocidade (e do presente) em áreas nas quais ela deveria ser disciplinada.

O empresário simpático e preparado, projetado como um dos homens mais ricos do mundo, está, até o momento em que traço essas linhas, foragido porque, não sendo um nobre brasileiro de verdade, corre o risco de “pegar” uma prisão comum. De ver o sol nascer quadrado em presídios que o ex-ministro da Justiça petista, José Eduardo Cardozo, temia e classificava como medievais.
Batizado como celebridade, Eike Batista adquiriu tudo menos um diploma universitário. E assim ficou fora do patamar básico da nobreza nacional: o degrau dos “doutores”, que têm direito a tratamento diferenciado num sistema que fala de tudo, reclama de todos, faz da intriga profissional um ganha-pão, mas jamais se conscientizou dos privilégios que até hoje comandam e desgastam a nossa experiência democrática. Pois privilégios, aliados a redes de empenho nas quais se entra por simpatia e bajulação, conjugadas com mercado são a receita do “capitalismo selvagem” talhado por “arrumações”. Um título ou um cargo são suficientes para escapar do absurdo da igualdade da lei que - diz a ficção - valeria para todos.
Não é maravilhoso viver num país onde “ser doutor” relativiza o crime, ao mesmo tempo que, legal, mas antidemocraticamente, livra da “prisão comum” o meliante? Sem o privilégio do título, Eike corre o risco de acabar num desses cárceres administrados por facções criminosas, já que o nobre “Estado” que (na cabeça de muitos) seria a alavanca de redenção social mete o bedelho em todos os lugares, menos em algumas prisões que, como tudo que existe no País, estão também graduadas. Existem cadeias “modernas” e xilindrós cujas celas são centrais de crime.
Dizem que Eike teme a prisão comum, mas eu não acredito que um homem com o seu capital simbólico tenha algo a temer num país cujas regras variam de acordo com as pessoas. Primeiro, porque a prisão dos “grandes” é algo revolucionário (ou, dependendo do lado, revoltante) num Brasil onde governar tem sido - com raras exclusões - sinônimo de obter vantagens pessoais. Segundo, porque a organização social das facções, tal como elas foram pioneiramente analisadas por Alba Zaluar, funciona pelos mesmos princípios que ordenam o mundo social.
Eu dou lealdade e subserviência, você retribui com proteção e empenho. Esse é o lema implícito da vida política nacional e nas prisões. O prisioneiro neófito entra na facção porque o Estado não lhe garante segurança. No Brasil, “ir para a cadeia” corresponde a ser destituído de humanidade. A desumanização do prisioneiro faz parte da nossa ideia de castigo.
Ademais, como ter prisioneiros tratados com humanidade e, ao mesmo tempo, aprisionar políticos e empresários ambiciosos e desonestos? Estaria aí o centro do nosso dilema moral? A igualdade perante a lei implica o respeito pelos criminosos e - eis o paradoxo - na punição dos privilegiados. Aqueles a quem a sociedade confiou uma administração pública honesta e criativa. O voto dado exige uma devoção ao cargo, e o cargo, uma entrega ao bem comum. Mas como tornar tal valor uma realidade se os políticos e os empresários se associam para roubar, desrespeitando as normas fundamentais da honestidade? Se seguir a lei é, ainda hoje, uma babaquice, porque segui-la quando se está no poder?
O que essas prisões de “gente grande” revelam, o espanto que causam, o furor que despertam, é que elas confirmam que o nosso ideal constitucional de democracia e igualdade não existe. É uma ficção legal e política.
Não buscamos ser o cidadão comum. Todo queremos ser celebres e “grandes”. Queremos ser aquele cujo prestígio engloba até mesmo a verdade e os fatos. Aquele que é garantido por todo tipo de apoio e empenho. Todos entendemos, mas também sabemos como é difícil estabelecer uma cultura igualitária numa sociedade de barões, figurões e reizinhos. Pois até no inferno das nossas prisões, assistimos estupefatos à guerra pela precedência e pelo privilégio.
Roberto DaMatta

O empresário simpático e preparado, projetado como um dos homens mais ricos do mundo, está, até o momento em que traço essas linhas, foragido porque, não sendo um nobre brasileiro de verdade, corre o risco de “pegar” uma prisão comum. De ver o sol nascer quadrado em presídios que o ex-ministro da Justiça petista, José Eduardo Cardozo, temia e classificava como medievais.
Batizado como celebridade, Eike Batista adquiriu tudo menos um diploma universitário. E assim ficou fora do patamar básico da nobreza nacional: o degrau dos “doutores”, que têm direito a tratamento diferenciado num sistema que fala de tudo, reclama de todos, faz da intriga profissional um ganha-pão, mas jamais se conscientizou dos privilégios que até hoje comandam e desgastam a nossa experiência democrática. Pois privilégios, aliados a redes de empenho nas quais se entra por simpatia e bajulação, conjugadas com mercado são a receita do “capitalismo selvagem” talhado por “arrumações”. Um título ou um cargo são suficientes para escapar do absurdo da igualdade da lei que - diz a ficção - valeria para todos.
Não é maravilhoso viver num país onde “ser doutor” relativiza o crime, ao mesmo tempo que, legal, mas antidemocraticamente, livra da “prisão comum” o meliante? Sem o privilégio do título, Eike corre o risco de acabar num desses cárceres administrados por facções criminosas, já que o nobre “Estado” que (na cabeça de muitos) seria a alavanca de redenção social mete o bedelho em todos os lugares, menos em algumas prisões que, como tudo que existe no País, estão também graduadas. Existem cadeias “modernas” e xilindrós cujas celas são centrais de crime.
Dizem que Eike teme a prisão comum, mas eu não acredito que um homem com o seu capital simbólico tenha algo a temer num país cujas regras variam de acordo com as pessoas. Primeiro, porque a prisão dos “grandes” é algo revolucionário (ou, dependendo do lado, revoltante) num Brasil onde governar tem sido - com raras exclusões - sinônimo de obter vantagens pessoais. Segundo, porque a organização social das facções, tal como elas foram pioneiramente analisadas por Alba Zaluar, funciona pelos mesmos princípios que ordenam o mundo social.
Eu dou lealdade e subserviência, você retribui com proteção e empenho. Esse é o lema implícito da vida política nacional e nas prisões. O prisioneiro neófito entra na facção porque o Estado não lhe garante segurança. No Brasil, “ir para a cadeia” corresponde a ser destituído de humanidade. A desumanização do prisioneiro faz parte da nossa ideia de castigo.
Ademais, como ter prisioneiros tratados com humanidade e, ao mesmo tempo, aprisionar políticos e empresários ambiciosos e desonestos? Estaria aí o centro do nosso dilema moral? A igualdade perante a lei implica o respeito pelos criminosos e - eis o paradoxo - na punição dos privilegiados. Aqueles a quem a sociedade confiou uma administração pública honesta e criativa. O voto dado exige uma devoção ao cargo, e o cargo, uma entrega ao bem comum. Mas como tornar tal valor uma realidade se os políticos e os empresários se associam para roubar, desrespeitando as normas fundamentais da honestidade? Se seguir a lei é, ainda hoje, uma babaquice, porque segui-la quando se está no poder?
O que essas prisões de “gente grande” revelam, o espanto que causam, o furor que despertam, é que elas confirmam que o nosso ideal constitucional de democracia e igualdade não existe. É uma ficção legal e política.
Não buscamos ser o cidadão comum. Todo queremos ser celebres e “grandes”. Queremos ser aquele cujo prestígio engloba até mesmo a verdade e os fatos. Aquele que é garantido por todo tipo de apoio e empenho. Todos entendemos, mas também sabemos como é difícil estabelecer uma cultura igualitária numa sociedade de barões, figurões e reizinhos. Pois até no inferno das nossas prisões, assistimos estupefatos à guerra pela precedência e pelo privilégio.
Roberto DaMatta
Companheiro Eike
O salão de festas do legendário hotel Waldorf Astória, em Nova York, estava lotado pela nata do empresariado americano na noite de 21 de setembro de 2009. Lula era o pop star do jantar onde estava recebendo o prêmio Woodrow Wilson for Public Service, concedido a políticos e empresários.
Em seu discurso, o então presidente da República, falou do “momento mágico” que o Brasil vivia e cumprimentou nominalmente apenas três pessoas: Luiz Dulci, secretário Geral da Presidência; Rex Tillerson, presidente mundial da ExxonMobil e hoje Secretário de Estado de Donald Trump, o principal cargo do governo dos EUA depois do presidente; e “o nosso companheiro Eike Batista”.
Eike Batista era a principal grife da política de “campeões nacionais”.
De fato, turbinado por um empréstimo do BNDES de R$ 10 bilhões, Eike já era o sétimo homem mais rico do planeta, dono de uma fortuna de R$ 30 bilhões e “orgulho do Brasil”, como a ex Dilma Rousseff o chamava.O empresário-padrão parecia um novo Midas. Tudo em que tocava virava ouro, sem nenhuma ironia com seu parceiro Sérgio Cabral.
O império de Eike ruiu abruptamente em 2013 quando a joia da coroa, a petroleira OGX, foi à bancarrota porque os poços perfurados não tinham petróleo. O prejuízo ficou para os credores e investidores, entre eles o BNDES e fundos de pensão, que caíram no conto do “petróleo dos tolos”.
Em suas mãos ficaram ações micadas, algumas das quais com valor de centavos.
Para se ter ideia do tamanho do golpe: ao surfar no otimismo da era Lula, Eike Batista captou R$ 27 bilhões no mercado de capitais.
Diante do rotundo fracasso do maior símbolo do “momento mágico” lulista, o então presidente do BNDES, Luciano Coutinho, procurou amenizar o colapso como “acidente”, ao qual o mercado estaria “acostumado”.
Explicação mais estapafúrdia só mesmo a do místico Eike Batista. A culpa, dizia ele, foi de uma conspiração dos astros.
Acidente de percurso coisíssima nenhuma. A derrocada do grupo Eike foi o corolário de uma sucessão de vexames da estratégia lulopetista de eleger um “núcleo de empresas vencedoras”.
Nesta aventura o BNDES jogou cerca de R$ 40 bilhões em transações no mínimo duvidosas, como a OI/Telemar (a supertele criada para concorrer com as multinacionais), a campeã de laticínios LBR (que simplesmente quebrou), o grupo Bertin (que deu um vexame bilionário nos segmentos de carnes e energia) ou, dentre tantos outros, o frigorífico Marfrig (que recebeu R$ 3,6 bilhões de dinheiro público em aportes em troca de ceder 19,6% de seu capital ao BNDESPar).
No auge dessa loucura, Coutinho tecia loas a Lula, chamando-o de “nosso grande timoneiro” e dava fundamentos teóricos à política de “campeões nacionais”. De pés juntos, jurava que não havia um “processo artificial de fabricação de empresas”.
Diante do rosário de fracassos, o BNDES jogou a toalha em 2013. Desistiu dessa política, sem que ela tivesse se traduzido em ganhos para o Brasil.
Na Coréia do Sul, o programa público de estímulo - que gerou gigantes como a Samsung - estabelecia que as empresas contempladas apresentassem ganhos de produtividade e de exportação. Quem não alcançasse a meta, perdia imediatamente os benefícios.
No Brasil, nada se exigiu em contrapartida. Bastava ser amigo do rei.
Irmã gêmea dos campeões nacionais, a estratégia de se fomentar a substituição das importações no setor de óleo e gás, gerou a enroladíssima Sete Brasil.
Como suporte de tantos desatinos, o Tesouro Nacional injetou 350 bilhões de reais no BNDES, em apenas quatro anos.
Um espanto: o Tesouro captava recursos a juros da taxa Selic (12,75% em 2009) ao ano e repassava ao BNDES a juros de longo prazo, 6% ao ano. Por sua vez o banco fazia empréstimos de pai para filho a grupos privados escolhidos seletivamente.
Assim foi criado o capitalismo de laços descrito no livro de Sérgio Lazzarini, professor do Insper. Nessa modalidade, a acumulação de capital não se dá pela via da concorrência, de ganhos de competitividade e produtividade, mas pelas conexões de seletos grupos com o Estado.
Eike Batista é filho legítimo deste capitalismo de compadrio. Não seria o que foi sem o “momento mágico“ de Lula, sem a “nova matriz econômica” de Dilma.
O empresário queridinho dos governos petistas se apresenta à Justiça disposto a abrir o bico. Tem muito a contar sobre a política de campeões nacionais.
E é possível que Lula e “o companheiro Eike”, que hoje já vive no complexo penitenciário de Bangu no Rio de Janeiro, voltem a se encontrar. Não mais no luxuoso Waldorf Astória.
Em seu discurso, o então presidente da República, falou do “momento mágico” que o Brasil vivia e cumprimentou nominalmente apenas três pessoas: Luiz Dulci, secretário Geral da Presidência; Rex Tillerson, presidente mundial da ExxonMobil e hoje Secretário de Estado de Donald Trump, o principal cargo do governo dos EUA depois do presidente; e “o nosso companheiro Eike Batista”.
Eike Batista era a principal grife da política de “campeões nacionais”.
 |
| Eike Batista, Adriana Ancelmo, Lula, Pezão, Sérgio Cabral e Eduardo Paes |
O império de Eike ruiu abruptamente em 2013 quando a joia da coroa, a petroleira OGX, foi à bancarrota porque os poços perfurados não tinham petróleo. O prejuízo ficou para os credores e investidores, entre eles o BNDES e fundos de pensão, que caíram no conto do “petróleo dos tolos”.
Em suas mãos ficaram ações micadas, algumas das quais com valor de centavos.
Para se ter ideia do tamanho do golpe: ao surfar no otimismo da era Lula, Eike Batista captou R$ 27 bilhões no mercado de capitais.
Diante do rotundo fracasso do maior símbolo do “momento mágico” lulista, o então presidente do BNDES, Luciano Coutinho, procurou amenizar o colapso como “acidente”, ao qual o mercado estaria “acostumado”.
Explicação mais estapafúrdia só mesmo a do místico Eike Batista. A culpa, dizia ele, foi de uma conspiração dos astros.
Acidente de percurso coisíssima nenhuma. A derrocada do grupo Eike foi o corolário de uma sucessão de vexames da estratégia lulopetista de eleger um “núcleo de empresas vencedoras”.
Nesta aventura o BNDES jogou cerca de R$ 40 bilhões em transações no mínimo duvidosas, como a OI/Telemar (a supertele criada para concorrer com as multinacionais), a campeã de laticínios LBR (que simplesmente quebrou), o grupo Bertin (que deu um vexame bilionário nos segmentos de carnes e energia) ou, dentre tantos outros, o frigorífico Marfrig (que recebeu R$ 3,6 bilhões de dinheiro público em aportes em troca de ceder 19,6% de seu capital ao BNDESPar).
No auge dessa loucura, Coutinho tecia loas a Lula, chamando-o de “nosso grande timoneiro” e dava fundamentos teóricos à política de “campeões nacionais”. De pés juntos, jurava que não havia um “processo artificial de fabricação de empresas”.
Diante do rosário de fracassos, o BNDES jogou a toalha em 2013. Desistiu dessa política, sem que ela tivesse se traduzido em ganhos para o Brasil.
Na Coréia do Sul, o programa público de estímulo - que gerou gigantes como a Samsung - estabelecia que as empresas contempladas apresentassem ganhos de produtividade e de exportação. Quem não alcançasse a meta, perdia imediatamente os benefícios.
No Brasil, nada se exigiu em contrapartida. Bastava ser amigo do rei.
Irmã gêmea dos campeões nacionais, a estratégia de se fomentar a substituição das importações no setor de óleo e gás, gerou a enroladíssima Sete Brasil.
Como suporte de tantos desatinos, o Tesouro Nacional injetou 350 bilhões de reais no BNDES, em apenas quatro anos.
Um espanto: o Tesouro captava recursos a juros da taxa Selic (12,75% em 2009) ao ano e repassava ao BNDES a juros de longo prazo, 6% ao ano. Por sua vez o banco fazia empréstimos de pai para filho a grupos privados escolhidos seletivamente.
Assim foi criado o capitalismo de laços descrito no livro de Sérgio Lazzarini, professor do Insper. Nessa modalidade, a acumulação de capital não se dá pela via da concorrência, de ganhos de competitividade e produtividade, mas pelas conexões de seletos grupos com o Estado.
Eike Batista é filho legítimo deste capitalismo de compadrio. Não seria o que foi sem o “momento mágico“ de Lula, sem a “nova matriz econômica” de Dilma.
O empresário queridinho dos governos petistas se apresenta à Justiça disposto a abrir o bico. Tem muito a contar sobre a política de campeões nacionais.
E é possível que Lula e “o companheiro Eike”, que hoje já vive no complexo penitenciário de Bangu no Rio de Janeiro, voltem a se encontrar. Não mais no luxuoso Waldorf Astória.
Donald Trump: eis um homem que, de fato, odeia os EUA!!!
Donald Trump está no poder há meros 11 dias. E já deu para perceber que o mundo que ele deseja é incompatível com um estágio de civilização para o qual contribuíram, de forma definidora, ora vejam!, os Estados Unidos.
A globalização econômica é uma construção e uma conquista americanas. A aldeia global, na área da cultura, é uma construção e uma conquista americanas; a forma como está organizado o sistema de trocas entre as nações — indústria, comércio, serviços — é uma criação e uma conquista americanas. A tudo isso o celerado resolveu dar as costas.
No fim das contas, olhem que estupefaciente!, descobrimos que existe um homem que odeia o papel desempenhado pelos Estados Unidos nos últimos 150 anos. Seu nome é Donald Trump.
E como ele chegou lá? Existe uma crise econômica e social aguda no país, situação que costuma abrir as portas para delinquentes da estirpe de Trump? A resposta, obviamente, é “não”. Ao contrário: o sistema, com erros e acertos, deu prova de vitalidade. Então como foi que o desastre se deu?
Trump, com efeito, é um acontecimento só possível na era das redes sociais. Os demagogos de plantão tendem a chamar isso tudo de “o verdadeiro povo” — como se os críticos do presidente fossem o “falso”. Não! Não são “o verdadeiro” coisa nenhuma! Até porque os mecanismos de manipulação da opinião pública e de plantação deliberada de mentiras estão comprovados. O que as redes têm feito, isto sim, é nivelar verdades e mentiras. No fim das contas, tudo seria apenas “opinião”.
Mais: paranoides como Trump sempre estão a insinuar que há grandes conspirações e maquinações em curso e que um ente maligno qualquer, escondido em algum lugar do planeta, está engabelando todo mundo. Os agentes das trevas seriam “os políticos”. E Trump, por óbvio, se apresenta como um não político.
A imigração sem freios, sem métodos, sem planejamento, sem controle — escolham aí — cria problemas? Ora, é claro que sim! Há o risco efetivo de terroristas se imiscuírem entre refugiados e imigrantes? Mais do que risco: isso já aconteceu. Mas a resposta é erguer um muro com um país vizinho, no que é uma declaração mitigada de guerra? A resposta é proibir por 90 dias a entrada no país de cidadãos de Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Somália e Sudão? Ou impedir por 120 dias o ingresso de refugiados?
A reação a esse destrambelhamento é forte. Dezesseis procuradores estaduais — sim, de Estados governados por democratas — resolveram declarar guerra à medida. Juízes estão reafirmando a sua ilegalidade. Empresas americanas também a criticam; reitores das universidades se opõem ao texto, e o imbróglio atinge a administração: Trump demitiu, como se fosse ainda o chefão de “O Aprendiz”, a procuradora-geral interina, Sally Yates, depois de ela declarar que o Departamento de Justiça não defenderia a decisão do presidente.
Pois é… Onze dias. Sai reforçada a impressão que tenho de que não conclui o mandato. Há muito, uma parte essencial dos interesses americanos mundo afora depende da admiração. Isto mesmo: a máquina publicitária fez do “jeito americano de viver” uma espécie de éden a ser alcançado, vivido, emulado.
Em 11 dias, o que se vê mundo afora é uma onda de ódio e repulsa aos EUA que seus piores inimigos não conseguiriam estimular. Mais uma obra de Trump.
Por isso, infiro que, antes que ele quebre o sistema americano e a pax americana, serão a pax americana e o sistema americano a quebrá-lo.
Querem saber? Por mim, quanto mais maluco, melhor. Que se apresse o seu destino.
A globalização econômica é uma construção e uma conquista americanas. A aldeia global, na área da cultura, é uma construção e uma conquista americanas; a forma como está organizado o sistema de trocas entre as nações — indústria, comércio, serviços — é uma criação e uma conquista americanas. A tudo isso o celerado resolveu dar as costas.
No fim das contas, olhem que estupefaciente!, descobrimos que existe um homem que odeia o papel desempenhado pelos Estados Unidos nos últimos 150 anos. Seu nome é Donald Trump.
E como ele chegou lá? Existe uma crise econômica e social aguda no país, situação que costuma abrir as portas para delinquentes da estirpe de Trump? A resposta, obviamente, é “não”. Ao contrário: o sistema, com erros e acertos, deu prova de vitalidade. Então como foi que o desastre se deu?
Trump, com efeito, é um acontecimento só possível na era das redes sociais. Os demagogos de plantão tendem a chamar isso tudo de “o verdadeiro povo” — como se os críticos do presidente fossem o “falso”. Não! Não são “o verdadeiro” coisa nenhuma! Até porque os mecanismos de manipulação da opinião pública e de plantação deliberada de mentiras estão comprovados. O que as redes têm feito, isto sim, é nivelar verdades e mentiras. No fim das contas, tudo seria apenas “opinião”.
Mais: paranoides como Trump sempre estão a insinuar que há grandes conspirações e maquinações em curso e que um ente maligno qualquer, escondido em algum lugar do planeta, está engabelando todo mundo. Os agentes das trevas seriam “os políticos”. E Trump, por óbvio, se apresenta como um não político.
A imigração sem freios, sem métodos, sem planejamento, sem controle — escolham aí — cria problemas? Ora, é claro que sim! Há o risco efetivo de terroristas se imiscuírem entre refugiados e imigrantes? Mais do que risco: isso já aconteceu. Mas a resposta é erguer um muro com um país vizinho, no que é uma declaração mitigada de guerra? A resposta é proibir por 90 dias a entrada no país de cidadãos de Irã, Iraque, Síria, Iêmen, Somália e Sudão? Ou impedir por 120 dias o ingresso de refugiados?
A reação a esse destrambelhamento é forte. Dezesseis procuradores estaduais — sim, de Estados governados por democratas — resolveram declarar guerra à medida. Juízes estão reafirmando a sua ilegalidade. Empresas americanas também a criticam; reitores das universidades se opõem ao texto, e o imbróglio atinge a administração: Trump demitiu, como se fosse ainda o chefão de “O Aprendiz”, a procuradora-geral interina, Sally Yates, depois de ela declarar que o Departamento de Justiça não defenderia a decisão do presidente.
Pois é… Onze dias. Sai reforçada a impressão que tenho de que não conclui o mandato. Há muito, uma parte essencial dos interesses americanos mundo afora depende da admiração. Isto mesmo: a máquina publicitária fez do “jeito americano de viver” uma espécie de éden a ser alcançado, vivido, emulado.
Em 11 dias, o que se vê mundo afora é uma onda de ódio e repulsa aos EUA que seus piores inimigos não conseguiriam estimular. Mais uma obra de Trump.
Por isso, infiro que, antes que ele quebre o sistema americano e a pax americana, serão a pax americana e o sistema americano a quebrá-lo.
Querem saber? Por mim, quanto mais maluco, melhor. Que se apresse o seu destino.
Parábola das garças ou entre o certo e o certo

Quem observa bem o pouso e a decolagem das garças? Já o fiz, sobretudo nos meus 33 anos de residência em Aracaju. Elas chegam em bandos, ao pôr do sol, e se aproximam cuidadosamente dos manguezais, dos brejos, dos terrenos pantanosos que são o seu quarto de dormir. Os locais preferidos do seu merecido sono. E chegam em meio a tênues circunvoluções. Meio devagar, meio puxando o seu próprio freio de mão, falemos assim. Cuidadosamente, como se cada descida fosse uma primeira vez. É uma espécie de passo de dança. Uma estudada coreografia para a suavidade e também a elegância no ato de trocar o céu pelo chão. Ou pelos retorcidos galhos das árvores típicas dos manguezais em que, por vezes, também caem nos braços de Morfeu.
Finda a noite ou aos primeiros sinais da luz do dia, elas, as garças, balançam-se um pouco nas compridas pernas ainda fincadas no lodoso chão. Ou recurvadamente presas nos galhos úmidos, também lodosos, das árvores de mangue em que pousadas. Ainda uma vez, tudo se passa com suavidade e mal disfarçada elegância. O cuidado consigo mesmas e com todo o seu entorno a dar as cartas. E assim como quem primeiro cautelosamente levita, como quem primeiro desconfia da sua própria aptidão de voar, soltam enfim as compridas asas para o movimento agora inverso da troca do chão pelo céu.
Pois bem, quando desse retornar alado para outras plagas ditadas pelo GPS do seu próprio estômago vazio, as garças de Aracaju passavam rentes às varandas dos apartamentos em que já morei. Altas varandas, em frente a um dos mais encorpados manguezais da cidade. E o que notava o meu atento olhar sobre essa matinal revoada? Que nenhuma delas trazia o menor sinal de lama sobre o alvor das respectivas penas. Uma nesga de lodo que fosse! Nada, nada a tisnar a virginal brancura de uma plumagem que os dicionaristas chamam de “estrutura epidérmica das aves”. Elas, as garças, como que a tomar cuidados tão assépticos quanto éticos na estratégica hora do pouso e da decolagem. Como que a dizer para nós, seres humanos, que o entorno de cada uma e de todas é enlameado, sim. É lodoso, sim. É pantanoso, sim, mas nenhuma se permite contaminar.
Não parece que vivem a nos mandar recado? Elas, as garças? O recado de que o modo mais natural de ser é não se deixar corromper? Corromper como prosaico sinônimo de tornar pútrido, perverter, depravar, delinquir, desfigurar, contrafazer, desnaturar, enfim? Donde a lógica dedução de que, “nas coisas ditas humanas” (expressão colhida em Baruch Spinoza), o primeiro modo mais inteligente de ser é permanecer ético. Decente. Honesto. Porque assim é que a gente se dá ao respeito. Assim é que todo indivíduo consegue viver inteiramente a salvo do olhar investigativo da polícia. Tanto quanto do olhar acusatório do Ministério
Público e processante do Poder Judiciário. Por extensão, totalmente à vontade ante a mais intensa vigília da imprensa e da cidadania. Passando a manter com o seu próprio travesseiro, à noite, o mais arrebatado caso de amor.
Há mais o que dizer quanto à própria compostura física das garças. Elas trazem no olhar a serenidade e o justo orgulho de quem vive com sua autoestima no ponto. Guardam a mais larga distância do estresse dos felinos, por ilustração. E falar de autoestima, para nós, humanos, é falar de algo enlaçado à centralidade individual. Uma coisa a puxar outra. Assim como centralidade individual equivale a equilíbrio interior. Próprio de quem otimiza a funcionalidade do quociente emocional (QE) e do quociente intelectual (QI) para, numa espécie de casamento por amor, partejar o rebento da consciência. Ciranda ou mutirão das coisas intrinsecamente meritórias, então. A culminar nesse topo do ser que não é senão ela, consciência.
É isso mesmo. Postado nesse mais alto ponto da própria consciência, o indivíduo cristaliza em si a serenidade e a autoestima. Vê tudo com mais clareza. Sensitividade. Sensatez. Esférica ou holisticamente. Não por modo reducionista ou apenas angular, parcial, mutilado. Não confunde jamais o bem do pluralismo de opiniões com o mal do divisionismo ideológico. Pega no ar (e não no tranco) a diferença entre o certo e o errado. Começando pela dimensão ética e subindo aos mais elevados patamares da justiça, da bondade, da beleza e da verdade, para ficarmos apenas com as quatro principais virtudes da clássica filosofia grega. Enlevadamente cônscio de que virtude atrai virtude com força ainda maior que a do vício para atrair o vício. O bem é mais empoderado que o mal, e nesse diapasão foi que Einstein sentenciou: “Quando a mente humana se abre para uma nova ideia, impossível retornar ao tamanho inicial”.
Achego-me do final deste meu artigo. Fazendo-o, ajunto o que ainda tenho como aptidão da consciência: distinguir entre o certo e o certo (falei assim, muitas vezes, no exercício da minha judicatura no TSE e no STF). Explico melhor. Esse locus pinacular da consciência ainda apetrecha a pessoa humana para mais seguramente diferenciar o certo real do certo aparente. O certo aparente, estagnado na visão monocular das coisas. Ali incrustado no radical seccionamento entre conteúdos e continente. Confundindo o lateral com o central. A espécie com o gênero, para anular o quê? O gênero mesmo, o central mesmo, o continente mesmo. Quando precisamente no cristalino espelho do central, do gênero e do continente é que Ciência e Vida têm a certeza de olhar para si mesmas.
Pensemos nisso, a respeito dessa polêmica em torno das alternativas regimentais do STF quanto ao novo relator dos processos atinentes à chamada Operação Lava Jato. Qual dessas alternativas a que mais imprime ganhos de funcionalidade sistêmica à Constituição? Qual a que se dota do mérito de rimar, toante e consoantemente, novo relator e princípio constitucional do “juízo” ou “juiz natural” (inciso XXXVII do artigo 5º da Constituição)? Com a palavra os senhores ministros da Casa.
E o Brasil quer o quê com seu ensino superior?
Nos três últimos governos inventaram índices, condições de oferta, Sinaes, Conaes, IGCs, CPCs, CCs AIEs (Avaliação Institucional Externa), produziram especiosos e detalhistas, senão ineficazes, instrumentos de avaliações, além de Enade, Enem, provinhas e provões, decretos-pontes, reformas universitárias, dilúvios de portarias ministeriais, micro (ou nano) regulatórias, enfim, uma parafernália de mudanças.
Tudo muito bonito, mas efetivamente inócuo
É um processo avassalador de modificações. Os governos brasileiros, federal e estaduais, têm alergia à ideia de órgãos autônomos, sejam agências reguladoras, sejam universidades, sejam conselhos educacionais.

As universidades brasileiras não gozam de autonomia verdadeira. Acho que os políticos brasileiros pensam que autonomia seja equivalente à soberania. Não se discute o ensino superior no Brasil, discute-se o acesso ao ensino superior, por isso, não existe uma política universitária, uma política educacional do ensino superior. Minha decepção nesse período é que não tenhamos discutido os objetivos do ensino superior no Brasil.
Se pegarmos a lista de melhores universidades mundiais, não encontramos nenhuma universidade brasileira entre as 100 primeiras. Vemos alguma lá na 180ª posição, que são as paulistas, a USP, a Unicamp, seguidas pela UFRJ, UFMG.
O Brasil nunca definiu se deseja ter uma grande universidade de qualificação mundial. A Coreia do Sul está lutando bravamente para constituir universidades de qualificação mundial.
A China tem um plano de fazer 100 universidades de qualificação mundial até 2021. A Alemanha tem um programa de 2,5 bilhões de euros para a qualificação.
O presidente francês deu autonomia para as principais universidades e exigiu que elas se qualifiquem. Portugal e Austrália também têm feito movimentos nessa direção.
A Inglaterra tem pelo menos três universidades de classe mundial e os EUA tem um caminhão delas.
E o Brasil, quer o que com seu ensino superior?
Alguns dirão: a expansão, que é uma política social; outros dirão: as cotas, que também é uma política social; outros, o Prouni (Programa Universidade para Todos), que também é uma política social. Mas, as universidades devem ensinar o quê? É para continuar formando quais profissionais na graduação? Nós queremos universidades de qualificação mundial no Brasil? Queremos universidades de ponta comparadas às de outros países? O que devemos ensinar aos estudantes universitários? Não se discute o ensino superior no Brasil, discute-se o acesso ao ensino superior, por isso, não existe uma política universitária, uma política educacional do ensino superior.
Nelson Valente
Tudo muito bonito, mas efetivamente inócuo
É um processo avassalador de modificações. Os governos brasileiros, federal e estaduais, têm alergia à ideia de órgãos autônomos, sejam agências reguladoras, sejam universidades, sejam conselhos educacionais.

Se pegarmos a lista de melhores universidades mundiais, não encontramos nenhuma universidade brasileira entre as 100 primeiras. Vemos alguma lá na 180ª posição, que são as paulistas, a USP, a Unicamp, seguidas pela UFRJ, UFMG.
O Brasil nunca definiu se deseja ter uma grande universidade de qualificação mundial. A Coreia do Sul está lutando bravamente para constituir universidades de qualificação mundial.
A China tem um plano de fazer 100 universidades de qualificação mundial até 2021. A Alemanha tem um programa de 2,5 bilhões de euros para a qualificação.
O presidente francês deu autonomia para as principais universidades e exigiu que elas se qualifiquem. Portugal e Austrália também têm feito movimentos nessa direção.
A Inglaterra tem pelo menos três universidades de classe mundial e os EUA tem um caminhão delas.
E o Brasil, quer o que com seu ensino superior?
Alguns dirão: a expansão, que é uma política social; outros dirão: as cotas, que também é uma política social; outros, o Prouni (Programa Universidade para Todos), que também é uma política social. Mas, as universidades devem ensinar o quê? É para continuar formando quais profissionais na graduação? Nós queremos universidades de qualificação mundial no Brasil? Queremos universidades de ponta comparadas às de outros países? O que devemos ensinar aos estudantes universitários? Não se discute o ensino superior no Brasil, discute-se o acesso ao ensino superior, por isso, não existe uma política universitária, uma política educacional do ensino superior.
Nelson Valente
Inclusão dá lucro
O desafio que é preciso enfrentar é se dar conta de que, no final das contas, a única coisa que importa é a inclusão. Seja um homem, uma mulher, uma pessoa negra, que você tenha uma orientação sexual minoritária ou sofra de síndrome de Asperger.

(...) Todos os estudos apontam que a inclusão gera lucros empresariais. Calcula-se que a igualdade da mulher no mercado de trabalho poderia produzir mais de 8 trilhões de euros (27,2 trilhões de reais) de lucro mundial
Monique Morrow, executiva de tecnologia do gigante tecnológico Cisco
Não muda nada
Até sexta-feira é provável que muita coisa aconteça: a designação do ministro do Supremo Tribunal Federal que sucederá a Teori Zavaski como relator do processo dos corruptos envolvidos com a Odbrecht e sua decisão de levantar o sigilo de seus nomes; a indicação do presidente Michel Temer para a nova vaga aberta na maior corte nacional de justiça; a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado para os próximos dois anos; a adoção da linha de defesa de Eike Batista diante de sua prisão como parceiro do ex-governador Sérgio Cabral; a devolução ao empresário de sua peruca arrancada no estabelecimento penal a que foi conduzido.
Qual desses fatos prenderá mais a atenção do cidadão que paga impostos e vive num sufoco permanente para sobreviver?
Nenhum,é a resposta óbvia que cada um teria na hipótese de ser perguntado. Porque, fora os envolvidos nesse novo capítulo do festival de corrupção que nos assola, a consequência seria do desinteresse nacional.
Poucos sensibilizam-se com as sucessivas manchetes de jornal que apenas confirmam o que todos sabiam: o país é esse mesmo onde vivemos. Não há como transformá-lo, mesmo sabendo que as instituições continuam funcionando do mesmo jeito de sempre.
Há uns poucos que acreditam em eleições, mas apenas para aguardar novas frustrações. Afinal, a maioria dos condenados por corrupção cumpre suas penas em casa, destino provável para a nova lista a ser conhecida em breve. Tudo continuará como antes. Melhor assim.
Qual desses fatos prenderá mais a atenção do cidadão que paga impostos e vive num sufoco permanente para sobreviver?
Nenhum,é a resposta óbvia que cada um teria na hipótese de ser perguntado. Porque, fora os envolvidos nesse novo capítulo do festival de corrupção que nos assola, a consequência seria do desinteresse nacional.
O brasileiro comum preocupa-se muito mais com o desemprego, a alta do custo de vida, a forma de sustentar a família, a falta de hospitais e postos de saúde, a violência urbana e como enfrentar os impostos crescentes neste começo de ano.
Poucos sensibilizam-se com as sucessivas manchetes de jornal que apenas confirmam o que todos sabiam: o país é esse mesmo onde vivemos. Não há como transformá-lo, mesmo sabendo que as instituições continuam funcionando do mesmo jeito de sempre.
Há uns poucos que acreditam em eleições, mas apenas para aguardar novas frustrações. Afinal, a maioria dos condenados por corrupção cumpre suas penas em casa, destino provável para a nova lista a ser conhecida em breve. Tudo continuará como antes. Melhor assim.
A cabeleira do Zezé
Um dos maiores sucessos de carnaval de todos os tempos, a marchinha Cabeleira do Zezé, de João Roberto Kelly e Roberto Faissal, é uma crônica do seu tempo. Bombou no Baile do Municipal de 1964, no qual a elite carioca se divertia enquanto o país rumava para o golpe militar de 31 de março, naquele mesmo ano. Nove mil foliões se apinhavam no salão, nos camarotes e nas galerias do teatro. O camarote presidencial havia sido cedido para venda pela primeira-dama Tereza Goulart, com renda destinada a caridade.
Nele brilhavam os convidados de Mario Wallace Simonsen, o dono da antiga TV Excelsior: a atriz Elza Martinelli e o ator Alberto Sordi, ambos italianos, e o playboy Porfírio Rubirosa, o diplomata e jogador de polo dominicano que namorou nove entre as 10 mais famosas atrizes de Hollywood: Dolores del Río, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Judy Garland, Veronica Lake, Kim Novak, Eva Peron e Zsa Zsa Gabor, sem falar na francesa Danielle Darrieux, belíssima, com quem se casou.
Isabel Valença, a maior destaque do Salgueiro de todos tempos, mulher do banqueiro de bicho Osmar Valença, vencia o concurso de fantasias mais uma vez, interpretando a Rainha Rita de Vila Rica. No ano anterior, havia deslumbrado a avenida Presidente Vargas com Chica da Silva, personagem principal do enredo de Arlindo Rodrigues e Fernando Pamplona que revolucionou os desfiles de escolas de samba.
Mas, no salão, entre os foliões, quem brilhava mesmo era a marchinha de Kelly e Faissal: “Olha a cabeleira do Zezé/Será que ele é?/Será que ele é?/Será que ele é bossa nova?/Será que ele é Maomé?/Parece que é transviado/Mas isso eu não sei se ele é./Corta o cabelo dele!/Corta o cabelo dele!/Corta o cabelo dele!/Corta o cabelo dele!”. A música havia estourado nas rádios, na voz de Jorge Goulart. Até o carnaval passado, mais de 50 anos depois, continuava sendo uma das mais tocadas. Neste ano, porém, entrou na lista das músicas politicamente incorretas dos blocos cariocas, por sua evidente conotação homofóbica.
Como toda marchinha de carnaval, a história da música é uma crônica do cotidiano. Kelly era frequentador do bar São Jorge, em Copacabana, perto do Túnel Novo. Fez a primeira parte batucando no balcão, de gozação com um garçom chamado Zé Antônio, que se parecia com um dos Beatles e deixara o cabelo crescer à moda da banda inglesa, como muitos jovens daquela época. A letra refletia o choque de comportamentos de então, em plena revolução dos costumes.
A música não tratava de uma cabeleira postiça, embora o uso de peruca pelos homens fosse muito mais comum do que se imagina, como até hoje; o chapéu já estava em desuso. Pode ser tão preconceituoso como a velha marchinha de carnaval, mas não dá para ignorar a foto sem “aplique” do ex-megaempresário Eike Batista, que se entregou à Polícia Federal. Sua última imagem em liberdade foi embarcando de volta ao Brasil, com os cabelos em ordem. A foto no qual aparece com a cabeça raspada, porém, mostra claramente uma calvície acentuada.

Foi inevitável que o assunto tomasse as redes sociais. O “aplique” que usava era quase imperceptível. Coisa muito fina, que lhe dava a aparência de mais jovem e dinâmico, como convinha à imagem de empresário audacioso e bem-sucedido, até os negócios entrarem em colapso. A foto é o gran finale de uma megafarsa empresarial, na qual Eike Batista chegou a ser relacionado na lista dos 10 maiores bilionários do planeta, graças à política de “campeões nacionais” dos governos Lula e Dilma, financiadas pelo BNDES. Eike foi preso porque omitiu de sua “delação premiada” na Operação Lava-Jato a parceria no caixa dois bilionário do ex-governador fluminense Sérgio Cabral, flagrado pela Operação Eficiência.
Nele brilhavam os convidados de Mario Wallace Simonsen, o dono da antiga TV Excelsior: a atriz Elza Martinelli e o ator Alberto Sordi, ambos italianos, e o playboy Porfírio Rubirosa, o diplomata e jogador de polo dominicano que namorou nove entre as 10 mais famosas atrizes de Hollywood: Dolores del Río, Marilyn Monroe, Ava Gardner, Rita Hayworth, Judy Garland, Veronica Lake, Kim Novak, Eva Peron e Zsa Zsa Gabor, sem falar na francesa Danielle Darrieux, belíssima, com quem se casou.
Isabel Valença, a maior destaque do Salgueiro de todos tempos, mulher do banqueiro de bicho Osmar Valença, vencia o concurso de fantasias mais uma vez, interpretando a Rainha Rita de Vila Rica. No ano anterior, havia deslumbrado a avenida Presidente Vargas com Chica da Silva, personagem principal do enredo de Arlindo Rodrigues e Fernando Pamplona que revolucionou os desfiles de escolas de samba.
Mas, no salão, entre os foliões, quem brilhava mesmo era a marchinha de Kelly e Faissal: “Olha a cabeleira do Zezé/Será que ele é?/Será que ele é?/Será que ele é bossa nova?/Será que ele é Maomé?/Parece que é transviado/Mas isso eu não sei se ele é./Corta o cabelo dele!/Corta o cabelo dele!/Corta o cabelo dele!/Corta o cabelo dele!”. A música havia estourado nas rádios, na voz de Jorge Goulart. Até o carnaval passado, mais de 50 anos depois, continuava sendo uma das mais tocadas. Neste ano, porém, entrou na lista das músicas politicamente incorretas dos blocos cariocas, por sua evidente conotação homofóbica.
Como toda marchinha de carnaval, a história da música é uma crônica do cotidiano. Kelly era frequentador do bar São Jorge, em Copacabana, perto do Túnel Novo. Fez a primeira parte batucando no balcão, de gozação com um garçom chamado Zé Antônio, que se parecia com um dos Beatles e deixara o cabelo crescer à moda da banda inglesa, como muitos jovens daquela época. A letra refletia o choque de comportamentos de então, em plena revolução dos costumes.
A música não tratava de uma cabeleira postiça, embora o uso de peruca pelos homens fosse muito mais comum do que se imagina, como até hoje; o chapéu já estava em desuso. Pode ser tão preconceituoso como a velha marchinha de carnaval, mas não dá para ignorar a foto sem “aplique” do ex-megaempresário Eike Batista, que se entregou à Polícia Federal. Sua última imagem em liberdade foi embarcando de volta ao Brasil, com os cabelos em ordem. A foto no qual aparece com a cabeça raspada, porém, mostra claramente uma calvície acentuada.

Depois de ser considerado foragido e entrar na lista da Interpol, Eike resolveu voltar ao Brasil e se entregar às autoridades, com o claro propósito de “passar a limpo” suas atividades ilícitas, ou seja, vai contar tudo o que fez, disposto a entregar quem ainda não foi preso. De cabeça raspada e uniforme de detento, o ex-magnata foi levado para o Complexo Penitenciário de Bangu 9, como é mais conhecida a Cadeia Pública Bandeira Stampa, na Zona Oeste do Rio. Por não ter curso superior, não pode ir para Bangu 8, onde estão os outros envolvidos. Ali não há, porém, domínio de facções criminosas, e as celas são ocupadas por apenas seis presos, que trabalham na “faxina”, ou seja, na limpeza das unidades prisionais.
O Fies é uma Fiesta de maganos
Sérgio Cabral via em Eike Batista “um homem de visão fordiana, stevejobsiana”. Ambos estão na cadeia. Para Cabral, Eike simbolizava o “Brasil de Lula e de Dilma”. Ele encarnava também um aspecto do capitalismo brasileiro. Numa das listas de bilionários (em dólares) da revista “Forbes”, estrelada por Eike até 2011, Pindorama tinha três empresários do setor educacional. Estranha situação, porque entre os 1.694 bilionários americanos, havia só um nesse mercado. O Brasil não tem bons indicadores educacionais, mas tem a maior empresa privada do mundo, a Kroton.
No “Brasil de Lula e de Dilma” o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi transformado em girafa pedagógica e financeira. O estudante conseguia o financiamento da Viúva mesmo que tivesse tirado zero na prova de redação. Quando Dilma Rousseff mudou essa maluquice, exigindo um mínimo de 450 pontos na prova do Enem, donos de faculdades privadas protestaram.

A girafa financeira permitiu que as empresas que operam nesse setor transferissem para o caixa do Fies o risco da inadimplência de seus estudantes. Num ano ruim, ele ficava em torno de 25%. Afrouxaram as exigências para os fiadores e aquilo que podia parecer um programa de incentivo aos jovens virou um programa de estatização dos riscos das empresas. Uma delas tornou-se a maior receptora de dinheiro da Viúva, superando até mesmo a Odebrecht.
O repórter Paulo Saldaña informa que numa carteira de 562 mil contratos, a taxa de inadimplência do Fies está em 53%. Um terço dos caloteiros não paga suas prestações há mais de um ano. A explosão era pedra cantada. A taxa de inadimplência do programa que o antecedeu, hospedado na Caixa Econômica, era de 70%. Saldaña estava na equipe que ganhou o Premio Esso de Jornalismo de 2015 com uma reportagem sobre as loucuras do Fies. O analista de investimentos Tiago Ring batizara o sistema de Fiesta.
A Fiesta envolve uma carteira de um milhão de contratos e um ervanário de R$ 55,5 bilhões (o déficit do Rio de Janeiro é de apenas R$ 17 bilhões). O Ministério da Educação diz que não dispõe de estudos ou informações sobre os calotes no Fies, mas oferece boa parolagem: “Medidas mitigadoras dos atuais níveis de inadimplência, como também voltadas à reformulação do Fies ora em estudo, pretendem equacionar a sustentabilidade do programa”. Pura empulhação, eles sabem o tamanho da encrenca e, no escurinho da Esplanada, estão estudando um Fies 2.0.
José Janguiê Diniz, um dos bilionários da Forbes, dono do maior grupo educacional do Norte e Nordeste, defende a lassitude na concessão de financiamentos a estudantes com desempenho abaixo dos 450 pontos do Enem: “A gente acredita que o programa precisa colocar na universidade quem precisa e não pode pagar. E quem não tem nota é exatamente quem mais precisa”. Não faz sentido, quem não tem nota, nota não tem.
O Fies enriqueceu o andar de cima e está desmoralizando o sistema de financiamento público para o andar de baixo.
Paulo Renato Souza, o ministro da Educação de Fernando Henrique Cardoso, toureava os interesses das faculdades privadas com uma ponta de fatalismo: “Há setores que você pode até entregar para as freiras carmelitas descalças, mas na segunda reunião elas chegam com bolsas Vuitton”.
Elio Gaspari
No “Brasil de Lula e de Dilma” o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi transformado em girafa pedagógica e financeira. O estudante conseguia o financiamento da Viúva mesmo que tivesse tirado zero na prova de redação. Quando Dilma Rousseff mudou essa maluquice, exigindo um mínimo de 450 pontos na prova do Enem, donos de faculdades privadas protestaram.

O repórter Paulo Saldaña informa que numa carteira de 562 mil contratos, a taxa de inadimplência do Fies está em 53%. Um terço dos caloteiros não paga suas prestações há mais de um ano. A explosão era pedra cantada. A taxa de inadimplência do programa que o antecedeu, hospedado na Caixa Econômica, era de 70%. Saldaña estava na equipe que ganhou o Premio Esso de Jornalismo de 2015 com uma reportagem sobre as loucuras do Fies. O analista de investimentos Tiago Ring batizara o sistema de Fiesta.
A Fiesta envolve uma carteira de um milhão de contratos e um ervanário de R$ 55,5 bilhões (o déficit do Rio de Janeiro é de apenas R$ 17 bilhões). O Ministério da Educação diz que não dispõe de estudos ou informações sobre os calotes no Fies, mas oferece boa parolagem: “Medidas mitigadoras dos atuais níveis de inadimplência, como também voltadas à reformulação do Fies ora em estudo, pretendem equacionar a sustentabilidade do programa”. Pura empulhação, eles sabem o tamanho da encrenca e, no escurinho da Esplanada, estão estudando um Fies 2.0.
José Janguiê Diniz, um dos bilionários da Forbes, dono do maior grupo educacional do Norte e Nordeste, defende a lassitude na concessão de financiamentos a estudantes com desempenho abaixo dos 450 pontos do Enem: “A gente acredita que o programa precisa colocar na universidade quem precisa e não pode pagar. E quem não tem nota é exatamente quem mais precisa”. Não faz sentido, quem não tem nota, nota não tem.
O Fies enriqueceu o andar de cima e está desmoralizando o sistema de financiamento público para o andar de baixo.
Paulo Renato Souza, o ministro da Educação de Fernando Henrique Cardoso, toureava os interesses das faculdades privadas com uma ponta de fatalismo: “Há setores que você pode até entregar para as freiras carmelitas descalças, mas na segunda reunião elas chegam com bolsas Vuitton”.
Elio Gaspari
Naqueles tempos bárbaros e góticos
Sofro, com frequência, semanalmente, diariamente, horariamente, quando me ponho a ler colunas, livros, ensaios, ficções, testemunhos dos jovens e aclamados turcos do nosso mercado literário. Sinto-me, ai de mim, posto de lado, excluído, arrumado numa prateleira, de cada vez que mergulho naquela algaraviada debitada numa prosa "inovadora", que ofende o bom senso, a gramática essencial e a mais elementar lógica do discurso. As palavras combinam-se, ali, naquela prosa intemerata e louca, de modo anárquico e perturbante - e deixam-me os olhos e o espírito enviesados . Palavra puxa palavra, na razão directa da falta de senso e na inversa da mais desejável higiene mental. Escreve-se uma prosa "fresquinha" e "novinha", em que nada faz muito sentido, mas em que tudo soa muito a uma " revolução de linguagem" ( sic). Aquela prosa não dá para pensar, reflectir, para exprimir , dá apenas para parecer que está ali para prospectar territórios "novos", mesmo à custa de uma falta total de senso e de uma pungente ausência de sentido de ridículo.
O grande escritor americano James Baldwin observou que " a função radical da linguagem é a de controlar o universo, na medida em que o descreve." Descrever com acuidade o universo exige rigor, honestidade mental e um cuidado particular com a manipulação das palavras. Não é com combinações arbitrárias de palavras, com aproximações novinhas entre aquelas que mutuamente se não desejam, que se poderá descrever adequadamente o universo, quanto mais controlá-lo.
O grande escritor americano James Baldwin observou que " a função radical da linguagem é a de controlar o universo, na medida em que o descreve." Descrever com acuidade o universo exige rigor, honestidade mental e um cuidado particular com a manipulação das palavras. Não é com combinações arbitrárias de palavras, com aproximações novinhas entre aquelas que mutuamente se não desejam, que se poderá descrever adequadamente o universo, quanto mais controlá-lo.
Leio, diariamente - e disso sofro - afirmações tontas, debitadas em ar de grande regozijo e descoberta. Observava Cervantes que uma observação tonta pode ser feita tanto em latim como em espanhol. Eu acrescentaria que o português também se presta maravilhosamente a acolher o dislate. Fazer isto à linguagem, levianamente desta maneira, é coisa mui piadosa de ver. " Talvez que, de todas as criações do homem, a linguagem seja a mais assombrosa", disse esse grande biógrafo que se chamou Lytton Strachey. Talvez, por isso mesmo, essa assombrosa criação devesse estar cuidadosamente preservada, até aos ossos, de tanta irresponsável e quotidiana agressão. Tal como Churchill sentia, até aos ossos, a estrutura essencial da frase inglesa mais comum, eu sinto, também, até aos meus ossos lusitanos, a estrutura essencial da frase lusa. Por isso me confrange este mergulho diário nesta prosa contentinha e magnificamente festejada - e galardoada! - com que os nossos jovens turcos inundam a praça literária. Confrange-me até porque seria de supor que um mínimo de bom senso lexical e gramatical presidisse, geneticamente, à empresa dos perpetradores da prosa. Dizia o grande linguista Noam Chomsky que " cada pessoa tem, programada nos seus genes, a faculdade chamada gramática universal." Seria como se os nossos próprios genes nos impedissem de derraparmos em relação a um discurso claro e límpido. " Fazer sentido" estaria por assim dizer inscrito no nosso código genético. Como se enganava o grande linguista! Derrapar, vagabundear, juntar, à toa, elementos lexicais que mutuamente se não toleram - parece ser a grande vocação dos geniais inovadores que atordoam a nossa praça literária.
Meditando sobre tudo isto, Anatole France, que, no seu tempo fora atingido por um sofrimento não muito diferente do meu, observava melancolicamente : " Era naqueles tempos bárbaros e góticos, em que as palavras tinham um significado; naqueles dias, os escritores exprimiam pensamentos." Tempos remotos , bárbaros e góticos , em que o pensamento era claro e as palavras se não manipulavam de modo leviano ou mesmo arbitrário...
Esta prosa imatura feita de palavras que não apanharam sol - estou a lembrar-me do saudoso João de Araújo Correia - perturba-me de um modo quase físico: lê-se mal, ouve-se mal, respira-se mal. Causa dor física porque entope os pulmões e ofende a respiração. Feita de palavras míopes que mal enxergam outras cuja companhia melhor lhes convenha, vive de associações enviesadas e trôpegas que entulham o texto de neoplasias incómodas e dolorosas. Alheia ao discurso límpido concebido para gente chã, a prosa dos jovens turcos desconhece a claridade do amanhecer, saltando directamente de uma noite para outra noite.
O velho Samuel Johnson, que Boswell laboriosamente biografou, para a posteridade, observou um dia que tinha trabalhado " para refinar a linguagem até uma pureza gramatical e para a clarear de barbarismos coloquiais, de idiomas licenciosos e de combinações irregulares. " É este trabalho de refinaria da linguagem, para a libertar de " combinações irregulares", que proponho aos jovens perpetradores de atropelos gramaticais que visam inculcar como inovações aurorais , mas que não passam de tumores incómodos e opacos. As palavras dão para tudo: para fazer luz ou para fazer noite.Tudo depende de quem as usa e de que como as usa. Ou nos elevam acima dos brutos ou nos põem ao nível deles: escolha quem pode.
Eugénio Lisboa ( JL, 18-31 de Janeiro de 2017)
Meditando sobre tudo isto, Anatole France, que, no seu tempo fora atingido por um sofrimento não muito diferente do meu, observava melancolicamente : " Era naqueles tempos bárbaros e góticos, em que as palavras tinham um significado; naqueles dias, os escritores exprimiam pensamentos." Tempos remotos , bárbaros e góticos , em que o pensamento era claro e as palavras se não manipulavam de modo leviano ou mesmo arbitrário...
Ponho-me a ler estes textinhos inovadores e sinto a maior dificuldade em navegar no meio daquela frondosa " floresta de enganos". Tudo me perturba , me intriga, me coloca fora de qualquer realidade palpável. A sintaxe, a morfologia, o bom senso - retraem-se, afrouxam, fazem caretas, dissolvem-se. Sinto-me, não no meio de um discurso clarificador e enriquecedor, mas , sim, no centro de um ruído ensurdecedor e altamente criador de vertigem e de confusão. " As palavras , como é sabido", observava Joseph Conrad, " são grande inimigos da realidade." Estas palavras, manuseadas à balda, pelos jovens turcos bafejados pela glória, bloqueiam qualquer minguado acesso à realidade. Fazem um ruído novo, inesperado, intrigante, mas é um ruído que veda, obstrui a entrada do mais pequeno raio de luz. Uma análise combinatória focada nestes textos enviesados lega-nos um tecido estranho, feito de arranjos de palavras contranatura, de acasalamentos improváveis e de um guião sintáctico arrevesado. Busca-se , não a finura e a luz, mas, antes, a obscuridade sonora e espessa. Tropeça-se, a cada passo, no contra-senso, na metáfora mal amanhada, na adjectivação forçada ou absurda, na dedução claudicante... Em vez da pureza gramatical, o pântano linguístico, que nos enlameia a alma e conspurca o espírito.
Esta prosa imatura feita de palavras que não apanharam sol - estou a lembrar-me do saudoso João de Araújo Correia - perturba-me de um modo quase físico: lê-se mal, ouve-se mal, respira-se mal. Causa dor física porque entope os pulmões e ofende a respiração. Feita de palavras míopes que mal enxergam outras cuja companhia melhor lhes convenha, vive de associações enviesadas e trôpegas que entulham o texto de neoplasias incómodas e dolorosas. Alheia ao discurso límpido concebido para gente chã, a prosa dos jovens turcos desconhece a claridade do amanhecer, saltando directamente de uma noite para outra noite.
O velho Samuel Johnson, que Boswell laboriosamente biografou, para a posteridade, observou um dia que tinha trabalhado " para refinar a linguagem até uma pureza gramatical e para a clarear de barbarismos coloquiais, de idiomas licenciosos e de combinações irregulares. " É este trabalho de refinaria da linguagem, para a libertar de " combinações irregulares", que proponho aos jovens perpetradores de atropelos gramaticais que visam inculcar como inovações aurorais , mas que não passam de tumores incómodos e opacos. As palavras dão para tudo: para fazer luz ou para fazer noite.Tudo depende de quem as usa e de que como as usa. Ou nos elevam acima dos brutos ou nos põem ao nível deles: escolha quem pode.
Eugénio Lisboa ( JL, 18-31 de Janeiro de 2017)
O zika vírus, um ano depois
No dia 1 de fevereiro completa um ano que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a epidemia do vírus zikauma “Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional” (PHEIC na sigla em inglês). Até então, a OMS só havia feito uma declaração de emergência semelhante em três ocasiões: na pandemia de gripe suína (2009), no ressurgimento da poliomielite (2014) e na epidemia de ebola na África Ocidental (2014).
Desde novembro de 2016, a urgência deu lugar a um período de transição em que os mecanismos de gestão e as recomendações de emergência temporárias devem ser substituídos por outros de caráter mais robusto e que garantam a resposta a longo prazo. É importante ressaltar que as últimas análises da OMS concluíram que a epidemia de zika mantém seu risco em nível global e que os casos de infecções pelo vírus continuam a ser relatados em novas regiões e países de todo o mundo.

O surgimento do vírus no Brasil foi associado desde o início com o aparecimento de malformações graves do sistema nervoso central em bebês potencialmente expostos ao vírus durante a gravidez. Embora o número total de casos notificados tenha diminuído nos últimos meses, o vírus se espalhou por toda a América. Todos os países do continente, com exceção de três (Chile, Paraguai e Canadá), relataram casos autóctones de infecção. Na região do Pacífico, o vírus continua circulando e diferentes focos foram relatados na África e no Sudeste Asiático, onde é bastante possível que se propague.
Mas o impacto real ainda é desconhecido e mais de 2 bilhões de pessoas vivem em áreas com risco de infecção. Embora o vírus possa ser transmitido por contato sexual, a transmissão por picadas de mosquito (gênero Aedes) é a principal via de disseminação. Em lugares onde não há um vetor competente, o risco de emergência é mínimo e os esforços deveriam se concentrar na identificação das mulheres grávidas que possam ter contraído a infecção. Seja depois de viajar para um país com transmissão ativa do vírus ou por contato sexual com uma pessoa infectada.
Apesar dos progressos científicos obtidos no último ano, ainda existem muitas lacunas no conhecimento sobre a doença. Sabemos, por exemplo, que a infecção durante a gravidez implica no risco de que o feto desenvolva microcefalia e outras malformações neurológicas, mas não podemos quantificar esse risco ou prever como evoluirá durante a gravidez. Também não conhecemos o espectro completo de defeitos congênitos, nem como será o desenvolvimento das crianças nascidas de mães infectadas, ou se poderão andar e falar normalmente.
O diagnóstico laboratorial da infecção ainda é limitado aos centros especializados, o que é um grande desafio em lugares com recursos limitados. Embora existam vários estudos promissores, ainda não temos um teste de diagnóstico rápido para o terreno que tenha demonstrado ser suficientemente sensível e específico.
Até o momento, conhecemos a existência de duas linhagens do vírus – a africana e a asiática – sendo esta última a responsável pelas atuais epidemias no Pacífico e na América. Além disso, as complicações graves, como as malformações congênitas ou as síndromes neurológicas só foram associadas à linhagem asiática. Há alguma evidência de que a imunidade obtida após a infecção por uma das linhagens protege contra a outra, o que não acontece, por exemplo, com o vírus da dengue.
No entanto, não sabemos quanto tempo dura a imunidade ao zika depois de ser infectado por qualquer uma das linhagens. Essa questão é fundamental para se chegar a uma eventual vacina eficaz contra a infecção. Hoje, várias candidatas a vacina estão em fase clínica e na melhor das hipóteses ainda serão necessários de 2 a 4 anos para que uma vacina chegue ao público. Da mesma forma, um número limitado de drogas mostrou possuir atividade antiviral em laboratório, embora o caminho ainda seja relativamente longo para chegar a tratar mulheres grávidas, o grupo mais vulnerável ao vírus.
A epidemia se juntou à já complexa “ecologia” dos arbovírus (vírus transmitidos por artrópodes). Nas últimas décadas assistimos ao surgimento e à expansão global das infecções por esses vírus, incluindo dengue, chikungunha, vírus do Nilo Ocidental e febre amarela, que têm em comum como fatores predisponentes a “tríade” do mundo moderno: urbanização, globalização e mobilidade internacional. As doenças transmitidas por arbovírus passaram a ser prioridade na agenda global de saúde pública.
Mas essa priorização deveria estar relacionada a um apoio adequado à pesquisa e à implementação de medidas de saúde pública para melhorar a prevenção, a preparação e a resposta. A combinação de intervenções de eficácia comprovada para fazer frente a vários arbovírus é a estratégia que garante uma melhor relação custo-benefício e maior sustentabilidade. No entanto, é importante destacar que esse financiamento não deve ser “redirecionado” de outros programas, em detrimento dos recursos destinados a doenças altamente relevantes, tais como a malária, o HIV ou a tuberculose.
Outro aspecto fundamental é o fluxo de comunicação entre a comunidade científica, as autoridades e a população em geral. Essa comunicação é necessária para a gestão adequada da informação que implique em dar suporte às estratégias de prevenção e resposta, assim como evitar as reações de sobressalto exagerado.
A humanidade está sob constante ameaça do surgimento de novos agentes infecciosos. É essencial estabelecer novas parcerias internacionais que favoreçam a combinação de esforços multidisciplinares e de recursos para garantir respostas mais rápidas e mais eficazes contra as doenças emergentes e reemergentes.
Pablo Martínez de Salazar (ISGlobal).
Desde novembro de 2016, a urgência deu lugar a um período de transição em que os mecanismos de gestão e as recomendações de emergência temporárias devem ser substituídos por outros de caráter mais robusto e que garantam a resposta a longo prazo. É importante ressaltar que as últimas análises da OMS concluíram que a epidemia de zika mantém seu risco em nível global e que os casos de infecções pelo vírus continuam a ser relatados em novas regiões e países de todo o mundo.

O surgimento do vírus no Brasil foi associado desde o início com o aparecimento de malformações graves do sistema nervoso central em bebês potencialmente expostos ao vírus durante a gravidez. Embora o número total de casos notificados tenha diminuído nos últimos meses, o vírus se espalhou por toda a América. Todos os países do continente, com exceção de três (Chile, Paraguai e Canadá), relataram casos autóctones de infecção. Na região do Pacífico, o vírus continua circulando e diferentes focos foram relatados na África e no Sudeste Asiático, onde é bastante possível que se propague.
Mas o impacto real ainda é desconhecido e mais de 2 bilhões de pessoas vivem em áreas com risco de infecção. Embora o vírus possa ser transmitido por contato sexual, a transmissão por picadas de mosquito (gênero Aedes) é a principal via de disseminação. Em lugares onde não há um vetor competente, o risco de emergência é mínimo e os esforços deveriam se concentrar na identificação das mulheres grávidas que possam ter contraído a infecção. Seja depois de viajar para um país com transmissão ativa do vírus ou por contato sexual com uma pessoa infectada.
Apesar dos progressos científicos obtidos no último ano, ainda existem muitas lacunas no conhecimento sobre a doença. Sabemos, por exemplo, que a infecção durante a gravidez implica no risco de que o feto desenvolva microcefalia e outras malformações neurológicas, mas não podemos quantificar esse risco ou prever como evoluirá durante a gravidez. Também não conhecemos o espectro completo de defeitos congênitos, nem como será o desenvolvimento das crianças nascidas de mães infectadas, ou se poderão andar e falar normalmente.
O diagnóstico laboratorial da infecção ainda é limitado aos centros especializados, o que é um grande desafio em lugares com recursos limitados. Embora existam vários estudos promissores, ainda não temos um teste de diagnóstico rápido para o terreno que tenha demonstrado ser suficientemente sensível e específico.
Até o momento, conhecemos a existência de duas linhagens do vírus – a africana e a asiática – sendo esta última a responsável pelas atuais epidemias no Pacífico e na América. Além disso, as complicações graves, como as malformações congênitas ou as síndromes neurológicas só foram associadas à linhagem asiática. Há alguma evidência de que a imunidade obtida após a infecção por uma das linhagens protege contra a outra, o que não acontece, por exemplo, com o vírus da dengue.
No entanto, não sabemos quanto tempo dura a imunidade ao zika depois de ser infectado por qualquer uma das linhagens. Essa questão é fundamental para se chegar a uma eventual vacina eficaz contra a infecção. Hoje, várias candidatas a vacina estão em fase clínica e na melhor das hipóteses ainda serão necessários de 2 a 4 anos para que uma vacina chegue ao público. Da mesma forma, um número limitado de drogas mostrou possuir atividade antiviral em laboratório, embora o caminho ainda seja relativamente longo para chegar a tratar mulheres grávidas, o grupo mais vulnerável ao vírus.
A epidemia se juntou à já complexa “ecologia” dos arbovírus (vírus transmitidos por artrópodes). Nas últimas décadas assistimos ao surgimento e à expansão global das infecções por esses vírus, incluindo dengue, chikungunha, vírus do Nilo Ocidental e febre amarela, que têm em comum como fatores predisponentes a “tríade” do mundo moderno: urbanização, globalização e mobilidade internacional. As doenças transmitidas por arbovírus passaram a ser prioridade na agenda global de saúde pública.
Mas essa priorização deveria estar relacionada a um apoio adequado à pesquisa e à implementação de medidas de saúde pública para melhorar a prevenção, a preparação e a resposta. A combinação de intervenções de eficácia comprovada para fazer frente a vários arbovírus é a estratégia que garante uma melhor relação custo-benefício e maior sustentabilidade. No entanto, é importante destacar que esse financiamento não deve ser “redirecionado” de outros programas, em detrimento dos recursos destinados a doenças altamente relevantes, tais como a malária, o HIV ou a tuberculose.
Outro aspecto fundamental é o fluxo de comunicação entre a comunidade científica, as autoridades e a população em geral. Essa comunicação é necessária para a gestão adequada da informação que implique em dar suporte às estratégias de prevenção e resposta, assim como evitar as reações de sobressalto exagerado.
A humanidade está sob constante ameaça do surgimento de novos agentes infecciosos. É essencial estabelecer novas parcerias internacionais que favoreçam a combinação de esforços multidisciplinares e de recursos para garantir respostas mais rápidas e mais eficazes contra as doenças emergentes e reemergentes.
Pablo Martínez de Salazar (ISGlobal).
Assinar:
Comentários (Atom)