domingo, 30 de novembro de 2025
Quem lê tanta notícia?
“O Sol na banca de revista,
Isso hoje em dia está sendo feito nas redes sociais. Depois que inventaram o celular e com ele as big- techs, a vida mudou. As pessoas andam com o celular diante dos olhos como se a tela substituísse a realidade. Um pouco elas já fazem isso. A realidade pode ser moldada ao bel prazer do comunicador. A mentira está aí para isso. Levar a população a pensar de um jeito que favoreça aquele pensamento, usando mentiras ou verdades.
Todo mundo tem um celular. O último censo feito mostrava que havia mais celular do que gente no Brasil. Em todo lugar todo mundo está diante de um celular. Na rua caminhando, na bicicleta trabalhando, na academia malhando, todos usam o celular e é sempre muito mais para ver alguma coisa do que para se comunicar. A solidão de outros tempos se foi. Hoje você tem “amigos” virtuais e pode ficar sabendo da vida de todos sem precisar ler um jornal. Claro que isso trouxe uma sensação de democratização da comunicação. Ao mesmo tempo um perigo de que aquelas mentiras que falamos possam se difundir e mudar a realidade como até já vimos acontecer.
Um estudo e uma regulamentação são importantes e fundamentais. Esse acesso ao que todos dizem é importante, mas ao mesmo tempo uma ideia de liberdade de expressão precisa de regras. Primeiro que uns comunicam mais do que outros, tem mais verba e atropelam o processo. Depois é preciso que se diga que qualquer associação precisa de regulamentação. Casamento precisa, futebol precisa, enfim, seguindo as regras, ou os limites, tudo é possível. Sua liberdade vai até onde começa a do seu vizinho, já dizia aquele azulejo velho da casa demolida.
É certo também que o povo fica vendo foto, lendo fofoca, jogando e trocando mensagens na maioria dos casos. Mas também é alvo da informação mal intencionada. Essa precisa ser pensada, não sei como, mas a imagem do povo na frente da banca não me sai da cabeça. Todo mundo podia ler tudo o que era permitido expor ali. A ideia de liberdade de expressão americana, por exemplo, é uma ilusão. É feita para os brancos, ricos e na maioria, protestantes. Os negros, os pobres, os grupos segregados não chegam nem perto. Aí reside o problema. O celular reproduz a sociedade que vivemos e tenta mantê-la viva. Se conseguirmos mudar a sociedade, torná-la mais justa talvez consigamos mudar também os celulares. Quem sabe? Vale a pena tentar. Tenho que parar. Meu celular apitou.
me encha de alegria e preguiça,
quem lê tanta noticia? “
Pois é, assim falava Caetano Veloso em Alegria, alegria. As bancas de revista que hoje viraram mercadinhos exibiam não só revistas como jornais cheios de notícias. E as pessoas se juntavam na frente para ler enquanto esperavam o bonde. Nostalgias à parte, eram outros tempos. É certo também que o povo lia mais as manchetes, muitas vezes escandalosas e exageradas. Quem tinha dinheiro para comprar jornal? O povão comprava quando dava jornais que faziam o sangue escorrer. Mas a banca cheia de gente era festa. Muitas fotos ilustram esse hábito brasileiro que se perdeu. Aliás, as coisas coletivas se perderam e quando o povo se junta, o que é raro, é para manifestar algum desejo muito forte.
Pois é, assim falava Caetano Veloso em Alegria, alegria. As bancas de revista que hoje viraram mercadinhos exibiam não só revistas como jornais cheios de notícias. E as pessoas se juntavam na frente para ler enquanto esperavam o bonde. Nostalgias à parte, eram outros tempos. É certo também que o povo lia mais as manchetes, muitas vezes escandalosas e exageradas. Quem tinha dinheiro para comprar jornal? O povão comprava quando dava jornais que faziam o sangue escorrer. Mas a banca cheia de gente era festa. Muitas fotos ilustram esse hábito brasileiro que se perdeu. Aliás, as coisas coletivas se perderam e quando o povo se junta, o que é raro, é para manifestar algum desejo muito forte.
Isso hoje em dia está sendo feito nas redes sociais. Depois que inventaram o celular e com ele as big- techs, a vida mudou. As pessoas andam com o celular diante dos olhos como se a tela substituísse a realidade. Um pouco elas já fazem isso. A realidade pode ser moldada ao bel prazer do comunicador. A mentira está aí para isso. Levar a população a pensar de um jeito que favoreça aquele pensamento, usando mentiras ou verdades.
Todo mundo tem um celular. O último censo feito mostrava que havia mais celular do que gente no Brasil. Em todo lugar todo mundo está diante de um celular. Na rua caminhando, na bicicleta trabalhando, na academia malhando, todos usam o celular e é sempre muito mais para ver alguma coisa do que para se comunicar. A solidão de outros tempos se foi. Hoje você tem “amigos” virtuais e pode ficar sabendo da vida de todos sem precisar ler um jornal. Claro que isso trouxe uma sensação de democratização da comunicação. Ao mesmo tempo um perigo de que aquelas mentiras que falamos possam se difundir e mudar a realidade como até já vimos acontecer.
Um estudo e uma regulamentação são importantes e fundamentais. Esse acesso ao que todos dizem é importante, mas ao mesmo tempo uma ideia de liberdade de expressão precisa de regras. Primeiro que uns comunicam mais do que outros, tem mais verba e atropelam o processo. Depois é preciso que se diga que qualquer associação precisa de regulamentação. Casamento precisa, futebol precisa, enfim, seguindo as regras, ou os limites, tudo é possível. Sua liberdade vai até onde começa a do seu vizinho, já dizia aquele azulejo velho da casa demolida.
É certo também que o povo fica vendo foto, lendo fofoca, jogando e trocando mensagens na maioria dos casos. Mas também é alvo da informação mal intencionada. Essa precisa ser pensada, não sei como, mas a imagem do povo na frente da banca não me sai da cabeça. Todo mundo podia ler tudo o que era permitido expor ali. A ideia de liberdade de expressão americana, por exemplo, é uma ilusão. É feita para os brancos, ricos e na maioria, protestantes. Os negros, os pobres, os grupos segregados não chegam nem perto. Aí reside o problema. O celular reproduz a sociedade que vivemos e tenta mantê-la viva. Se conseguirmos mudar a sociedade, torná-la mais justa talvez consigamos mudar também os celulares. Quem sabe? Vale a pena tentar. Tenho que parar. Meu celular apitou.
Toda saga vivida por Jair Bolsonaro é um manual de estupidez na vida política
Acompanho a saga de Jair Bolsonaro com fascínio quase filosófico: o que leva um homem a agir, de forma tão consistente, contra seus próprios interesses?
A pergunta surgiu durante o seu governo, continuou com sua reação à pandemia , aprofundou-se com a tentativa de golpe — e encontra agora um desfecho teatral com a prisão preventiva depois de tentar arrancar a tornozeleira eletrônica.
Por "curiosidade", justificou ele.
A vigília convocada pelo filho é apenas mais uma prova de que genética não perdoa.
Alguns dirão que essa tendência antecede a política e já vem dos quartéis —o que talvez autorize a piada "de soldado a soldador" que anda circulando por aí.
Mas o assunto é sério: como explicar a estupidez na política?
O tema raramente recebe a devida atenção. Hannah Arendt, em análise célebre, afirmou que Adolf Eichmann representava a "incapacidade de pensar" que define a "banalidade do mal". Eichmann seria estúpido — e sua estupidez foi instrumentalizada no Holocausto.
Erro evidente: Eichmann pensava, sim. Era um nazista convicto, até "sofisticado" —digamos assim—, como se soube mais tarde pelas gravações de áudio.
Sua maldade não era banal.
Robert Musil, outro autor de língua alemã, tentou ir um pouco mais longe. Há dois tipos de estupidez, disse ele na conferência de 1937. O primeiro é uma limitação intelectual natural, inocente, sem maldade —o "bobo da aldeia", em sua versão literária clássica.
O segundo tipo é mais perigoso: o ato de deformar o pensamento por orgulho, vaidade ou cegueira moral. O sujeito sabe pensar, mas não quer pensar. Essa forma de estupidez não é cognitiva, mas moral. É um vício de caráter.
Não creio que Bolsonaro se encaixe perfeitamente em qualquer uma dessas categorias. A estupidez de suas ações não nasce da inocência; mas a deformação deliberada do pensamento exige um tipo de inteligência que ele também não possui.
O que há ali é aquela rigidez mental que a historiadora Barbara Tuchman dissecou no clássico "A Marcha da Insensatez", do original "The March of Folly". A própria palavra "folly" já sugere essa rigidez, irmã gêmea da loucura.
Nas palavras de Tuchman, a história foi pródiga em momentos de estupidez: eles surgem quando governantes seguem políticas que, longe de beneficiá-los, aceleram sua própria ruína.
Curiosamente, Tuchman concorda com Carlo Cipolla, para quem o sujeito estúpido é aquele que prejudica os outros e a si próprio, sem obter benefício algum.
Mas há critérios para que a estupidez seja propriamente política, avisa Tuchman. Primeiro, a conduta tem de ser reconhecida como estúpida em seu próprio tempo, não apenas retrospectivamente.
Segundo, deve haver uma alternativa viável e mais sensata —a estupidez só é estupidez quando age sem necessidade.
Por fim, o governante estúpido apresenta o que Tuchman chama de "wooden-headedness" —algo como "cabeça oca", que talvez traduzíssemos melhor como "cabeça blindada": o governante estúpido só consegue interpretar a realidade a partir de noções pré-concebidas e fixas, ignorando ou rejeitando qualquer evidência contrária. É como se proclamasse, orgulhoso: "Nenhum fato me vai derrotar!".
Na obra de Tuchman, os exemplos de cabeças blindadas se sucedem: os troianos com o cavalo de madeira; o comportamento de Roma antes da revolta protestante; a obstinação de Jorge 3º ao tentar submeter as colônias britânicas a impostos; e, já no século 20, a aventura suicida dos submarinos alemães contra a Marinha americana ou o ataque japonês a Pearl Harbor — dois atos que, ironicamente, trouxeram os Estados Unidos para guerras que arrasaram seus autores.
Em todos esses casos, havia alertas; havia alternativas; mas os fatos não demoveram as cabeças blindadas.
Guardadas as proporções de escala e importância, a conduta de Bolsonaro é quase um manual de estupidez política.
Na pandemia, teria sido possível mais competência e empatia —mas o homem "não era coveiro".
No golpe, havia sempre a opção de simplesmente não o cogitar —e, quem sabe, aguardar na oposição outra eleição, já que a derrota de 2022 foi por margem mínima. Mas isso implicaria admitir que o PT venceu o pleito, uma heresia para os bolsonaristas.
E, na comédia da tornozeleira, a suposta tentativa de fuga jamais compensaria o risco. Cumprir a pena —ou parte dela— teria trazido mais vantagens que desvantagens; mas aprender com o caso de Lula seria outra heresia.
Que os seguidores de Bolsonaro discordem dessas premissas não surpreende. No fim das contas, eles seguem o "mito" por alguma razão.
A pergunta surgiu durante o seu governo, continuou com sua reação à pandemia , aprofundou-se com a tentativa de golpe — e encontra agora um desfecho teatral com a prisão preventiva depois de tentar arrancar a tornozeleira eletrônica.
Por "curiosidade", justificou ele.
A vigília convocada pelo filho é apenas mais uma prova de que genética não perdoa.
Alguns dirão que essa tendência antecede a política e já vem dos quartéis —o que talvez autorize a piada "de soldado a soldador" que anda circulando por aí.
Mas o assunto é sério: como explicar a estupidez na política?
O tema raramente recebe a devida atenção. Hannah Arendt, em análise célebre, afirmou que Adolf Eichmann representava a "incapacidade de pensar" que define a "banalidade do mal". Eichmann seria estúpido — e sua estupidez foi instrumentalizada no Holocausto.
Erro evidente: Eichmann pensava, sim. Era um nazista convicto, até "sofisticado" —digamos assim—, como se soube mais tarde pelas gravações de áudio.
Sua maldade não era banal.
Robert Musil, outro autor de língua alemã, tentou ir um pouco mais longe. Há dois tipos de estupidez, disse ele na conferência de 1937. O primeiro é uma limitação intelectual natural, inocente, sem maldade —o "bobo da aldeia", em sua versão literária clássica.
O segundo tipo é mais perigoso: o ato de deformar o pensamento por orgulho, vaidade ou cegueira moral. O sujeito sabe pensar, mas não quer pensar. Essa forma de estupidez não é cognitiva, mas moral. É um vício de caráter.
Não creio que Bolsonaro se encaixe perfeitamente em qualquer uma dessas categorias. A estupidez de suas ações não nasce da inocência; mas a deformação deliberada do pensamento exige um tipo de inteligência que ele também não possui.
O que há ali é aquela rigidez mental que a historiadora Barbara Tuchman dissecou no clássico "A Marcha da Insensatez", do original "The March of Folly". A própria palavra "folly" já sugere essa rigidez, irmã gêmea da loucura.
Nas palavras de Tuchman, a história foi pródiga em momentos de estupidez: eles surgem quando governantes seguem políticas que, longe de beneficiá-los, aceleram sua própria ruína.
Curiosamente, Tuchman concorda com Carlo Cipolla, para quem o sujeito estúpido é aquele que prejudica os outros e a si próprio, sem obter benefício algum.
Mas há critérios para que a estupidez seja propriamente política, avisa Tuchman. Primeiro, a conduta tem de ser reconhecida como estúpida em seu próprio tempo, não apenas retrospectivamente.
Segundo, deve haver uma alternativa viável e mais sensata —a estupidez só é estupidez quando age sem necessidade.
Por fim, o governante estúpido apresenta o que Tuchman chama de "wooden-headedness" —algo como "cabeça oca", que talvez traduzíssemos melhor como "cabeça blindada": o governante estúpido só consegue interpretar a realidade a partir de noções pré-concebidas e fixas, ignorando ou rejeitando qualquer evidência contrária. É como se proclamasse, orgulhoso: "Nenhum fato me vai derrotar!".
Na obra de Tuchman, os exemplos de cabeças blindadas se sucedem: os troianos com o cavalo de madeira; o comportamento de Roma antes da revolta protestante; a obstinação de Jorge 3º ao tentar submeter as colônias britânicas a impostos; e, já no século 20, a aventura suicida dos submarinos alemães contra a Marinha americana ou o ataque japonês a Pearl Harbor — dois atos que, ironicamente, trouxeram os Estados Unidos para guerras que arrasaram seus autores.
Em todos esses casos, havia alertas; havia alternativas; mas os fatos não demoveram as cabeças blindadas.
Guardadas as proporções de escala e importância, a conduta de Bolsonaro é quase um manual de estupidez política.
Na pandemia, teria sido possível mais competência e empatia —mas o homem "não era coveiro".
No golpe, havia sempre a opção de simplesmente não o cogitar —e, quem sabe, aguardar na oposição outra eleição, já que a derrota de 2022 foi por margem mínima. Mas isso implicaria admitir que o PT venceu o pleito, uma heresia para os bolsonaristas.
E, na comédia da tornozeleira, a suposta tentativa de fuga jamais compensaria o risco. Cumprir a pena —ou parte dela— teria trazido mais vantagens que desvantagens; mas aprender com o caso de Lula seria outra heresia.
Que os seguidores de Bolsonaro discordem dessas premissas não surpreende. No fim das contas, eles seguem o "mito" por alguma razão.
Aznar, o oráculo
Podemos dormir descansados, o aquecimento global não existe, é um invento malicioso dos ecologistas na linha estratégica da sua “ideologia em deriva totalitária”, consoante a definiu o implacável observador da política planetária e dos fenómenos do universo que é José María Aznar. Não saberíamos como viver sem este homem. Não importa que qualquer dia comecem a nascer flores no Árctico, não importa que os glaciares da Patagónia se reduzam de cada vez que alguém suspira fazendo aumentar a temperatura ambiente uma milionésima de grau, não importa que a Gronelândia tenha perdido uma parte importante do seu território, não importa a seca, não importam as inundações que tudo arrasam e tantas vidas levam consigo, não importa a igualização cada vez mais evidente das estações do ano, nada disto importa se o emérito sábio José María vem negar a existência do aquecimento global, baseando-se nas peregrinas páginas de um livro do presidente checo Vaclav Klaus que o próprio Aznar, em uma bonita atitude de solidariedade científica e institucional, apresentará em breve. Já o estamos a ouvir. No entanto, uma dúvida muito séria nos atormenta e que é altura de expender à consideração do leitor. Onde estará a origem, o manancial, a fonte desta sistemática atitude negacionista? Terá resultado de um ovo dialéctico deposto por Aznar no útero do Partido Popular quando foi seu amo e senhor? Quando Rajoy, com aquela composta seriedade que o caracteriza, nos informou de que um seu primo catedrático, parece que de física, lhe havia dito que isso do aquecimento climático era uma treta, tão ousada afirmação foi apenas o fruto de uma imaginação celta sobreaquecida que não havia sabido compreender o que lhe estava a ser explicado, ou, para tornar ao ovo dialéctico, é isso uma doutrina, uma regra, um princípio exarado em letra pequena na cartilha do Partido Popular, caso em que, se Rajoy teria sido somente o repetidor infeliz da palavra do primo catedrático, já o oráculo em que o seu ex-chefe se transformou não quis perder a oportunidade de marcar uma vez mais a pauta ao gentio ignaro?
Não me resta muito mais espaço, mas talvez ainda caiba nele um breve apelo ao senso comum. Sendo certo que o planeta em que vivemos já passou por seis ou sete eras glaciais, não estaremos nós no limiar de outra dessas eras? Não será que a coincidência entre tal possibilidade e as contínuas acções operadas pelo ser humano contra o meio ambiente se parece muito àqueles casos, tão comuns, em que uma doença esconde outra doença? Pensem nisto, por favor. Na próxima era glacial, ou nesta que já está principiando, o gelo cobrirá Paris. Tranquilizemo-nos, não será para amanhã. Mas temos, pelo menos, um dever para hoje: não ajudemos a era glacial que aí vem. E, recordem, Aznar é um mero episódio. Não se assustem.
José Saramago, "O caderno"
José Saramago, "O caderno"
A Filosofia não está à venda no mercado de algoritmos
Hoje, 20 de novembro de 2025 — Dia Mundial da Filosofia —, o mundo corre mais depressa do que a pergunta. Enquanto os servidores ardem em previsões e os ecrãs nos vendem respostas prontas a consumo instantâneo, ainda há quem se atreva a perguntar: O que é isto de ser? Por que sofremos? O que nos torna humanos?
Essas perguntas, antigas como o fogo e tão incómodas quanto a verdade, não cabem em prompts. Não se comprimem em linhas de código. E é por isso que a filosofia, mesmo em tempos de Inteligência Artificial, não morre — antes persiste, como um suspiro silencioso no meio do ruído.
Pensemos: a IA aprende padrões, reproduz estilos, sintetiza dados, mas ignora a angústia ética de Espinosa, a ironia trágica de Sócrates, a esperança utópica de Bloch. Ela pode imitar uma reflexão, mas não sentir a dúvida que a torna viva. Porque filosofar não é apenas raciocinar — é existir com inquietação. É recusar que a vida se reduza a um menu de opções predeterminadas.
Por isso, neste dia, façamos um gesto de resistência silenciosa: apaguemos momentaneamente o mundo digital e abramos um livro de Montaigne, de Arendt, de Alain — ou simplesmente sentemo-nos, como Diógenes ao sol, a contemplar o absurdo da pressa coletiva.
A filosofia não tem utilidade prática. Mas tem tudo a ver com o que nos mantém vivos: o desejo de compreender, de escolher, de duvidar — e, acima de tudo, de não nos deixarmos programar sem consciência.
E talvez aí, só aí, resida a sua vitória contra o artificialismo: porque, por mais que a inteligência se torne artificial, o espanto — esse — será sempre humano.
Mas será que ainda perguntamos? Ou já nos habituámos a delegar o pensamento? Vemos jovens que dominam interfaces, mas não dominam os seus impulsos; adultos que acumulam seguidores, mas não sabem dialogar com a própria consciência. Em nome da eficiência, sacrificámos o tempo da maturação ética. Em nome da neutralidade técnica, esquecemos que toda a tecnologia carrega escolhas morais — e que, muitas vezes, as mais perigosas são aquelas tomadas por quem se julga isento de responsabilidade.
A filosofia, nesse contexto, não é um luxo erudito, mas uma vacina contra a banalidade do mal, aquela que Hannah Arendt tão bem descreveu: o mal que surge quando os homens deixam de pensar. Se aceitamos que algoritmos decidam quem merece crédito, quem é suspeito, quem é “relevante” nas redes, sem questionar os critérios por trás dessas decisões, estamos a entregar o nosso futuro a lógicas opacas — e, pior, indiscutíveis. A filosofia ensina a duvidar, a desmontar discursos, a exigir transparência. É, por isso, uma prática de liberdade.
E se queremos que as crianças de hoje se tornem adultos capazes de discernir entre o justo e o conveniente, entre o sensato e o viral, então a filosofia não pode ser um acessório do ensino secundário — deve estar desde o 1.º ciclo, não como disciplina rígida, mas como atitude: como arte de escutar, de argumentar, de imaginar mundos melhores. Uma criança que aprende a formular “porquês” com profundidade, que discute o que é justo numa fila para o lanche, que reflete sobre o que é ser amigo, está a treinar a sua humanidade. E essa é a única competência que nenhuma IA conseguirá usurpar.
Paulo Freire lembrava-nos que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. A filosofia, entendida como diálogo crítico com o mundo, é o coração dessa educação libertadora. E não há liberdade sem pensamento próprio, nem pensamento próprio sem tempo, silêncio e coragem — valores que hoje parecem em risco de extinção.
Por isso, neste Dia Mundial da Filosofia, não celebremos apenas os grandes pensadores do passado, mas defendamos o direito de todas as crianças — e de todos os cidadãos — a pensar, a duvidar, a errar e a recomeçar com lucidez. Porque um país que descura a filosofia nas escolas não está apenas a poupar papel ou horários — está a entregar o seu futuro a quem já decidiu por nós. E isso, filosoficamente, é inaceitável.
Essas perguntas, antigas como o fogo e tão incómodas quanto a verdade, não cabem em prompts. Não se comprimem em linhas de código. E é por isso que a filosofia, mesmo em tempos de Inteligência Artificial, não morre — antes persiste, como um suspiro silencioso no meio do ruído.
Pensemos: a IA aprende padrões, reproduz estilos, sintetiza dados, mas ignora a angústia ética de Espinosa, a ironia trágica de Sócrates, a esperança utópica de Bloch. Ela pode imitar uma reflexão, mas não sentir a dúvida que a torna viva. Porque filosofar não é apenas raciocinar — é existir com inquietação. É recusar que a vida se reduza a um menu de opções predeterminadas.
Por isso, neste dia, façamos um gesto de resistência silenciosa: apaguemos momentaneamente o mundo digital e abramos um livro de Montaigne, de Arendt, de Alain — ou simplesmente sentemo-nos, como Diógenes ao sol, a contemplar o absurdo da pressa coletiva.
A filosofia não tem utilidade prática. Mas tem tudo a ver com o que nos mantém vivos: o desejo de compreender, de escolher, de duvidar — e, acima de tudo, de não nos deixarmos programar sem consciência.
E talvez aí, só aí, resida a sua vitória contra o artificialismo: porque, por mais que a inteligência se torne artificial, o espanto — esse — será sempre humano.
Mas será que ainda perguntamos? Ou já nos habituámos a delegar o pensamento? Vemos jovens que dominam interfaces, mas não dominam os seus impulsos; adultos que acumulam seguidores, mas não sabem dialogar com a própria consciência. Em nome da eficiência, sacrificámos o tempo da maturação ética. Em nome da neutralidade técnica, esquecemos que toda a tecnologia carrega escolhas morais — e que, muitas vezes, as mais perigosas são aquelas tomadas por quem se julga isento de responsabilidade.
A filosofia, nesse contexto, não é um luxo erudito, mas uma vacina contra a banalidade do mal, aquela que Hannah Arendt tão bem descreveu: o mal que surge quando os homens deixam de pensar. Se aceitamos que algoritmos decidam quem merece crédito, quem é suspeito, quem é “relevante” nas redes, sem questionar os critérios por trás dessas decisões, estamos a entregar o nosso futuro a lógicas opacas — e, pior, indiscutíveis. A filosofia ensina a duvidar, a desmontar discursos, a exigir transparência. É, por isso, uma prática de liberdade.
E se queremos que as crianças de hoje se tornem adultos capazes de discernir entre o justo e o conveniente, entre o sensato e o viral, então a filosofia não pode ser um acessório do ensino secundário — deve estar desde o 1.º ciclo, não como disciplina rígida, mas como atitude: como arte de escutar, de argumentar, de imaginar mundos melhores. Uma criança que aprende a formular “porquês” com profundidade, que discute o que é justo numa fila para o lanche, que reflete sobre o que é ser amigo, está a treinar a sua humanidade. E essa é a única competência que nenhuma IA conseguirá usurpar.
Paulo Freire lembrava-nos que ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho, os homens educam-se entre si, mediatizados pelo mundo. A filosofia, entendida como diálogo crítico com o mundo, é o coração dessa educação libertadora. E não há liberdade sem pensamento próprio, nem pensamento próprio sem tempo, silêncio e coragem — valores que hoje parecem em risco de extinção.
Por isso, neste Dia Mundial da Filosofia, não celebremos apenas os grandes pensadores do passado, mas defendamos o direito de todas as crianças — e de todos os cidadãos — a pensar, a duvidar, a errar e a recomeçar com lucidez. Porque um país que descura a filosofia nas escolas não está apenas a poupar papel ou horários — está a entregar o seu futuro a quem já decidiu por nós. E isso, filosoficamente, é inaceitável.
Homens ocos indiferentes ao horror
Três meses atrás, no Festival de Veneza, a estreia mundial do filme “A voz de Hind Rajab” recebeu ovação histórica de 23 minutos. A diretora tunisiana desse longa híbrido acredita que ele consiga ser um dos favoritos ao Oscar de Melhor Filme Internacional em março de 2026. Ele reconstitui as últimas horas de vida da menina palestina Hind, de 6 anos, passadas dentro de um automóvel que acabara de ser perfurado por 335 disparos. O tio, a tia e três primos espremidos nos dois bancos do carro familiar foram morrendo a seu lado. E a menina, agora sozinha, aciona o número de emergência do Crescente Vermelho que toda criança ou adulto de Gaza sabe de cor. A voz infantil tem urgência adulta e é indelével:
— Estou com medo, por favor, venham.
O fato ocorreu em 29 de janeiro de 2024. Como se sabe hoje, ninguém veio —ou melhor, os dois socorristas que tentaram chegar até Hind de ambulância foram igualmente metralhados pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). O conjunto de corpos em carcaças retorcidas ali ficou por 12 dias até ser recolhido.
Semanas atrás um novo documentário produzido pela Fundação Hind Rajab, em parceria com a Al Jazeera, trouxe revelações adicionais ao caso. Intitulado “Ma Khafiya Aatham” (A ponta do iceberg), ele desmonta a tentativa inicial de Israel de sustentar que não havia qualquer unidade militar das FDI nas redondezas do ocorrido. Uma investigação baseada em imagens de satélite e áudios daquele dia, empreendida pelo grupo de pesquisa multidisciplinar Forensic Architecture, da Universidade de Londres, identificou a presença de vários tanques Merkava na vizinhança do carro da família Rajab. Também transcorreram preciosas horas até o Crescente Vermelho receber autorização para deslocar seus dois socorristas à zona de confronto, e é nesse ínterim de horror que a voz da menina vai minguando.
A pergunta moral deixa de ser “quem era o morto?” e passa a ser “quem somos nós que aceitamos isso?”.
Como fim de ano também é ocasião para balanços de vida e listas de melhores ou piores, convidam-se interessados a (re)ler “Os homens ocos”, de T.S. Eliot, publicado exatamente cem anos atrás. Poema modernista que lida com o vazio espiritual e o desalento do Pós-Guerra de 1914-18, “Os homens ocos” de Eliot simbolizam uma sociedade paralisada pela inação, desprovida de espiritualidade e em declínio moral. Esses homens ocos mais se assemelham a espantalhos preenchidos com palha para aparentar humanidade. São vazios, falam aos sussurros, sem dialogar, e vivem numa paisagem árida, estéril, com medo da escuridão. São célebres os últimos versos da obra: This is the way the world ends /Not with a bang but a whimper (dependendo do tradutor, Assim acaba o mundo/não com um estrondo, mas com um gemido).
Melhor sair logo da escuridão e da indignação fácil. E encarar quem somos nós, que aceitamos o que vemos.
Dorrit Harazim
— Estou com medo, por favor, venham.
O fato ocorreu em 29 de janeiro de 2024. Como se sabe hoje, ninguém veio —ou melhor, os dois socorristas que tentaram chegar até Hind de ambulância foram igualmente metralhados pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). O conjunto de corpos em carcaças retorcidas ali ficou por 12 dias até ser recolhido.
Semanas atrás um novo documentário produzido pela Fundação Hind Rajab, em parceria com a Al Jazeera, trouxe revelações adicionais ao caso. Intitulado “Ma Khafiya Aatham” (A ponta do iceberg), ele desmonta a tentativa inicial de Israel de sustentar que não havia qualquer unidade militar das FDI nas redondezas do ocorrido. Uma investigação baseada em imagens de satélite e áudios daquele dia, empreendida pelo grupo de pesquisa multidisciplinar Forensic Architecture, da Universidade de Londres, identificou a presença de vários tanques Merkava na vizinhança do carro da família Rajab. Também transcorreram preciosas horas até o Crescente Vermelho receber autorização para deslocar seus dois socorristas à zona de confronto, e é nesse ínterim de horror que a voz da menina vai minguando.
Quando, finalmente, a ambulância se aproxima do carro esturricado, é ela que se torna alvo das FDI. O documentário identifica a brigada, o batalhão e os comandantes suspeitos de responsabilidade no caso. E forneceu ao Tribunal Penal Internacional de Haia os nomes, sobrenomes e patentes de 20 militares israelenses que associa ao crime.
Por que falar disso agora, com o dezembro festivo arrombando nossas portas? Porque toda hora é hora. A indignação sendo um estado emocional transitório, é quase impossível de sustentar ao longo dos anos. Desgasta em demasia, tanto física quanto emocionalmente, por isso acaba morrendo — mais cômodo nos acostumarmos ao que vemos. Cabe aqui pedaço de uma crônica escrita por Clarice Lispector para a findada revista Senhor em junho de 1962, sobre a morte do bandidão carioca Mineirinho, pela polícia carioca, com 13 tiros:
Por que falar disso agora, com o dezembro festivo arrombando nossas portas? Porque toda hora é hora. A indignação sendo um estado emocional transitório, é quase impossível de sustentar ao longo dos anos. Desgasta em demasia, tanto física quanto emocionalmente, por isso acaba morrendo — mais cômodo nos acostumarmos ao que vemos. Cabe aqui pedaço de uma crônica escrita por Clarice Lispector para a findada revista Senhor em junho de 1962, sobre a morte do bandidão carioca Mineirinho, pela polícia carioca, com 13 tiros:
Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossego, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror, no nono e no décimo minha boca está trêmula, no décimo primeiro digo em espanto o nome de Deus, no décimo segundo chamo meu irmão. O décimo terceiro me assassina, porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro.
A pergunta moral deixa de ser “quem era o morto?” e passa a ser “quem somos nós que aceitamos isso?”.
Como fim de ano também é ocasião para balanços de vida e listas de melhores ou piores, convidam-se interessados a (re)ler “Os homens ocos”, de T.S. Eliot, publicado exatamente cem anos atrás. Poema modernista que lida com o vazio espiritual e o desalento do Pós-Guerra de 1914-18, “Os homens ocos” de Eliot simbolizam uma sociedade paralisada pela inação, desprovida de espiritualidade e em declínio moral. Esses homens ocos mais se assemelham a espantalhos preenchidos com palha para aparentar humanidade. São vazios, falam aos sussurros, sem dialogar, e vivem numa paisagem árida, estéril, com medo da escuridão. São célebres os últimos versos da obra: This is the way the world ends /Not with a bang but a whimper (dependendo do tradutor, Assim acaba o mundo/não com um estrondo, mas com um gemido).
Melhor sair logo da escuridão e da indignação fácil. E encarar quem somos nós, que aceitamos o que vemos.
Dorrit Harazim
Direita precisa se perguntar: Valeu a pena perder tempo com o bolsonarismo?
Agora que Jair está em cana, opa, calma aí, não consigo abandonar esse começo de frase ainda não, me deixe saborear, agora que o Jair está em cana, rapaz, que gostinho de justiça e bolo da vovó que sinto após dizer isso em voz alta.
Vou ter que dizer de novo, agora que o Jair está em cana, olha só, se o golpe tivesse dado certo, eu teria sido assassinado no pau-de-arara.
Se está achando ruim, vá ler outra coluna, quero mais é dizer de novo, agora que Jair está em cana por ter tentando roubar o voto dos pobres e usar as armas da República para matar seus adversários.
Desculpa, foram anos ouvindo gente dizer sem rir que o charlatão do Guedes era competente, mas OK, parei, agora que o Jair está em cana por ter tentado roubar o voto dos pobres e usar as armas da República para matar seus adversários, Vacina! Vacina!
Vagabundo não conseguiu fazer o mínimo e comprar vacina!, enfim, agora que Jair está em cana por ter tentado roubar o voto dos pobres e usar as armas da República para matar seus adversários, a direita brasileira precisa se perguntar: valeu a pena perder tempo com o bolsonarismo?
Graças a Bolsonaro todo o trabalho de décadas que PSDB e PFL fizeram para livrar a direita da associação com a ditadura militar morreu.
Vocês não são mais só o movimento que deu um golpe décadas atrás. Vocês são o movimento que tentou um golpe outro dia desses e, já que estavam no embalo, ainda convocaram uma superpotência estrangeira para taxar os produtos brasileiros.
Graças a Bolsonaro a reputação de uma direita competente tecnicamente estabelecida pelos economistas tucanos morreu.
Vocês são o movimento que cometeu o ato de incompetência administrativa mais dramático da história republicana: o assassinato em massa de brasileiros por falta de vacinas na segunda onda da epidemia de Covid.
Eu ouço Tarcísio dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO e penso, ô bonitão Ciêôu, vocês não compraram vacina. E mais: destruíram a reputação do Doria, que comprou vacina.
A ideia de que a direita era menos corrupta do que a esquerda sempre foi uma cascata muito sem-vergonha, mas, enfim, vocês conseguiram emplacá-la por alguns anos.
Pois bem: o bolsonarismo matou as investigações sobre corrupção, transformou Moro e Dallagnol em políticos do centrão particularmente desprezíveis e implementou o orçamento secreto, origem de boa parte das denúncias de corrupção dos últimos anos.
Leiam as últimas notícias sobre roubalheira: tem uns esquerdistas ali, mas é quase todo mundo de vocês.
O bolsonarismo atrapalhou um processo orgânico de crescimento de uma direita com enraizamento social, que prosperou durante as primeiras presidências petistas e teve como principal base as igrejas evangélicas.
Afinal é na oposição que se constrói movimento social, partido com ideologia, debates intelectuais, tudo isso. Com a esquerda também foi assim.
Com Jair, a direita brasileira voltou ao seu velho repertório de fazer política pegando um pedaço do Estado –os militares, no caso– para fazer mutreta.
Vocês apoiaram isso tudo em 2018 para impedir a eleição de Fernando Haddad, cujo maior ato de radicalismo até hoje foi obrigar os ricos a pagarem a mesma alíquota de Imposto de Renda das professoras primárias e dos policiais militares.
Valeu a pena?
Vou ter que dizer de novo, agora que o Jair está em cana, olha só, se o golpe tivesse dado certo, eu teria sido assassinado no pau-de-arara.
Se está achando ruim, vá ler outra coluna, quero mais é dizer de novo, agora que Jair está em cana por ter tentando roubar o voto dos pobres e usar as armas da República para matar seus adversários.
Desculpa, foram anos ouvindo gente dizer sem rir que o charlatão do Guedes era competente, mas OK, parei, agora que o Jair está em cana por ter tentado roubar o voto dos pobres e usar as armas da República para matar seus adversários, Vacina! Vacina!
Vagabundo não conseguiu fazer o mínimo e comprar vacina!, enfim, agora que Jair está em cana por ter tentado roubar o voto dos pobres e usar as armas da República para matar seus adversários, a direita brasileira precisa se perguntar: valeu a pena perder tempo com o bolsonarismo?
Graças a Bolsonaro todo o trabalho de décadas que PSDB e PFL fizeram para livrar a direita da associação com a ditadura militar morreu.
Vocês não são mais só o movimento que deu um golpe décadas atrás. Vocês são o movimento que tentou um golpe outro dia desses e, já que estavam no embalo, ainda convocaram uma superpotência estrangeira para taxar os produtos brasileiros.
Graças a Bolsonaro a reputação de uma direita competente tecnicamente estabelecida pelos economistas tucanos morreu.
Vocês são o movimento que cometeu o ato de incompetência administrativa mais dramático da história republicana: o assassinato em massa de brasileiros por falta de vacinas na segunda onda da epidemia de Covid.
Eu ouço Tarcísio dizendo que o Brasil precisa de um novo CEO e penso, ô bonitão Ciêôu, vocês não compraram vacina. E mais: destruíram a reputação do Doria, que comprou vacina.
A ideia de que a direita era menos corrupta do que a esquerda sempre foi uma cascata muito sem-vergonha, mas, enfim, vocês conseguiram emplacá-la por alguns anos.
Pois bem: o bolsonarismo matou as investigações sobre corrupção, transformou Moro e Dallagnol em políticos do centrão particularmente desprezíveis e implementou o orçamento secreto, origem de boa parte das denúncias de corrupção dos últimos anos.
Leiam as últimas notícias sobre roubalheira: tem uns esquerdistas ali, mas é quase todo mundo de vocês.
O bolsonarismo atrapalhou um processo orgânico de crescimento de uma direita com enraizamento social, que prosperou durante as primeiras presidências petistas e teve como principal base as igrejas evangélicas.
Afinal é na oposição que se constrói movimento social, partido com ideologia, debates intelectuais, tudo isso. Com a esquerda também foi assim.
Com Jair, a direita brasileira voltou ao seu velho repertório de fazer política pegando um pedaço do Estado –os militares, no caso– para fazer mutreta.
Vocês apoiaram isso tudo em 2018 para impedir a eleição de Fernando Haddad, cujo maior ato de radicalismo até hoje foi obrigar os ricos a pagarem a mesma alíquota de Imposto de Renda das professoras primárias e dos policiais militares.
Valeu a pena?
sexta-feira, 28 de novembro de 2025
Caça-palavras na cadeia não deve reduzir pena de Bolsonaro
Jair Renan deixou Balneário Camboriú para visitar o pai na cadeia em Brasília. “Tentei levantar o ânimo do meu velho”, declarou, ao sair da Polícia Federal. O Zero Quatro disse ter levado “alguns livros” para o capitão. A frase despertou a curiosidade dos repórteres, que quiseram saber os títulos escolhidos. “Trouxe um caça-palavras para ele”, informou o vereador.
O chefe do clã nunca foi conhecido pelo hábito da leitura. Apesar disso, sempre teve opiniões fortes sobre a cena editorial. No Planalto, tentou interferir no formato dos livros didáticos. “Os livros hoje em dia, como regra, é (sic) um montão, um amontoado de muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo”, ordenou, em janeiro de 2020.
Jair Bolsonaro acrescentou que os livros distribuídos nas escolas públicas passariam a estampar a letra do Hino Nacional e a bandeira do Brasil. Para sorte dos estudantes brasileiros, a patriotada foi esquecida. Ainda assim, o capitão fez um estrago e tanto no setor.
No último ano de mandato, enquanto raspava o caixa para tentar se reeleger, o ex-presidente bloqueou quase R$ 800 milhões do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. A medida atrasou a compra de 70 milhões de livros para alunos e professores do ensino fundamental.
O obscurantismo marcou a relação do governo Bolsonaro com a cultura em geral e a literatura em particular. Por birra ideológica, o capitão se recusou a assinar os papéis necessários para a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque. “Conforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio”, devolveu o autor de “Estorvo”, ao receber o galardão com quatro anos de atraso.
O desprezo pelos livros não é só produto da estupidez do Cavalão. O anti-intelectualismo sempre foi uma arma eleitoral valiosa para a extrema direita. Ajuda a estigmatizar escritores, professores e artistas que teimam em criticar governantes autoritários.
Apesar da aversão às letras, Bolsonaro ainda pode contar com elas para sair mais cedo da cadeia. A lei brasileira garante a remição de pena para os detentos que leem. O problema, para o ex-presidente, é que as normas do Conselho Nacional de Justiça exigem a leitura de “obras literárias” e a entrega de resenhas de próprio punho. Não há previsão de benefício para quem escolhe passar o tempo fazendo cruzadinha no xadrez.
O chefe do clã nunca foi conhecido pelo hábito da leitura. Apesar disso, sempre teve opiniões fortes sobre a cena editorial. No Planalto, tentou interferir no formato dos livros didáticos. “Os livros hoje em dia, como regra, é (sic) um montão, um amontoado de muita coisa escrita. Tem que suavizar aquilo”, ordenou, em janeiro de 2020.
Jair Bolsonaro acrescentou que os livros distribuídos nas escolas públicas passariam a estampar a letra do Hino Nacional e a bandeira do Brasil. Para sorte dos estudantes brasileiros, a patriotada foi esquecida. Ainda assim, o capitão fez um estrago e tanto no setor.
No último ano de mandato, enquanto raspava o caixa para tentar se reeleger, o ex-presidente bloqueou quase R$ 800 milhões do Programa Nacional do Livro e do Material Didático. A medida atrasou a compra de 70 milhões de livros para alunos e professores do ensino fundamental.
O obscurantismo marcou a relação do governo Bolsonaro com a cultura em geral e a literatura em particular. Por birra ideológica, o capitão se recusou a assinar os papéis necessários para a entrega do Prêmio Camões a Chico Buarque. “Conforta-me lembrar que o ex-presidente teve a rara fineza de não sujar o diploma do meu prêmio”, devolveu o autor de “Estorvo”, ao receber o galardão com quatro anos de atraso.
O desprezo pelos livros não é só produto da estupidez do Cavalão. O anti-intelectualismo sempre foi uma arma eleitoral valiosa para a extrema direita. Ajuda a estigmatizar escritores, professores e artistas que teimam em criticar governantes autoritários.
Apesar da aversão às letras, Bolsonaro ainda pode contar com elas para sair mais cedo da cadeia. A lei brasileira garante a remição de pena para os detentos que leem. O problema, para o ex-presidente, é que as normas do Conselho Nacional de Justiça exigem a leitura de “obras literárias” e a entrega de resenhas de próprio punho. Não há previsão de benefício para quem escolhe passar o tempo fazendo cruzadinha no xadrez.
Todo mundo mente?
Certos poderes dedicam-se a substituir verdades visíveis por mentiras flagrantes, a fim de alimentar a retórica populista.
Leonardo Padura
A cruz, a cerca e o fuzil
Durante décadas, a análise política brasileira acostumou-se a separar os grupos de pressão em Brasília. Falava-se da bancada ruralista que defendia os interesses do agronegócio, da bancada evangélica que defendia uma moral religiosa e da bancada da bala que pleiteava o endurecimento penal. Eram vizinhos de corredor no Congresso, trocando favores ocasionais. Contudo, quem observa o Brasil contemporâneo com as lentes do passado corre o risco de não enxergar o monstro que se formou na sala. Aquelas fronteiras desapareceram e o que se assiste hoje não é mais uma coligação de interesses, mas a fusão de identidades em um projeto de poder totalizante: a Teocracia Agropastoril Miliciana.
Este conceito, embora soe distópico, é a descrição mais precisa para um fenômeno onde o fundamentalismo religioso fornece o “software” ideológico, o agronegócio predatório provê o “hardware” financeiro e territorial, e o ambiente miliciano (que contaminou parte das polícias, tanto estaduais quanto federais) oferece o braço armado. O objetivo? A refundação do Estado brasileiro, não mais como uma república laica e democrática, mas como um domínio sagrado, vigiado e armado, onde a dissidência e o protesto são tratados não como oposição política ou luta por direitos, mas como adversários em uma “guerra espiritual”.
A gênese desse fenômeno remonta à consolidação da chamada “Bancada BBB” (Boi, Bala e Bíblia). O termo, cunhado ironicamente pela deputada Erika Kokay em 2015, descrevia uma articulação conservadora que começava a mostrar suas garras em pautas como a redução da maioridade penal e o Estatuto da Família. No entanto, a ironia do apelido envelheceu mal e o que era uma aliança tática eventual tornou-se muito mais orgânica.
Parlamentares como o Capitão Augusto (PR-SP) já rejeitam a nomenclatura fragmentada. Para eles, não há distinção entre o policial que atira, o pastor que prega e o fazendeiro que desmata; eles se autodenominam a “Bancada da Vida” ou do “Bem”. Essa mudança semântica parece simples, mas na verdade é crucial já que na política democrática, adversários debatem ideias, enquanto na teocracia miliciana, o “Bem” combate o “Mal”. E contra o mal absoluto, qualquer violência é permitida, qualquer lei humana é secundária e qualquer supressão de direitos é, na verdade, um ato de saneamento moral.
A tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 foi o cartão de visitas explícito dessa nova ordem, ali, a fusão se materializou: a “massa crítica” para a abolição do Estado de Direito foi financiada por empresários do agronegócio, inflamada por uma retórica religiosa de fim dos tempos e facilitada por uma omissão cúmplice das forças de segurança. Mas para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, precisamos dissecar a anatomia dessa quimera, começando por sua alma.
Este conceito, embora soe distópico, é a descrição mais precisa para um fenômeno onde o fundamentalismo religioso fornece o “software” ideológico, o agronegócio predatório provê o “hardware” financeiro e territorial, e o ambiente miliciano (que contaminou parte das polícias, tanto estaduais quanto federais) oferece o braço armado. O objetivo? A refundação do Estado brasileiro, não mais como uma república laica e democrática, mas como um domínio sagrado, vigiado e armado, onde a dissidência e o protesto são tratados não como oposição política ou luta por direitos, mas como adversários em uma “guerra espiritual”.
A gênese desse fenômeno remonta à consolidação da chamada “Bancada BBB” (Boi, Bala e Bíblia). O termo, cunhado ironicamente pela deputada Erika Kokay em 2015, descrevia uma articulação conservadora que começava a mostrar suas garras em pautas como a redução da maioridade penal e o Estatuto da Família. No entanto, a ironia do apelido envelheceu mal e o que era uma aliança tática eventual tornou-se muito mais orgânica.
Parlamentares como o Capitão Augusto (PR-SP) já rejeitam a nomenclatura fragmentada. Para eles, não há distinção entre o policial que atira, o pastor que prega e o fazendeiro que desmata; eles se autodenominam a “Bancada da Vida” ou do “Bem”. Essa mudança semântica parece simples, mas na verdade é crucial já que na política democrática, adversários debatem ideias, enquanto na teocracia miliciana, o “Bem” combate o “Mal”. E contra o mal absoluto, qualquer violência é permitida, qualquer lei humana é secundária e qualquer supressão de direitos é, na verdade, um ato de saneamento moral.
A tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 foi o cartão de visitas explícito dessa nova ordem, ali, a fusão se materializou: a “massa crítica” para a abolição do Estado de Direito foi financiada por empresários do agronegócio, inflamada por uma retórica religiosa de fim dos tempos e facilitada por uma omissão cúmplice das forças de segurança. Mas para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, precisamos dissecar a anatomia dessa quimera, começando por sua alma.
Esqueça a velha Teologia da Prosperidade, focada apenas em fazer o indivíduo enriquecer através do dízimo, a força motriz da Teocracia Agropastoril Miliciana é a Teologia do Domínio. Importada do reconstrucionismo cristão norte-americano e adaptada ao neopentecostalismo brasileiro, essa doutrina postula que os cristãos têm um mandato divino para “ocupar” e governar as estruturas da sociedade antes que Cristo possa voltar.
A estratégia, conhecida como o “Mandato dos Sete Montes”, orienta os fiéis a tomarem o controle de sete áreas-chave: religião, família, educação, governo, mídia, artes e negócios. Sob essa ótica, um pastor eleito deputado não está lá apenas para representar seus fiéis, mas para submeter as leis dos homens à “Lei de Deus”. A laicidade do Estado é vista como um erro histórico a ser corrigido, uma brecha por onde o “inimigo” (a esquerda, os movimentos sociais, as religiões de matriz africana) entrou.
Essa visão de mundo cria o que pesquisadores chamam de Cristofascismo: um regime onde o autoritarismo político é sacralizado. A política deixa de ser o espaço da negociação para se tornar o palco da “Guerra Espiritual”. Opositores não são concidadãos com opiniões divergentes; são “filisteus”, “amalequitas” ou agentes demoníacos que precisam ser neutralizados para que a nação prospere.
É essa teologia que permite a um líder religioso subir à tribuna do Congresso e defender, com a Bíblia na mão, a retirada de direitos de minorias ou a posse de fuzis, argumentando que está cumprindo a vontade divina contra as forças do caos. A intolerância deixa de ser um preconceito pessoal e vira um projeto de santificação do território nacional.
Se a teologia fornece a justificativa moral, o agronegócio fornece o combustível material, mas não estamos falando do pequeno produtor rural. Falamos de um modelo de agronegócio financeirizado, tecnológico e expansionista que também passou por uma “conversão” teológica. O antigo slogan publicitário “Agro é Pop” foi subliminarmente substituído por “Agro é Santo”.
Em grandes feiras agrícolas no Centro-Oeste, a liturgia mudou e não é raro ver pastores abençoando colheitadeiras gigantescas e drones de última geração em cerimônias de ação de graças, onde a tecnologia de ponta é ungida como instrumento da providência divina para “alimentar o mundo”. A prosperidade da safra é vista como sinal da bênção de Deus; logo, qualquer entrave a essa produção, seja a demarcação de terras indígenas, a fiscalização ambiental ou leis trabalhistas, é uma afronta ao plano divino.
Essa sacralização do lucro cria uma blindagem ética perfeita para a predação. O desmatamento e a invasão de territórios tradicionais são ressignificados como a “sujeição da terra” ordenada no Gênesis. E para garantir essa expansão, o capital agrário não hesita em financiar a política radical. Investigações sobre os atos antidemocráticos revelaram que pelo menos 142 empresários do setor, concentrados em estados como Mato Grosso e Pará, financiaram a logística do caos em Brasília.
No campo, essa aliança se traduz nas Agromilícias. Grupos armados, muitas vezes compostos por ex-policiais ou agentes de segurança privada, atuam como exércitos particulares para “limpar” áreas de interesse, atacando indígenas e sem-terra. A violência no campo bate recordes, alimentada pela certeza da impunidade garantida por seus representantes no Congresso e pela bênção de seus líderes espirituais. Em alguns casos, “missões evangélicas” funcionam como ponta de lança, entrando em territórios indígenas para desestruturar a cultura local sob o pretexto de evangelização, abrindo caminho para a exploração econômica subsequente.
O terceiro e mais perigoso vértice desse triângulo é a captura ideológica das forças de segurança. A tese da Teocracia Agropastoril Miliciana alerta para um fato alarmante: a polícia brasileira está sendo catequizada para servir a Deus acima da Constituição.
O principal vetor desse movimento é o programa UFP (Universal nas Forças Policiais), da Igreja Universal do Reino de Deus. Sob o pretexto de oferecer assistência espiritual e palestras sobre ética e depressão, a igreja penetrou em batalhões e delegacias de todo o país. Em estados como São Paulo, a UFP chegou a ter acesso irrestrito a todas as guarnições, distribuindo livros de seus líderes e criando uma relação de dependência emocional com a tropa.
O perigo reside na dupla lealdade. Um policial que vê sua autoridade como uma concessão divina e seu pastor como um comandante espiritual tende a obedecer a diretrizes religiosas em detrimento da lei civil. Denúncias no Ministério Público apontam para a coação de policiais a frequentar cultos e a perigosa mistura de símbolos estatais com a logomarca da igreja.
Enquanto a polícia se “igrejifica”, a igreja se militariza. Projetos como os Gladiadores do Altar introduziram uma estética fascista no culto: jovens uniformizados, marchando em formação rígida, batendo continência e gritando palavras de ordem no altar. Embora a igreja alegue ser uma metáfora para a “batalha espiritual”, a semiótica é inequivocamente bélica. Prepara-se o imaginário do fiel para o confronto.
A consequência prática é a normalização do policial fardado no púlpito e do discurso de extermínio como caridade cristã. A “Bancada da Bala” trabalha no Congresso para legalizar o ativismo político de policiais, enquanto símbolos como a bandeira de Israel começam a ser usados não como homenagem diplomática, mas como insígnia de uma nação imaginária, guerreira e teocrática, que eles acreditam defender nas favelas brasileiras.
Se a teoria parece abstrata, a realidade do Rio de Janeiro oferece um vislumbre aterrorizante do futuro que este modelo propõe. No conjunto de favelas da Zona Norte conhecido como Complexo de Israel, liderado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, a teocracia miliciana já é realidade.
Ali, o crime organizado adotou o fundamentalismo como método de governo. Estrelas de Davi de néon brilham no topo dos morros, visíveis a quilômetros. A intolerância religiosa é a lei: terreiros de Candomblé e Umbanda são depredados, incendiados e seus sacerdotes expulsos sob a mira de fuzis. É o fenômeno do Narco-Pentecostalismo , onde o traficante se vê como um “ungido”, citando salmos enquanto executa rivais.
Embora o termo seja controverso e debatido por acadêmicos que temem a estigmatização dos evangélicos de periferia, a prática de domínio territorial baseada na supressão da diversidade religiosa e na aliança com setores corruptos da polícia (a faceta miliciana) é inegável. O Complexo de Israel é o microcosmo da Teocracia Agropastoril Miliciana: um território onde o Estado laico morreu, substituído por um regime de terror santificado, onde a Bíblia serve de escudo para o fuzil e o lucro do crime.
Enquanto o terror se espalha nas pontas (no campo com as agromilícias e na favela com o narco-pentecostalismo), o centro de comando opera em carpetes azuis, sob o ar-condicionado de Brasília. A atuação da “Bancada da Vida” no Congresso Nacional demonstra uma coordenação impressionante.
Os dados mostram que os interesses se cruzam perfeitamente. A indústria de armas até recentemente financiava tanto os líderes da bancada ruralista quanto os da bancada da bala e evangélica. O dinheiro cria a fidelidade. Quando o assunto é o Marco Temporal das terras indígenas, 88% da Frente Parlamentar Evangélica votou contra os povos originários, alinhando-se automaticamente aos interesses do agronegócio.
A lógica é de troca mútua de proteção. O ruralista quer a terra e a arma; o policial quer a excludente de ilicitude para usar a arma que já tem; o fundamentalista quer a imposição moral e a demonização do “outro”. Juntos, eles aprovam leis que enfraquecem o licenciamento ambiental, facilitam o acesso a arsenais de guerra e tentam criminalizar movimentos sociais, uma verdadeira institucionalização da barbárie.
O conceito de Teocracia Agropastoril Miliciana não é um exagero retórico; é um diagnóstico de urgência. O Brasil não está apenas “polarizado”, ele está sendo disputado por um projeto de poder que visa subverter os princípios fundadores da República.
Não se trata de demonizar a fé evangélica, que é plural e muitas vezes serve como rede de proteção social onde o Estado falha. Trata-se de denunciar o sequestro da fé por um projeto político autoritário. Não se trata de atacar a agricultura, vital para a economia, mas de expor a facção predatória que usa a religião para lavar a grilagem e o sangue indígena. Não se trata de criticar a segurança pública, mas de apontar a contaminação das forças policiais por ideologias que transformam o cidadão em inimigo a ser abatido.
O avanço desse modelo representa o maior risco à democracia brasileira desde a redemocratização. Se a “cruz, a cerca e o fuzil” continuarem a avançar sem resistência, o Brasil corre o risco de se tornar um imenso “Complexo de Israel”: um país onde a liberdade é privilégio de quem reza para o deus certo, vota no candidato armado e lucra com a terra arrasada. A teocracia não está chegando; ela já está operando, votando e atirando. Resta saber se as instituições democráticas terão força para reafirmar que o Brasil é um Estado laico, de todos, e não uma propriedade privada de uma milícia santa.
Roberto Uchoa
A estratégia, conhecida como o “Mandato dos Sete Montes”, orienta os fiéis a tomarem o controle de sete áreas-chave: religião, família, educação, governo, mídia, artes e negócios. Sob essa ótica, um pastor eleito deputado não está lá apenas para representar seus fiéis, mas para submeter as leis dos homens à “Lei de Deus”. A laicidade do Estado é vista como um erro histórico a ser corrigido, uma brecha por onde o “inimigo” (a esquerda, os movimentos sociais, as religiões de matriz africana) entrou.
Essa visão de mundo cria o que pesquisadores chamam de Cristofascismo: um regime onde o autoritarismo político é sacralizado. A política deixa de ser o espaço da negociação para se tornar o palco da “Guerra Espiritual”. Opositores não são concidadãos com opiniões divergentes; são “filisteus”, “amalequitas” ou agentes demoníacos que precisam ser neutralizados para que a nação prospere.
É essa teologia que permite a um líder religioso subir à tribuna do Congresso e defender, com a Bíblia na mão, a retirada de direitos de minorias ou a posse de fuzis, argumentando que está cumprindo a vontade divina contra as forças do caos. A intolerância deixa de ser um preconceito pessoal e vira um projeto de santificação do território nacional.
Se a teologia fornece a justificativa moral, o agronegócio fornece o combustível material, mas não estamos falando do pequeno produtor rural. Falamos de um modelo de agronegócio financeirizado, tecnológico e expansionista que também passou por uma “conversão” teológica. O antigo slogan publicitário “Agro é Pop” foi subliminarmente substituído por “Agro é Santo”.
Em grandes feiras agrícolas no Centro-Oeste, a liturgia mudou e não é raro ver pastores abençoando colheitadeiras gigantescas e drones de última geração em cerimônias de ação de graças, onde a tecnologia de ponta é ungida como instrumento da providência divina para “alimentar o mundo”. A prosperidade da safra é vista como sinal da bênção de Deus; logo, qualquer entrave a essa produção, seja a demarcação de terras indígenas, a fiscalização ambiental ou leis trabalhistas, é uma afronta ao plano divino.
Essa sacralização do lucro cria uma blindagem ética perfeita para a predação. O desmatamento e a invasão de territórios tradicionais são ressignificados como a “sujeição da terra” ordenada no Gênesis. E para garantir essa expansão, o capital agrário não hesita em financiar a política radical. Investigações sobre os atos antidemocráticos revelaram que pelo menos 142 empresários do setor, concentrados em estados como Mato Grosso e Pará, financiaram a logística do caos em Brasília.
No campo, essa aliança se traduz nas Agromilícias. Grupos armados, muitas vezes compostos por ex-policiais ou agentes de segurança privada, atuam como exércitos particulares para “limpar” áreas de interesse, atacando indígenas e sem-terra. A violência no campo bate recordes, alimentada pela certeza da impunidade garantida por seus representantes no Congresso e pela bênção de seus líderes espirituais. Em alguns casos, “missões evangélicas” funcionam como ponta de lança, entrando em territórios indígenas para desestruturar a cultura local sob o pretexto de evangelização, abrindo caminho para a exploração econômica subsequente.
O terceiro e mais perigoso vértice desse triângulo é a captura ideológica das forças de segurança. A tese da Teocracia Agropastoril Miliciana alerta para um fato alarmante: a polícia brasileira está sendo catequizada para servir a Deus acima da Constituição.
O principal vetor desse movimento é o programa UFP (Universal nas Forças Policiais), da Igreja Universal do Reino de Deus. Sob o pretexto de oferecer assistência espiritual e palestras sobre ética e depressão, a igreja penetrou em batalhões e delegacias de todo o país. Em estados como São Paulo, a UFP chegou a ter acesso irrestrito a todas as guarnições, distribuindo livros de seus líderes e criando uma relação de dependência emocional com a tropa.
O perigo reside na dupla lealdade. Um policial que vê sua autoridade como uma concessão divina e seu pastor como um comandante espiritual tende a obedecer a diretrizes religiosas em detrimento da lei civil. Denúncias no Ministério Público apontam para a coação de policiais a frequentar cultos e a perigosa mistura de símbolos estatais com a logomarca da igreja.
Enquanto a polícia se “igrejifica”, a igreja se militariza. Projetos como os Gladiadores do Altar introduziram uma estética fascista no culto: jovens uniformizados, marchando em formação rígida, batendo continência e gritando palavras de ordem no altar. Embora a igreja alegue ser uma metáfora para a “batalha espiritual”, a semiótica é inequivocamente bélica. Prepara-se o imaginário do fiel para o confronto.
A consequência prática é a normalização do policial fardado no púlpito e do discurso de extermínio como caridade cristã. A “Bancada da Bala” trabalha no Congresso para legalizar o ativismo político de policiais, enquanto símbolos como a bandeira de Israel começam a ser usados não como homenagem diplomática, mas como insígnia de uma nação imaginária, guerreira e teocrática, que eles acreditam defender nas favelas brasileiras.
Se a teoria parece abstrata, a realidade do Rio de Janeiro oferece um vislumbre aterrorizante do futuro que este modelo propõe. No conjunto de favelas da Zona Norte conhecido como Complexo de Israel, liderado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, a teocracia miliciana já é realidade.
Ali, o crime organizado adotou o fundamentalismo como método de governo. Estrelas de Davi de néon brilham no topo dos morros, visíveis a quilômetros. A intolerância religiosa é a lei: terreiros de Candomblé e Umbanda são depredados, incendiados e seus sacerdotes expulsos sob a mira de fuzis. É o fenômeno do Narco-Pentecostalismo , onde o traficante se vê como um “ungido”, citando salmos enquanto executa rivais.
Embora o termo seja controverso e debatido por acadêmicos que temem a estigmatização dos evangélicos de periferia, a prática de domínio territorial baseada na supressão da diversidade religiosa e na aliança com setores corruptos da polícia (a faceta miliciana) é inegável. O Complexo de Israel é o microcosmo da Teocracia Agropastoril Miliciana: um território onde o Estado laico morreu, substituído por um regime de terror santificado, onde a Bíblia serve de escudo para o fuzil e o lucro do crime.
Enquanto o terror se espalha nas pontas (no campo com as agromilícias e na favela com o narco-pentecostalismo), o centro de comando opera em carpetes azuis, sob o ar-condicionado de Brasília. A atuação da “Bancada da Vida” no Congresso Nacional demonstra uma coordenação impressionante.
Os dados mostram que os interesses se cruzam perfeitamente. A indústria de armas até recentemente financiava tanto os líderes da bancada ruralista quanto os da bancada da bala e evangélica. O dinheiro cria a fidelidade. Quando o assunto é o Marco Temporal das terras indígenas, 88% da Frente Parlamentar Evangélica votou contra os povos originários, alinhando-se automaticamente aos interesses do agronegócio.
A lógica é de troca mútua de proteção. O ruralista quer a terra e a arma; o policial quer a excludente de ilicitude para usar a arma que já tem; o fundamentalista quer a imposição moral e a demonização do “outro”. Juntos, eles aprovam leis que enfraquecem o licenciamento ambiental, facilitam o acesso a arsenais de guerra e tentam criminalizar movimentos sociais, uma verdadeira institucionalização da barbárie.
O conceito de Teocracia Agropastoril Miliciana não é um exagero retórico; é um diagnóstico de urgência. O Brasil não está apenas “polarizado”, ele está sendo disputado por um projeto de poder que visa subverter os princípios fundadores da República.
Não se trata de demonizar a fé evangélica, que é plural e muitas vezes serve como rede de proteção social onde o Estado falha. Trata-se de denunciar o sequestro da fé por um projeto político autoritário. Não se trata de atacar a agricultura, vital para a economia, mas de expor a facção predatória que usa a religião para lavar a grilagem e o sangue indígena. Não se trata de criticar a segurança pública, mas de apontar a contaminação das forças policiais por ideologias que transformam o cidadão em inimigo a ser abatido.
O avanço desse modelo representa o maior risco à democracia brasileira desde a redemocratização. Se a “cruz, a cerca e o fuzil” continuarem a avançar sem resistência, o Brasil corre o risco de se tornar um imenso “Complexo de Israel”: um país onde a liberdade é privilégio de quem reza para o deus certo, vota no candidato armado e lucra com a terra arrasada. A teocracia não está chegando; ela já está operando, votando e atirando. Resta saber se as instituições democráticas terão força para reafirmar que o Brasil é um Estado laico, de todos, e não uma propriedade privada de uma milícia santa.
Chacina como estratégia política e tática eleitoral
Neste dia 28 de novembro, completa um mês a chacina mais letal da história do Brasil, com 121 pessoas mortas no Complexo do Alemão e da Penha, no Rio de Janeiro. A economia política do crime (EPC), que controla e regulamenta pela força das armas esses territórios, continua a operar normalmente nas localidades massacradas, infelizmente, como é o caso do Comando Vermelho (CV), com a permissão e a organização do poder e a violência estatal.
Julgo ser importante ressaltar esse contexto factual. Sim, é uma realidade, o CV permanece naquelas comunidades, a espoliar aquelas populações, a recrutar jovens negros e pobres para o universo da economia criminal, etc., pois, para a economia política capitalista do crime, aqueles jovens são descartáveis, buchas de canhão e afins. Portanto, nessa altura, parece ser bastante óbvio que a operação policial ordenada pelo governador bolsonarista Cláudio Castro teve um objetivo evidentemente político e eleitoral, seja de dimensão regional, seja nacional e também internacional.
No Brasil, existe um histórico de operações político-policiais antes de eleições visando a obteção de dividendos eleitorais e a sinalização de quais são os candidatos “linha dura no combate ao crime”. A criminalidade nas grandes metrópoles é uma realidade que atinge muitas pessoas, trabalhadores e empobrecidos. Um quarto dos brasileiros vive sob a “governança” da economia política do crime. A extrema-direita tem reiterado a mesma proposta de “guerra às drogas”, endurecimento penal e repressivo sem colher resultados. Mas esse tipo de operação espetacularizada e com uma estética da morte ganha votos.
É nesse contexto que devemos compreender a chacina de 28 de outubro. O governador do Rio de Janeiro esperava conquistar votos para se eleger senador e fazer o seu sucessor. Do um ponto de vista nacional, o bolsonarismo — com Jair Bolsonaro, agora, preso — procura se reorganizar e sair da defensiva recolocando a questão da segurança pública no centro da agenda política do país. Esse grupo identifica ser a segurança pública um dos pontos mais fracos da esquerda e do atual governo, e usa o famigerado eufemístico “consórcio da paz”.
A face internacional da operação policial no Rio foi o de criar um ambiente político e retórico, já que, em termos legais, parece ter ficado sem efeito. E passa por legitimar uma intervenção dos Estados Unidos da América Latina, inclusive no Brasil, para combater os “narcoterroristas”. Ou seja, reconfigurando a velha proposta da direita de “guerra às drogas” com uma envergadura global que fortaleça os interesses mais imediato da administração de Donald Trump no tabuleiro das relações internacionais.
Duas notas finais. Primeira: o erro do Governo Lula ao capitular à lógica eleitoral e ceder à gramática política e à estratégia da direita e extrema-direita foi o de enviar um projeto de lei “antifacção” (de cariz punitivista) para o Congresso. A proposta foi reescrita pela direita bolsonarista, numa derrota política para a esquerda governista. Isso parecia evidente, pois fazer política com demarcações, soluções e gramática impostas pelo neofascismo brasileiro é, por si só, já estar derrotado politicamente.
A outra passa pelas imagens que vimos pela televisão no dia seguinte à chacina. Familiares foram obrigados a resgatar os corpos dos mortos na operação policial. Desde a colonização, o Brasil tem sido marcado por histórias de chacinas de pessoas consideradas sub-humanas, retrato do racismo. A síntese desse imaginário racista brotou da boca do governador Cláudio Castro ao dizer que as únicas vítimas daquela operação foram os policiais.
Carlos Hortmann
Julgo ser importante ressaltar esse contexto factual. Sim, é uma realidade, o CV permanece naquelas comunidades, a espoliar aquelas populações, a recrutar jovens negros e pobres para o universo da economia criminal, etc., pois, para a economia política capitalista do crime, aqueles jovens são descartáveis, buchas de canhão e afins. Portanto, nessa altura, parece ser bastante óbvio que a operação policial ordenada pelo governador bolsonarista Cláudio Castro teve um objetivo evidentemente político e eleitoral, seja de dimensão regional, seja nacional e também internacional.
No Brasil, existe um histórico de operações político-policiais antes de eleições visando a obteção de dividendos eleitorais e a sinalização de quais são os candidatos “linha dura no combate ao crime”. A criminalidade nas grandes metrópoles é uma realidade que atinge muitas pessoas, trabalhadores e empobrecidos. Um quarto dos brasileiros vive sob a “governança” da economia política do crime. A extrema-direita tem reiterado a mesma proposta de “guerra às drogas”, endurecimento penal e repressivo sem colher resultados. Mas esse tipo de operação espetacularizada e com uma estética da morte ganha votos.
É nesse contexto que devemos compreender a chacina de 28 de outubro. O governador do Rio de Janeiro esperava conquistar votos para se eleger senador e fazer o seu sucessor. Do um ponto de vista nacional, o bolsonarismo — com Jair Bolsonaro, agora, preso — procura se reorganizar e sair da defensiva recolocando a questão da segurança pública no centro da agenda política do país. Esse grupo identifica ser a segurança pública um dos pontos mais fracos da esquerda e do atual governo, e usa o famigerado eufemístico “consórcio da paz”.
A face internacional da operação policial no Rio foi o de criar um ambiente político e retórico, já que, em termos legais, parece ter ficado sem efeito. E passa por legitimar uma intervenção dos Estados Unidos da América Latina, inclusive no Brasil, para combater os “narcoterroristas”. Ou seja, reconfigurando a velha proposta da direita de “guerra às drogas” com uma envergadura global que fortaleça os interesses mais imediato da administração de Donald Trump no tabuleiro das relações internacionais.
Duas notas finais. Primeira: o erro do Governo Lula ao capitular à lógica eleitoral e ceder à gramática política e à estratégia da direita e extrema-direita foi o de enviar um projeto de lei “antifacção” (de cariz punitivista) para o Congresso. A proposta foi reescrita pela direita bolsonarista, numa derrota política para a esquerda governista. Isso parecia evidente, pois fazer política com demarcações, soluções e gramática impostas pelo neofascismo brasileiro é, por si só, já estar derrotado politicamente.
A outra passa pelas imagens que vimos pela televisão no dia seguinte à chacina. Familiares foram obrigados a resgatar os corpos dos mortos na operação policial. Desde a colonização, o Brasil tem sido marcado por histórias de chacinas de pessoas consideradas sub-humanas, retrato do racismo. A síntese desse imaginário racista brotou da boca do governador Cláudio Castro ao dizer que as únicas vítimas daquela operação foram os policiais.
Carlos Hortmann
O que é ser homem?
O estudo State of UK Men, publicado na semana passada por duas organizações promotoras da igualdade entre os géneros (Equimundo e Beyond Equality), mostra-nos bem o estado de confusão emocional e cultural em que vivem hoje em dia os rapazes e os homens no Reino Unido. Uma realidade que atravessa atualmente todo o mundo ocidental e que as mulheres sentem bem na pele.
O inquérito foi feito a adultos entre os 18 e os 45 anos e 88% dos homens nesta faixa etária acredita que “ser homem significa prover à sua família” ou “ser forte” (83%), neste caso a mesma percentagem dos que respondem que “ser homem” é também “partilhar o trabalho doméstico”. Alguma coisa se interiorizou, pelo menos na teoria.
O problema com o papel do provedor é que já não é preciso ir para a floresta caçar presas, nem ser o único sustento da família, já que a maior parte das mulheres trabalha fora de casa. O sustento da família há muito deixou de ser um papel definido pelo género e, deste ponto de vista feminino de onde escrevo, não haveria razão nenhuma para tanta desorientação. Numa família “tradicional” heterossexual, são os dois a dançar o tango, qual é a dificuldade?
O problema é que a independência financeira das mulheres trouxe um maior equilíbrio nas relações de poder – os homens já não podem dizer “em minha casa, as minhas regras” porque a casa é muitas vezes comprada em conjunto, paga pelos dois, com a luz, a água e o gás bem divididos, assim como as despesas de supermercado. O galo já não canta de galo e parece-lhe o fim do mundo que a galinha já não precise dele numa união que só valha pelo afeto e não pela dependência.
No mesmo inquérito, um em cada quatro homens diz que nunca ninguém se irá apaixonar por ele, 63% acreditam que ninguém quer saber se os homens estão bem hoje em dia e 62% reclamam que “as mulheres têm muitas expectativas sobre como os homens devem ser dentro das relações amorosas atualmente”. Ao mesmo tempo, mais de metade dos inquiridos (54%) não se incomodariam se o seu país tivesse “um líder forte que não se importasse com o Parlamento ou com eleições”, e metade apoia ideias red pill (movimento de apoio à “masculinidade dominante” e ao “privilégio masculino”), através de ideias como “a vida é mais difícil para os homens do que para as mulheres”.
Não, os homens não têm a vida assim tão facilitada, desde logo porque são (mal) educados para um mundo que já não existe. Criados como uns “reizinhos” dentro de casa, os rapazes podem ficar no sofá enquanto as suas irmãs são chamadas para pôr a mesa e lavar a loiça. Depois crescem e não há quem os aguente na tortura desequilibrada do dia a dia e do trabalho doméstico.
Vamos então culpar as mães que os educam? Também – não há aqui trincheiras de género e as crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras no vento. Tal como as ideias ganham mais força quando o exemplo vem de cima, dos líderes eleitos em regimes democráticos ditos avançados que não se coíbem de chamar “piggy” a uma jornalista mulher, como fez Donald Trump há dias.
Ah, mas 68% dos homens britânicos têm medo de que a sua reputação seja destruída se disserem o que pensam. É a insegurança da masculinidade tóxica que prejudica todos, rapazes e raparigas. E isso não é de homem.
O inquérito foi feito a adultos entre os 18 e os 45 anos e 88% dos homens nesta faixa etária acredita que “ser homem significa prover à sua família” ou “ser forte” (83%), neste caso a mesma percentagem dos que respondem que “ser homem” é também “partilhar o trabalho doméstico”. Alguma coisa se interiorizou, pelo menos na teoria.
O problema com o papel do provedor é que já não é preciso ir para a floresta caçar presas, nem ser o único sustento da família, já que a maior parte das mulheres trabalha fora de casa. O sustento da família há muito deixou de ser um papel definido pelo género e, deste ponto de vista feminino de onde escrevo, não haveria razão nenhuma para tanta desorientação. Numa família “tradicional” heterossexual, são os dois a dançar o tango, qual é a dificuldade?
O problema é que a independência financeira das mulheres trouxe um maior equilíbrio nas relações de poder – os homens já não podem dizer “em minha casa, as minhas regras” porque a casa é muitas vezes comprada em conjunto, paga pelos dois, com a luz, a água e o gás bem divididos, assim como as despesas de supermercado. O galo já não canta de galo e parece-lhe o fim do mundo que a galinha já não precise dele numa união que só valha pelo afeto e não pela dependência.
No mesmo inquérito, um em cada quatro homens diz que nunca ninguém se irá apaixonar por ele, 63% acreditam que ninguém quer saber se os homens estão bem hoje em dia e 62% reclamam que “as mulheres têm muitas expectativas sobre como os homens devem ser dentro das relações amorosas atualmente”. Ao mesmo tempo, mais de metade dos inquiridos (54%) não se incomodariam se o seu país tivesse “um líder forte que não se importasse com o Parlamento ou com eleições”, e metade apoia ideias red pill (movimento de apoio à “masculinidade dominante” e ao “privilégio masculino”), através de ideias como “a vida é mais difícil para os homens do que para as mulheres”.
Não, os homens não têm a vida assim tão facilitada, desde logo porque são (mal) educados para um mundo que já não existe. Criados como uns “reizinhos” dentro de casa, os rapazes podem ficar no sofá enquanto as suas irmãs são chamadas para pôr a mesa e lavar a loiça. Depois crescem e não há quem os aguente na tortura desequilibrada do dia a dia e do trabalho doméstico.
Vamos então culpar as mães que os educam? Também – não há aqui trincheiras de género e as crianças aprendem mais pelo exemplo do que pelas palavras no vento. Tal como as ideias ganham mais força quando o exemplo vem de cima, dos líderes eleitos em regimes democráticos ditos avançados que não se coíbem de chamar “piggy” a uma jornalista mulher, como fez Donald Trump há dias.
Ah, mas 68% dos homens britânicos têm medo de que a sua reputação seja destruída se disserem o que pensam. É a insegurança da masculinidade tóxica que prejudica todos, rapazes e raparigas. E isso não é de homem.
quinta-feira, 27 de novembro de 2025
Um sistema de justiça que só pensa naquilo
Um magistocrata de estirpe não pensa em crescer como pessoa. Pensa em crescer como pessoa remunerada, abusadamente remunerada. Pertence ao gênero dos que vieram ao mundo a negócios, e de uma espécie particular: explora a função de operador da justiça para se locupletar à margem da lei. Está num lugar mais seguro para torcer a legalidade em benefício próprio.
O extrativismo magistocrático é praticado por grileiros do orçamento público, os maiores grileiros do Estado brasileiro. A predação de recursos pela cúpula do serviço público fabrica instituições corruptas. Não é o preço inevitável do estado de direito, é o preço de um estado de direito sequestrado por uma minúscula fração de agentes do Estado.
Hoje foi lançado o relatório "Benchmark Internacional Sobre Teto Salarial no Setor Público", produzido por República.org e Movimento Pessoas à Frente, de autoria de Sérgio Guedes-Reis. O texto traz dados sempre chocantes, nunca surpreendentes.
A pesquisa analisou amostra de dados de remuneração de 4 milhões de servidores ativos e inativos no Brasil. Gastamos R$ 20 bilhões em remuneração acima do teto constitucional de R$ 46 mil entre agosto de 2024 e junho de 2025. O Estado brasileiro é líder por larga margem de ranking internacional de supersalários que inclui Alemanha, França, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, México, Argentina, Colômbia etc.
Entre 4 milhões de servidores, 53 mil recebem acima do teto. Significa que pouco mais de 1% dos servidores públicos recebem remunerações ilegais legalizadas pela malandragem do legalismo magistocrático. Recebem acima do teto 21 mil juízes, o grupo mais numeroso (R$ 11 bilhões); também 10 mil membros do Ministério Público (R$ 3 bilhões) e 12 mil no Executivo Federal (R$ 4 bilhões), 82% nas carreiras de advogados públicos; 11 mil juízes receberam mais de R$ 1 milhão nesse período. O dinheiro gasto com supersalários dessa ínfima parcela corresponde a quase 716 mil vezes a mediana da renda nacional.
O privilégio exorbitante, nu e escancarado não é qualquer privilégio. É privilégio construído, protegido e ampliado nas quatro linhas da grosseira ilegalidade.
A proposta de reforma administrativa tenta enfrentar o descalabro. Conter supersalários fortalece o servidor público, contribui para a autoridade e legitimidade do Estado, não o contrário. Porque serviço público forte não pode ter grileiros do orçamento.
José Murilo de Carvalho emprestou de Aristides Lobo a frase que sintetizava sua decepção com a Proclamação da República em 1889: "o povo assistiu a tudo bestializado". O evento histórico nasceu com esse pecado original da "República que não foi" (livro "Os Bestializados").
A magistocracia vigia de forma violenta e persecutória os muros desse enclave que nunca aceitou a proclamação da República, sempre rejeitou a separação entre o público e o privado, a construção de noção não egoísta de valor a ser perseguido pelo Estado e pela lei. A magistocracia nunca perdeu nessa República que não foi, mas ainda tenta ser. Não será sem o controle dos grileiros.
O extrativismo magistocrático é praticado por grileiros do orçamento público, os maiores grileiros do Estado brasileiro. A predação de recursos pela cúpula do serviço público fabrica instituições corruptas. Não é o preço inevitável do estado de direito, é o preço de um estado de direito sequestrado por uma minúscula fração de agentes do Estado.
Hoje foi lançado o relatório "Benchmark Internacional Sobre Teto Salarial no Setor Público", produzido por República.org e Movimento Pessoas à Frente, de autoria de Sérgio Guedes-Reis. O texto traz dados sempre chocantes, nunca surpreendentes.
A pesquisa analisou amostra de dados de remuneração de 4 milhões de servidores ativos e inativos no Brasil. Gastamos R$ 20 bilhões em remuneração acima do teto constitucional de R$ 46 mil entre agosto de 2024 e junho de 2025. O Estado brasileiro é líder por larga margem de ranking internacional de supersalários que inclui Alemanha, França, Estados Unidos, Itália, Reino Unido, México, Argentina, Colômbia etc.
Entre 4 milhões de servidores, 53 mil recebem acima do teto. Significa que pouco mais de 1% dos servidores públicos recebem remunerações ilegais legalizadas pela malandragem do legalismo magistocrático. Recebem acima do teto 21 mil juízes, o grupo mais numeroso (R$ 11 bilhões); também 10 mil membros do Ministério Público (R$ 3 bilhões) e 12 mil no Executivo Federal (R$ 4 bilhões), 82% nas carreiras de advogados públicos; 11 mil juízes receberam mais de R$ 1 milhão nesse período. O dinheiro gasto com supersalários dessa ínfima parcela corresponde a quase 716 mil vezes a mediana da renda nacional.
O privilégio exorbitante, nu e escancarado não é qualquer privilégio. É privilégio construído, protegido e ampliado nas quatro linhas da grosseira ilegalidade.
A proposta de reforma administrativa tenta enfrentar o descalabro. Conter supersalários fortalece o servidor público, contribui para a autoridade e legitimidade do Estado, não o contrário. Porque serviço público forte não pode ter grileiros do orçamento.
José Murilo de Carvalho emprestou de Aristides Lobo a frase que sintetizava sua decepção com a Proclamação da República em 1889: "o povo assistiu a tudo bestializado". O evento histórico nasceu com esse pecado original da "República que não foi" (livro "Os Bestializados").
A magistocracia vigia de forma violenta e persecutória os muros desse enclave que nunca aceitou a proclamação da República, sempre rejeitou a separação entre o público e o privado, a construção de noção não egoísta de valor a ser perseguido pelo Estado e pela lei. A magistocracia nunca perdeu nessa República que não foi, mas ainda tenta ser. Não será sem o controle dos grileiros.
Quando o discurso se torna mais importante que a realidade
Há algo de curioso e previsível no discurso da extrema-esquerda mundial. Basta assistir a um debate ou folhear as redes sociais: as mesmas palavras, os mesmos inimigos, a mesma indignação moral. “Elite opressora”, “ricos e poderosos”, “o povo contra o sistema”. O enredo é sempre épico, a retórica, infalivelmente emocional. Funciona bem para mobilizar. Mas quando olhamos de perto, sobra narrativa e falta realidade.
No poder do simples a extrema-esquerda aprendeu, há muito tempo, o valor da simplicidade. O discurso se baseia em contrastes morais fáceis de entender: o bem contra o mal, o fraco contra o forte, o justo contra o opressor. É um código universal que dispensa nuances e explica o mundo em duas cores – preto e branco.
Só que o mundo real raramente é tão binário. Quando os fatos não se encaixam na história, adapta-se o fato, não a história. É daí que surgem as distorções estatísticas, os gráficos “criativos” e os números fora de contexto. Tudo em nome da coerência moral.
Na Ideologia antes da evidência, o problema não está em ter ideologia, e sim em inverter a ordem natural das coisas. Primeiro vem a crença, depois o dado. A militância não pergunta “o que os fatos mostram?”, mas “como os fatos podem comprovar o que eu já acredito?”.
No poder do simples a extrema-esquerda aprendeu, há muito tempo, o valor da simplicidade. O discurso se baseia em contrastes morais fáceis de entender: o bem contra o mal, o fraco contra o forte, o justo contra o opressor. É um código universal que dispensa nuances e explica o mundo em duas cores – preto e branco.
Só que o mundo real raramente é tão binário. Quando os fatos não se encaixam na história, adapta-se o fato, não a história. É daí que surgem as distorções estatísticas, os gráficos “criativos” e os números fora de contexto. Tudo em nome da coerência moral.
Na Ideologia antes da evidência, o problema não está em ter ideologia, e sim em inverter a ordem natural das coisas. Primeiro vem a crença, depois o dado. A militância não pergunta “o que os fatos mostram?”, mas “como os fatos podem comprovar o que eu já acredito?”.
Essa lógica produz um viés de confirmação quase automático: dados inconvenientes são ignorados, minimizados ou tachados de “neoliberais”, “reacionários”, “elitistas”. Some-se a isso uma academia e uma imprensa percebidas como majoritariamente inclinadas à esquerda. Todo mundo reforça todo mundo.
Desde o colapso do socialismo real, a extrema-esquerda deixou a economia em segundo plano e concentrou-se em batalhas simbólicas: gênero, raça, meio ambiente, cultura. O campo é fértil porque, ali, a verdade é mais fluida. O que importa não é o que é comprovável, e sim o que soa moralmente certo.
Nas redes sociais deram o empurrão final. No universo dos algoritmos, quem ganha não é quem tem razão, mas quem emociona mais. Frases de efeito rendem curtidas, não estatísticas. A narrativa virou produto, e o clichê virou estilo.
Sejamos justos: líderes populistas mundo afora (principalmente de direita) aprenderam rapidamente. Copiaram o mesmo modelo emocional, apenas trocando os papéis. Agora, o “oprimido” é o conservador, e o “opressor” é o globalista, o intelectual ou a “ideologia de gênero”. Muda o figurino, o roteiro é o mesmo: O viés populista
No fundo, o problema é mais civilizacional do que partidário. Vivemos uma era em que o discurso vale mais que o dado, e a virtude moral substitui a evidência. É mais fácil parecer bom do que compreender o complexo. Talvez o desafio do nosso tempo seja reaprender a pensar antes de sentir – e checar antes de acreditar. Porque enquanto o discurso for mais sedutor que o fato, seguiremos discutindo narrativas, não realidades.
Desde o colapso do socialismo real, a extrema-esquerda deixou a economia em segundo plano e concentrou-se em batalhas simbólicas: gênero, raça, meio ambiente, cultura. O campo é fértil porque, ali, a verdade é mais fluida. O que importa não é o que é comprovável, e sim o que soa moralmente certo.
Nas redes sociais deram o empurrão final. No universo dos algoritmos, quem ganha não é quem tem razão, mas quem emociona mais. Frases de efeito rendem curtidas, não estatísticas. A narrativa virou produto, e o clichê virou estilo.
Sejamos justos: líderes populistas mundo afora (principalmente de direita) aprenderam rapidamente. Copiaram o mesmo modelo emocional, apenas trocando os papéis. Agora, o “oprimido” é o conservador, e o “opressor” é o globalista, o intelectual ou a “ideologia de gênero”. Muda o figurino, o roteiro é o mesmo: O viés populista
No fundo, o problema é mais civilizacional do que partidário. Vivemos uma era em que o discurso vale mais que o dado, e a virtude moral substitui a evidência. É mais fácil parecer bom do que compreender o complexo. Talvez o desafio do nosso tempo seja reaprender a pensar antes de sentir – e checar antes de acreditar. Porque enquanto o discurso for mais sedutor que o fato, seguiremos discutindo narrativas, não realidades.
Refugiados do mar: a história de Diougop
Há poucos dias ouvi, pela primeira vez, o nome Diougop — um ponto no mapa do Senegal, afastado da costa, depois da cidade de Saint-Louis, onde a península de Langue de Barbarie deixou de ser certeza e passou a ser risco.
É lá, em Diougop, que cerca de 1.500 pessoas hoje se reconhecem como refugiados climáticos. A imagem distópica de um descampado árido, pontilhado por habitações idênticas, é uma realidade dura, prova de que os efeitos das mudanças climáticas não são abstrações: são vidas reviradas pelo vento e pela água.
Desde meados da década de 2010, bairros inteiros de Saint-Louis vêm sendo engolidos pela erosão costeira, pelas marés altas, pelas tempestades — por tudo aquilo que classificamos, com pudor técnico, como “eventos extremos”.
Entre 2015 e 2018, centenas de famílias viram o Atlântico avançar pela porta da frente. Primeiro foram levadas para acampamentos emergenciais — improvisados, frágeis, vulneráveis. Depois, com apoio do Banco Mundial e de parceiros internacionais, nasceu Diougop: uma tentativa de restabelecer alguma ordem após o caos, com casas pré-fabricadas fornecidas pela Better Shelter — um pedaço de chão firme depois de o mar ter levado tudo o que era sólido.
No excelente documentário Blue Carbon (do qual já falamos aqui), é possível ver como funciona Diougop. Há uma escola, espaços comunitários, algum atendimento de saúde. Os moradores reclamam do calor intenso e da falta que sentem do antigo lar. Falam do mar — da saudade e do sustento que tiravam dele. É evidente a dor causada pelo afrouxamento dos laços comunitários.
Diougop não é apenas consequência; é alerta. É o que acontece quando metas, números e gráficos não se traduzem em rosto, nome e dignidade.
Ali, famílias inteiras vivem hoje o que muitos ainda insistem em tratar como uma projeção futura. Não é futuro. É agora.
Por isso, Diougop se tornou um símbolo crescente da urgência de uma realocação planejada, que respeite direitos, culturas e meios de sobrevivência. Adaptação climática não é luxo — é sobrevivência.
É lá, em Diougop, que cerca de 1.500 pessoas hoje se reconhecem como refugiados climáticos. A imagem distópica de um descampado árido, pontilhado por habitações idênticas, é uma realidade dura, prova de que os efeitos das mudanças climáticas não são abstrações: são vidas reviradas pelo vento e pela água.
Desde meados da década de 2010, bairros inteiros de Saint-Louis vêm sendo engolidos pela erosão costeira, pelas marés altas, pelas tempestades — por tudo aquilo que classificamos, com pudor técnico, como “eventos extremos”.
Entre 2015 e 2018, centenas de famílias viram o Atlântico avançar pela porta da frente. Primeiro foram levadas para acampamentos emergenciais — improvisados, frágeis, vulneráveis. Depois, com apoio do Banco Mundial e de parceiros internacionais, nasceu Diougop: uma tentativa de restabelecer alguma ordem após o caos, com casas pré-fabricadas fornecidas pela Better Shelter — um pedaço de chão firme depois de o mar ter levado tudo o que era sólido.
No excelente documentário Blue Carbon (do qual já falamos aqui), é possível ver como funciona Diougop. Há uma escola, espaços comunitários, algum atendimento de saúde. Os moradores reclamam do calor intenso e da falta que sentem do antigo lar. Falam do mar — da saudade e do sustento que tiravam dele. É evidente a dor causada pelo afrouxamento dos laços comunitários.
Diougop não é apenas consequência; é alerta. É o que acontece quando metas, números e gráficos não se traduzem em rosto, nome e dignidade.
Ali, famílias inteiras vivem hoje o que muitos ainda insistem em tratar como uma projeção futura. Não é futuro. É agora.
Por isso, Diougop se tornou um símbolo crescente da urgência de uma realocação planejada, que respeite direitos, culturas e meios de sobrevivência. Adaptação climática não é luxo — é sobrevivência.
quarta-feira, 26 de novembro de 2025
Velha ordem em agonia
Aposta-se no surgimento dessa nova ordem de uma nova política que substitua a obsoleta democracia liberal que, manifestamente, está caindo aos pedaços em todo o mundo, porque deixa de existir no único lugar em que pode perdurar: a mente dos cidadãos.
A crise dessa velha ordem política está adotando múltiplas formas. A subversão das instituições democráticas por caudilhos narcisistas que se apossam das molas do poder a partir da repugnância das pessoas com a podridão institucional e a injustiça social: a manipulação midiática das esperanças frustradas por encantadores de serpentes; a renovação aparente e transitória da representação política através da cooptação dos projetos de mudanças; a consolidação de máfias no poder e de teocracias fundamentalistas, aproveitando as estratégias geopolíticas dos poderes mundiais; a pura e simples volta à brutalidade irrestrita do Estado em boa parte do mundo, da Rússia à China, da África neocolonial aos neofascismos do Leste Europeu e às marés ditatoriais na América Latina.
E, enfim, o entrincheiramento no cinismo político, disfarçado de possibilismo realista dos restos da política partidária como forma de representação. Uma lenta agonia daquilo que foi essa ordem política.
Manuel Castells. "Ruptura – A crise da democracia liberal"
A crise dessa velha ordem política está adotando múltiplas formas. A subversão das instituições democráticas por caudilhos narcisistas que se apossam das molas do poder a partir da repugnância das pessoas com a podridão institucional e a injustiça social: a manipulação midiática das esperanças frustradas por encantadores de serpentes; a renovação aparente e transitória da representação política através da cooptação dos projetos de mudanças; a consolidação de máfias no poder e de teocracias fundamentalistas, aproveitando as estratégias geopolíticas dos poderes mundiais; a pura e simples volta à brutalidade irrestrita do Estado em boa parte do mundo, da Rússia à China, da África neocolonial aos neofascismos do Leste Europeu e às marés ditatoriais na América Latina.
E, enfim, o entrincheiramento no cinismo político, disfarçado de possibilismo realista dos restos da política partidária como forma de representação. Uma lenta agonia daquilo que foi essa ordem política.
Manuel Castells. "Ruptura – A crise da democracia liberal"
A direita dispensa Bolsonaro
A direita não precisa mais de Bolsonaro. Ela lhe deve o mérito de tê-la tirado do armário, mas seus surtos transformaram-no num encosto. O patrono da cloroquina, que dizia ter “o meu Exército”, tornou-se um mau espírito encostado no velho conservadorismo nacional.
Afinal, uma direita que teve Roberto Campos, Eugênio Gudin e Castelo Branco terá perdido muito em qualidade, mas com Bolsonaro ganhou em quantidade, elegendo um presidente e grandes bancadas parlamentares. Quem tem Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado governando São Paulo e Goiás produziu quadros qualificados para novos voos. Esse é o caminho da lógica, mas a direita brasileira padece de um oportunismo suicida.
Em 1959, na União Democrática Nacional, berço do conservadorismo, havia um candidato à Presidência. Era Juracy Magalhães, tenente de 1930, ex-governador da Bahia e primeiro presidente da Petrobras. O partido resolveu atrelar-se à candidatura de Jânio Quadros. Um demagogo de carreira fulgurante, sem qualquer vínculo partidário, capaz de levá-la ao poder.
Segundo a piada, Jânio era “a UDN de porre”. Deu no que deu.
Anos depois, já na ditadura, o conservadorismo emplacou o marechal Castelo Branco, um reformador austero. O oportunismo suicida levou a base conservadora do regime a aninhar-se na anarquia militar e na candidatura do ministro da Guerra, general Costa e Silva. Deu no que deu, o Ato Institucional nº 5 e a crise decorrente da isquemia cerebral que o incapacitou em agosto de 1969.
Essa direita que come com garfo e faca achou em Jair Bolsonaro sua oportunidade. A eleição de 2018 foi um arrastão conservador, e o ex-capitão acabou no Palácio do Planalto muito mais pelos erros do PT que pelas suas qualidades.
O último surto de Bolsonaro, contra uma tornozeleira, espantou até mesmo seus aliados. Espanto tardio diante de um personagem que duvidava das vacinas durante uma epidemia que matou 700 mil pessoas e acreditava nas pesquisas de uma empresa americana que tentava transmitir eletricidade sem o uso de fios. (Na cena em que um finório vendeu a Bolsonaro essa maravilhosa ideia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tomou distância.)
O ex-capitão que se lembra do que fez em 1987, desenhando um gráfico pueril de explosão de uma adutora e sendo exonerado de culpa pelo Superior Tribunal Militar, adquiriu incompreensão do que são as instituições em geral e o Poder Judiciário em particular. Chamou um ministro do Supremo de “canalha”. Anunciou que não cumpriria decisões de tribunais. Flertou com o golpismo da trama contra a posse de Lula.
Será árdua a tarefa de livrar-se do encosto sem ofendê-lo. Os filhos de Bolsonaro gastam mais tempo condenando Tarcísio do que Lula e seu governo. A UDN conseguiu se livrar do encosto de Jânio, e os comandantes militares da ditadura livraram-se do encosto de Costa e Silva com sua saída da cena, remetendo seu principal conselheiro militar, o general Jayme Portela, para um comando de segunda antes de mandá-lo para a reserva.
Afinal, uma direita que teve Roberto Campos, Eugênio Gudin e Castelo Branco terá perdido muito em qualidade, mas com Bolsonaro ganhou em quantidade, elegendo um presidente e grandes bancadas parlamentares. Quem tem Tarcísio de Freitas e Ronaldo Caiado governando São Paulo e Goiás produziu quadros qualificados para novos voos. Esse é o caminho da lógica, mas a direita brasileira padece de um oportunismo suicida.
Em 1959, na União Democrática Nacional, berço do conservadorismo, havia um candidato à Presidência. Era Juracy Magalhães, tenente de 1930, ex-governador da Bahia e primeiro presidente da Petrobras. O partido resolveu atrelar-se à candidatura de Jânio Quadros. Um demagogo de carreira fulgurante, sem qualquer vínculo partidário, capaz de levá-la ao poder.
Segundo a piada, Jânio era “a UDN de porre”. Deu no que deu.
Anos depois, já na ditadura, o conservadorismo emplacou o marechal Castelo Branco, um reformador austero. O oportunismo suicida levou a base conservadora do regime a aninhar-se na anarquia militar e na candidatura do ministro da Guerra, general Costa e Silva. Deu no que deu, o Ato Institucional nº 5 e a crise decorrente da isquemia cerebral que o incapacitou em agosto de 1969.
Essa direita que come com garfo e faca achou em Jair Bolsonaro sua oportunidade. A eleição de 2018 foi um arrastão conservador, e o ex-capitão acabou no Palácio do Planalto muito mais pelos erros do PT que pelas suas qualidades.
O último surto de Bolsonaro, contra uma tornozeleira, espantou até mesmo seus aliados. Espanto tardio diante de um personagem que duvidava das vacinas durante uma epidemia que matou 700 mil pessoas e acreditava nas pesquisas de uma empresa americana que tentava transmitir eletricidade sem o uso de fios. (Na cena em que um finório vendeu a Bolsonaro essa maravilhosa ideia, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, tomou distância.)
O ex-capitão que se lembra do que fez em 1987, desenhando um gráfico pueril de explosão de uma adutora e sendo exonerado de culpa pelo Superior Tribunal Militar, adquiriu incompreensão do que são as instituições em geral e o Poder Judiciário em particular. Chamou um ministro do Supremo de “canalha”. Anunciou que não cumpriria decisões de tribunais. Flertou com o golpismo da trama contra a posse de Lula.
Será árdua a tarefa de livrar-se do encosto sem ofendê-lo. Os filhos de Bolsonaro gastam mais tempo condenando Tarcísio do que Lula e seu governo. A UDN conseguiu se livrar do encosto de Jânio, e os comandantes militares da ditadura livraram-se do encosto de Costa e Silva com sua saída da cena, remetendo seu principal conselheiro militar, o general Jayme Portela, para um comando de segunda antes de mandá-lo para a reserva.
O que será grave para nos tirar da apatia coletiva?
Começo pelo Brasil, porque é impossível não começar por ele. No dia 28 de outubro, quando 121 pessoas foram mortas em uma ação policial malsucedida comandada pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, entre elas, quatro policiais trabalhando a seu serviço, na mais letal operação policial da história do país, pensei que o Brasil fosse parar. Imaginei que haveria uma grande greve geral, que a desumanização profunda das vítimas e de suas famílias, em especial de suas mães, faria com que até o mais sem coração dos homens corasse — e agisse.
Não aconteceu. Em vez disso, uma parte expressiva da população celebrou a operação, o saldo negativo e violento foi rapidamente diluído por uma cobertura midiática que priorizou a narrativa oficial, a ponto de um desavisado poder se perguntar se, no Brasil, há pena de morte sem necessidade de julgamento prévio ou mesmo identificação das vítimas — para além da cor da pele ou do local de nascimento. A execução e a gestão da tragédia narrada como guerra interna se mostraram eficaz na estratégia de comunicação política de Cláudio Castro, que, com isso, acenou para a agenda da extrema-direita interna e internacional, ganhou visibilidade e redirecionou a pauta brasileira.
Não foi a primeira vez que o limite ético no Brasil foi muito ultrapassado pelas mãos do Estado nos últimos 525 anos. A bem da verdade, essa é a regra mais do que a exceção. E, ainda assim, seguimos naturalizando a violência estatal como se fosse um custo aceitável da vida pública. “Naturalizando”, digo, sem excluir os posts revoltados nas redes sociais ou as vozes ativistas relevantes, as manifestações importantes. Estou falando da massa. Em algum momento a população irá se revoltar por ter seus cidadãos assassinados pelo Estado que deveria protegê-los? Ou, antes disso, em algum momento irá reconhecer essas pessoas como seus concidadãos, seus iguais?
Em Portugal, no dia 10 de novembro, um menino brasileiro de 9 anos teve as pontas de dois dedos decepadas por outros alunos de idade semelhante na escola em que estudava, no Distrito de Viseu. Criança torturando criança. Onde será que aprenderam tamanha desumanização?
Nas redes sociais, essa notícia compartilha espaço com gatos, memes, filhos de amigos, a Tempestade Cláudia, a COP30 e as ações e consequências das guerras recentes e crônicas na Palestina e no Sudão. Levanto o pescoço do celular, olho para o vagão de metrô ao meu redor e vejo todos os outros rostos em outros celulares. O real parece perder densidade, achatado no virtual, enquanto este oferece a promessa de um mundo mais suportável — ou pelo menos, mais editável. Até a revolta aqui é fácil.
Esse movimento permanente entre horror e distração produz um verdadeiro cansaço moral, um estado de hiperconsumo de tragédia em que já não conseguimos distinguir o que exige ação do que apenas exige um scroll. A desumanização também é cognitiva.
Então, será que já não somos humanos? Ou que essa “humanidade” sempre foi tão pouco? Ou será que estamos apenas treinados para tolerar o intolerável? Fico me perguntando o que mais é preciso acontecer para que a gente pare. Para que a história chegue a um ponto em que nós digamos: não, aqui é o limite. Não trabalharemos mais para o mundo em ruínas.
Nós temos tanta criatividade para criar grandes feitos. Por que não temos para parar a barbárie? Talvez porque, antes de criá-la, precisaríamos primeiro reconhecê-la, senti-la e arcar com as consequências. Quanto do intolerável ainda estamos dispostos a aceitar?
Não aconteceu. Em vez disso, uma parte expressiva da população celebrou a operação, o saldo negativo e violento foi rapidamente diluído por uma cobertura midiática que priorizou a narrativa oficial, a ponto de um desavisado poder se perguntar se, no Brasil, há pena de morte sem necessidade de julgamento prévio ou mesmo identificação das vítimas — para além da cor da pele ou do local de nascimento. A execução e a gestão da tragédia narrada como guerra interna se mostraram eficaz na estratégia de comunicação política de Cláudio Castro, que, com isso, acenou para a agenda da extrema-direita interna e internacional, ganhou visibilidade e redirecionou a pauta brasileira.
Não foi a primeira vez que o limite ético no Brasil foi muito ultrapassado pelas mãos do Estado nos últimos 525 anos. A bem da verdade, essa é a regra mais do que a exceção. E, ainda assim, seguimos naturalizando a violência estatal como se fosse um custo aceitável da vida pública. “Naturalizando”, digo, sem excluir os posts revoltados nas redes sociais ou as vozes ativistas relevantes, as manifestações importantes. Estou falando da massa. Em algum momento a população irá se revoltar por ter seus cidadãos assassinados pelo Estado que deveria protegê-los? Ou, antes disso, em algum momento irá reconhecer essas pessoas como seus concidadãos, seus iguais?
Em Portugal, no dia 10 de novembro, um menino brasileiro de 9 anos teve as pontas de dois dedos decepadas por outros alunos de idade semelhante na escola em que estudava, no Distrito de Viseu. Criança torturando criança. Onde será que aprenderam tamanha desumanização?
Nas redes sociais, essa notícia compartilha espaço com gatos, memes, filhos de amigos, a Tempestade Cláudia, a COP30 e as ações e consequências das guerras recentes e crônicas na Palestina e no Sudão. Levanto o pescoço do celular, olho para o vagão de metrô ao meu redor e vejo todos os outros rostos em outros celulares. O real parece perder densidade, achatado no virtual, enquanto este oferece a promessa de um mundo mais suportável — ou pelo menos, mais editável. Até a revolta aqui é fácil.
Esse movimento permanente entre horror e distração produz um verdadeiro cansaço moral, um estado de hiperconsumo de tragédia em que já não conseguimos distinguir o que exige ação do que apenas exige um scroll. A desumanização também é cognitiva.
Então, será que já não somos humanos? Ou que essa “humanidade” sempre foi tão pouco? Ou será que estamos apenas treinados para tolerar o intolerável? Fico me perguntando o que mais é preciso acontecer para que a gente pare. Para que a história chegue a um ponto em que nós digamos: não, aqui é o limite. Não trabalharemos mais para o mundo em ruínas.
Nós temos tanta criatividade para criar grandes feitos. Por que não temos para parar a barbárie? Talvez porque, antes de criá-la, precisaríamos primeiro reconhecê-la, senti-la e arcar com as consequências. Quanto do intolerável ainda estamos dispostos a aceitar?
terça-feira, 25 de novembro de 2025
Pela dignidade comum
É inadmissível vivermos no século XXI, em países desenvolvidos, com excedente econômico, onde há pessoas a viver na rua. Hoje, educamos os nossos filhos para não olharem, mas, se a sociedade ainda reage quando vê uma criança na rua, também devia reagir de igual forma quando é um adulto. As pessoas convenceram-se de que é uma inevitabilidade e desistiram do lado humanista.
Não pode haver dignidade na nossa vida sem haver dignidade comum.
Américo Nave, cofundador da Crescer
Não pode haver dignidade na nossa vida sem haver dignidade comum.
Américo Nave, cofundador da Crescer
Água sacrificada para extrair matérias-primas essenciais
"Esta é a primeira vez que venho a esta conferência de uma região onde se encontram matérias-primas críticas. A ideia é bater às portas e dizer: ei, do que vocês estão falando? Por que falam de uma transição energética justa se o sacrifício é nosso? Nosso território fica na Puna, um lugar com pouquíssima água. E para extrair lítio, eles precisam de muita água. A contaminação dessa água será a nossa morte, tanto física quanto espiritual", disse Yber Sarapura, líder das comunidades da Bacia de Salinas Grandes em Jujuy, Argentina, durante a 12ª Semana das Matérias-Primas Críticas , realizada em Bruxelas entre 17 e 20 de novembro.
Yber Sarapura é um dos representantes de comunidades indígenas do sul global presente no encontro internacional, organizado pela Comissão Europeia , que reúne empresas, academia, sociedade civil, pesquisa e política em torno das matérias-primas críticas (MPC).
Níquel, cobre, manganês, cobalto, lítio e elementos de terras raras encabeçam a lista dessas matérias-primas, que são críticas devido à sua importância estratégica e econômica, bem como aos riscos em suas cadeias de suprimentos. Desde 2023, quando foi publicada a quinta versão da lista de matérias-primas críticas, Bruxelas firmou acordos com países ricos nesses materiais — Brasil, Chile, Argentina e Peru — para sua extração, visando garantir a transição energética. E agora, esses acordos também se estendem ao fornecimento para a indústria de defesa .
Vinte e três por cento dos elementos de terras raras (compostos por 17 minerais) estão no Brasil. Cinquenta e quatro por cento do lítio está na América do Sul. E as maiores reservas de cobre estão no Chile e no Peru, atualmente o primeiro e o segundo maiores exportadores mundiais.
Por outro lado, a UE precisará de 30% mais cobre e 60% mais lítio até 2050 (a partir de 2020). O interesse em parcerias é evidente. No entanto, é importante lembrar que o rio Trapiche secou em Catamarca; em Cajamarca, os rios apresentam cores diferentes devido aos resíduos minerais em seus leitos; e 1,3 quilômetros quadrados ao redor do Rio Blanco e da geleira Rinconada secaram.
Esses dados — provenientes de relatórios de organizações como a argentina FARN, a peruana CoperAcción e a Fundação Heinrich Böll — lançam uma luz diferente sobre essa cruzada europeia moderna pelas matérias-primas necessárias para supostamente alcançar um mundo mais verde.
No entanto, as comunidades locais e os ambientalistas estão se concentrando em um elemento que recebeu pouca atenção na conferência de Bruxelas: a água e o impacto de sua escassez na vida. Porque, entretanto, já é sabido: apesar de toda a inovação tecnológica em sua extração, a indústria de mineração requer água — muita água.
Vale ressaltar que representantes de instituições europeias afirmam o respeito aos direitos humanos, os mecanismos voluntários de diligência devida, o compromisso com a sustentabilidade e o progresso na indústria da reciclagem. Ao mesmo tempo, consideram essas matérias-primas essenciais, que em sua maioria se encontram fora da Europa, indispensáveis para a independência energética e a competitividade europeia na atual corrida geopolítica.
"Para quem esses minerais são essenciais? Para a indústria de mobilidade pessoal?", questiona Laura Castillo, pesquisadora da FARN. "Para as populações nos territórios onde o lítio é encontrado, a situação crítica é a dos pântanos andinos, zonas áridas já sob pressão das mudanças climáticas. Chove muito pouco e a quantidade de água perdida por evaporação é maior do que a que entra no sistema", afirma.
Além de questionar o hiperconsumo das sociedades do "norte global", o especialista da FARN destaca a necessidade de aplicar ferramentas já existentes, como a avaliação ambiental estratégica, para planejar o território e isentar ecossistemas sensíveis da extração.
Nesse sentido, segundo fontes oficiais, o atual governo chileno tomou medidas para proteger 30% dos salares do país, onde não haverá extração de lítio. Além disso, no Chile, o lítio não é um mineral sujeito a concessão; o presidente concede o direito de extraí-lo por meio de licitação pública, após consulta às comunidades afetadas.
Representantes da Coligação Europeia de Matérias-Primas, uma plataforma de ONGs europeias que lidam com os impactos de projetos extrativistas, estão apresentando uma proposta semelhante a Bruxelas: que sejam determinadas "zonas proibidas", que seja realizada uma consulta prévia e que, em caso de consentimento, ou "licença social", seja acordada a partilha dos lucros.
Medo devido a experiências passadas
"O medo da escassez de água é o principal fator de oposição e de conflitos com a mineração", explica Johanna Sydow, chefe da divisão de política ambiental internacional da Fundação Heinrich Böll.
"Por um lado, são feitos estudos de impacto para cada projeto, sem levar em conta o valor cumulativo da escassez de água. Por outro lado, os governos continuam a baixar os padrões de proteção ambiental, deixando as pessoas desprotegidas. No Peru, na Sérvia e em Gana, mesmo recebendo água da mineradora, as pessoas têm que beber água contaminada", destaca Johanna Sydow.
Assim, em meio a painéis e debates sobre alta tecnologia para recuperação de lítio de baterias, mobilidade com emissão zero, tecnologia aeroespacial e visões de um futuro sustentável, Iber Sarapura apresenta o caso de Salinas Grandes e da Lagoa de Guayatayoc.
"É difícil dialogar com as mineradoras. Elas usam qualquer foto nossa como pré-consulta. Não usam nosso documento KachiYupi, 'as pegadas de sal', para nos consultar", aponta o líder comunitário. Ofereceram realocação ou outros benefícios? "Não queremos dinheiro, nem terras. Este território é nosso desde antes do Estado argentino, que busca qualquer forma de se livrar de nós. Nossa resposta é não", conclui.
Yber Sarapura é um dos representantes de comunidades indígenas do sul global presente no encontro internacional, organizado pela Comissão Europeia , que reúne empresas, academia, sociedade civil, pesquisa e política em torno das matérias-primas críticas (MPC).
Níquel, cobre, manganês, cobalto, lítio e elementos de terras raras encabeçam a lista dessas matérias-primas, que são críticas devido à sua importância estratégica e econômica, bem como aos riscos em suas cadeias de suprimentos. Desde 2023, quando foi publicada a quinta versão da lista de matérias-primas críticas, Bruxelas firmou acordos com países ricos nesses materiais — Brasil, Chile, Argentina e Peru — para sua extração, visando garantir a transição energética. E agora, esses acordos também se estendem ao fornecimento para a indústria de defesa .
Vinte e três por cento dos elementos de terras raras (compostos por 17 minerais) estão no Brasil. Cinquenta e quatro por cento do lítio está na América do Sul. E as maiores reservas de cobre estão no Chile e no Peru, atualmente o primeiro e o segundo maiores exportadores mundiais.
Por outro lado, a UE precisará de 30% mais cobre e 60% mais lítio até 2050 (a partir de 2020). O interesse em parcerias é evidente. No entanto, é importante lembrar que o rio Trapiche secou em Catamarca; em Cajamarca, os rios apresentam cores diferentes devido aos resíduos minerais em seus leitos; e 1,3 quilômetros quadrados ao redor do Rio Blanco e da geleira Rinconada secaram.
Esses dados — provenientes de relatórios de organizações como a argentina FARN, a peruana CoperAcción e a Fundação Heinrich Böll — lançam uma luz diferente sobre essa cruzada europeia moderna pelas matérias-primas necessárias para supostamente alcançar um mundo mais verde.
No entanto, as comunidades locais e os ambientalistas estão se concentrando em um elemento que recebeu pouca atenção na conferência de Bruxelas: a água e o impacto de sua escassez na vida. Porque, entretanto, já é sabido: apesar de toda a inovação tecnológica em sua extração, a indústria de mineração requer água — muita água.
Vale ressaltar que representantes de instituições europeias afirmam o respeito aos direitos humanos, os mecanismos voluntários de diligência devida, o compromisso com a sustentabilidade e o progresso na indústria da reciclagem. Ao mesmo tempo, consideram essas matérias-primas essenciais, que em sua maioria se encontram fora da Europa, indispensáveis para a independência energética e a competitividade europeia na atual corrida geopolítica.
"Para quem esses minerais são essenciais? Para a indústria de mobilidade pessoal?", questiona Laura Castillo, pesquisadora da FARN. "Para as populações nos territórios onde o lítio é encontrado, a situação crítica é a dos pântanos andinos, zonas áridas já sob pressão das mudanças climáticas. Chove muito pouco e a quantidade de água perdida por evaporação é maior do que a que entra no sistema", afirma.
Além de questionar o hiperconsumo das sociedades do "norte global", o especialista da FARN destaca a necessidade de aplicar ferramentas já existentes, como a avaliação ambiental estratégica, para planejar o território e isentar ecossistemas sensíveis da extração.
Nesse sentido, segundo fontes oficiais, o atual governo chileno tomou medidas para proteger 30% dos salares do país, onde não haverá extração de lítio. Além disso, no Chile, o lítio não é um mineral sujeito a concessão; o presidente concede o direito de extraí-lo por meio de licitação pública, após consulta às comunidades afetadas.
Representantes da Coligação Europeia de Matérias-Primas, uma plataforma de ONGs europeias que lidam com os impactos de projetos extrativistas, estão apresentando uma proposta semelhante a Bruxelas: que sejam determinadas "zonas proibidas", que seja realizada uma consulta prévia e que, em caso de consentimento, ou "licença social", seja acordada a partilha dos lucros.
Medo devido a experiências passadas
"O medo da escassez de água é o principal fator de oposição e de conflitos com a mineração", explica Johanna Sydow, chefe da divisão de política ambiental internacional da Fundação Heinrich Böll.
"Por um lado, são feitos estudos de impacto para cada projeto, sem levar em conta o valor cumulativo da escassez de água. Por outro lado, os governos continuam a baixar os padrões de proteção ambiental, deixando as pessoas desprotegidas. No Peru, na Sérvia e em Gana, mesmo recebendo água da mineradora, as pessoas têm que beber água contaminada", destaca Johanna Sydow.
Assim, em meio a painéis e debates sobre alta tecnologia para recuperação de lítio de baterias, mobilidade com emissão zero, tecnologia aeroespacial e visões de um futuro sustentável, Iber Sarapura apresenta o caso de Salinas Grandes e da Lagoa de Guayatayoc.
"É difícil dialogar com as mineradoras. Elas usam qualquer foto nossa como pré-consulta. Não usam nosso documento KachiYupi, 'as pegadas de sal', para nos consultar", aponta o líder comunitário. Ofereceram realocação ou outros benefícios? "Não queremos dinheiro, nem terras. Este território é nosso desde antes do Estado argentino, que busca qualquer forma de se livrar de nós. Nossa resposta é não", conclui.
Reflexões fáceis, problemas encardidos
Sabe o leitor que, na vida pública, existem indagações fáceis de responder, indagações difíceis e indagações rigorosamente irrespondíveis.
Hoje, eu gostaria de falar sobre uma que tem aparecido nas três categorias. Refiro-me à questão dos partidos políticos. Suponhamos que você vá a Brasília e pergunta a um indivíduo qualquer, escolhido a esmo: o que você entende por partido político? O mais provável é que ele nada responda ou então diga algo assim: partido é um grupo de pessoas que comungam certos valores e se reúnem para tentar realizálos, disputando eleições. Eu retrucaria: um grupo de pessoas que comungam certos valores? De onde você tirou isso? Aqui em Brasília é que não foi, não é?
Aí me dirijo a um segundo indivíduo, ali mesmo na Esplanada dos Ministérios. O que você entende por partido político? E ele: “Ora, só pode ser um grupo de sujeitos que fica à espreita, esperando a chance de destruir o País. Veja o caso da Argentina. Políticos, militares, trotskistas, anarquistas, achavam que o país era bom demais para o que os argentinos mereciam. Em vez de vários partidos, vamos trazer o Perón de volta da Espanha, ele vem com Isabelita, sua segunda mulher e a coloca como vice-presidente, por precaução, porque já está um pouco velho. Aí, o que aconteceu? Ora, na hora H, Perón morreu, ela foi posta em prisão domiciliar, todos quebraram o pau e pronto: não têm mais país, mas também não têm essa coisa abominável a que chamam partidos”.
A essa altura, resolvi dirigir-me a um senhor bem aparecido, com cara de cavalheiro, obviamente uma pessoa letrada. Fiz-lhe a pergunta e ele, com um sorriso de felicidade por ter sido inquirido, respondeu-me: “Ora, isso é comigo mesmo”.
E prosseguiu: “Partidos são a engrenagem fundamental da democracia representativa. Sem partidos, não há democracia. E a recíproca é verdadeira: sem democracia não há partidos, porque ditaduras não os toleram”.
Formidável, respondi a ele, mas o que, exatamente, é um partido?
Respondeu-me o cavalheiro que iríamos muito longe se fôssemos discorrer sobre outros países. Fiquemos no Brasil. Desde logo, o partido tem de ter caráter nacional, ou seja, não admitimos partidos regionais. Uma vez constituídos, têm direito a financiamento (recursos do Fundo Partidário) e a acesso gratuito ao rádio e à TV para divulgar seus programas, pois não é concebível que nosso imenso eleitorado compareça às urnas desprovido de informações idôneas sobre as alternativas entre as quais terá o direito e o dever de fazer sua escolha. E, naturalmente, a Constituição não estabelece restrições quantitativas quanto ao número de partidos.
Ótimo, ótimo, lhe respondi, mas continuo sem uma ideia exata sobre o que é, de fato, um partido. “Ora – respondeu-me – é muito simples. Primeiro, o grupo interessado em formar um partido precisa registrar sua intenção no Cartório de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. Observe que aí ele já começa a existir. Depois o referido grupo deve comparecer ao Tribunal Superior Eleitoral portando uma senhora maçaroca. Um catatau do qual haverá de constar os estatutos e o programa do partido, bem como algumas centenas de páginas com assinaturas de eleitores de vários Estados, sendo essa a prova do indispensável “caráter nacional” da recém-criada agremiação”.
E daí em diante, o que acontece? “Ora”, respondeu-me o interlocutor com a mesma distinção que demonstrara até esse ponto. “Daí em diante, desde que conquiste o desejado número de assentos parlamentares, o partido contribui para o bem do País na exata proporção da qualidade de seus membros. Tivemos em nossa história partidos que fizeram coisas admiráveis. É verdade que esses, nos dias de hoje, rarearam. Ocupam-se principalmente em inserir na legislação os chamados privilégios corporativistas, quero dizer, normas legais para a proteção e a progressão profissional de pequenos grupos, que os recompensam com apoio eleitoral; isso, naturalmente, nos níveis nacional, estadual e municipal. Dado que a vida política edulcora o coração das pessoas, muitos também se esforçam para arranjar empregos para amigos e parentes. E, sobretudo, trabalham com afinco para influenciar o Orçamento federal anual, pois, afinal de contas, nada há de mais execrável que a mania da chamada “área econômica” de querer equilibrar a arrecadação e o gasto.
A organização jurídica, como veem, é impecável. Nada escapou à atenção da Constituição de 1988 e à subsequente legislação ordinária. O único senão é que continuamos aprisionados na chamada “armadilha do baixo crescimento”. Incapaz de crescer pelo menos dois e meio por cento ao ano, levaremos uma geração inteira para dobrar nossa já pífia renda anual per capita. Com Lula na Presidência, pleiteando a reeleição e uma entidade chamada Centrão funcionando como a estufa que cedo ou tarde nos trará uma plêiade de estadistas, o distinto cavalheiro que tão bem me atendeu em Brasília terá de me explicar melhor como sobrevive um país desprovido de verdadeiros partidos políticos.
Hoje, eu gostaria de falar sobre uma que tem aparecido nas três categorias. Refiro-me à questão dos partidos políticos. Suponhamos que você vá a Brasília e pergunta a um indivíduo qualquer, escolhido a esmo: o que você entende por partido político? O mais provável é que ele nada responda ou então diga algo assim: partido é um grupo de pessoas que comungam certos valores e se reúnem para tentar realizálos, disputando eleições. Eu retrucaria: um grupo de pessoas que comungam certos valores? De onde você tirou isso? Aqui em Brasília é que não foi, não é?
Aí me dirijo a um segundo indivíduo, ali mesmo na Esplanada dos Ministérios. O que você entende por partido político? E ele: “Ora, só pode ser um grupo de sujeitos que fica à espreita, esperando a chance de destruir o País. Veja o caso da Argentina. Políticos, militares, trotskistas, anarquistas, achavam que o país era bom demais para o que os argentinos mereciam. Em vez de vários partidos, vamos trazer o Perón de volta da Espanha, ele vem com Isabelita, sua segunda mulher e a coloca como vice-presidente, por precaução, porque já está um pouco velho. Aí, o que aconteceu? Ora, na hora H, Perón morreu, ela foi posta em prisão domiciliar, todos quebraram o pau e pronto: não têm mais país, mas também não têm essa coisa abominável a que chamam partidos”.
A essa altura, resolvi dirigir-me a um senhor bem aparecido, com cara de cavalheiro, obviamente uma pessoa letrada. Fiz-lhe a pergunta e ele, com um sorriso de felicidade por ter sido inquirido, respondeu-me: “Ora, isso é comigo mesmo”.
E prosseguiu: “Partidos são a engrenagem fundamental da democracia representativa. Sem partidos, não há democracia. E a recíproca é verdadeira: sem democracia não há partidos, porque ditaduras não os toleram”.
Formidável, respondi a ele, mas o que, exatamente, é um partido?
Respondeu-me o cavalheiro que iríamos muito longe se fôssemos discorrer sobre outros países. Fiquemos no Brasil. Desde logo, o partido tem de ter caráter nacional, ou seja, não admitimos partidos regionais. Uma vez constituídos, têm direito a financiamento (recursos do Fundo Partidário) e a acesso gratuito ao rádio e à TV para divulgar seus programas, pois não é concebível que nosso imenso eleitorado compareça às urnas desprovido de informações idôneas sobre as alternativas entre as quais terá o direito e o dever de fazer sua escolha. E, naturalmente, a Constituição não estabelece restrições quantitativas quanto ao número de partidos.
Ótimo, ótimo, lhe respondi, mas continuo sem uma ideia exata sobre o que é, de fato, um partido. “Ora – respondeu-me – é muito simples. Primeiro, o grupo interessado em formar um partido precisa registrar sua intenção no Cartório de Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. Observe que aí ele já começa a existir. Depois o referido grupo deve comparecer ao Tribunal Superior Eleitoral portando uma senhora maçaroca. Um catatau do qual haverá de constar os estatutos e o programa do partido, bem como algumas centenas de páginas com assinaturas de eleitores de vários Estados, sendo essa a prova do indispensável “caráter nacional” da recém-criada agremiação”.
E daí em diante, o que acontece? “Ora”, respondeu-me o interlocutor com a mesma distinção que demonstrara até esse ponto. “Daí em diante, desde que conquiste o desejado número de assentos parlamentares, o partido contribui para o bem do País na exata proporção da qualidade de seus membros. Tivemos em nossa história partidos que fizeram coisas admiráveis. É verdade que esses, nos dias de hoje, rarearam. Ocupam-se principalmente em inserir na legislação os chamados privilégios corporativistas, quero dizer, normas legais para a proteção e a progressão profissional de pequenos grupos, que os recompensam com apoio eleitoral; isso, naturalmente, nos níveis nacional, estadual e municipal. Dado que a vida política edulcora o coração das pessoas, muitos também se esforçam para arranjar empregos para amigos e parentes. E, sobretudo, trabalham com afinco para influenciar o Orçamento federal anual, pois, afinal de contas, nada há de mais execrável que a mania da chamada “área econômica” de querer equilibrar a arrecadação e o gasto.
A organização jurídica, como veem, é impecável. Nada escapou à atenção da Constituição de 1988 e à subsequente legislação ordinária. O único senão é que continuamos aprisionados na chamada “armadilha do baixo crescimento”. Incapaz de crescer pelo menos dois e meio por cento ao ano, levaremos uma geração inteira para dobrar nossa já pífia renda anual per capita. Com Lula na Presidência, pleiteando a reeleição e uma entidade chamada Centrão funcionando como a estufa que cedo ou tarde nos trará uma plêiade de estadistas, o distinto cavalheiro que tão bem me atendeu em Brasília terá de me explicar melhor como sobrevive um país desprovido de verdadeiros partidos políticos.
Aznar, o oráculo
Podemos dormir descansados, o aquecimento global não existe, é um invento malicioso dos ecologistas na linha estratégica da sua “ideologia em deriva totalitária”, consoante a definiu o implacável observador da política planetária e dos fenómenos do universo que é José María Aznar. Não saberíamos como viver sem este homem. Não importa que qualquer dia comecem a nascer flores no Árctico, não importa que os glaciares da Patagónia se reduzam de cada vez que alguém suspira fazendo aumentar a temperatura ambiente uma milionésima de grau, não importa que a Gronelândia tenha perdido uma parte importante do seu território, não importa a seca, não importam as inundações que tudo arrasam e tantas vidas levam consigo, não importa a igualização cada vez mais evidente das estações do ano, nada disto importa se o emérito sábio José María vem negar a existência do aquecimento global, baseando-se nas peregrinas páginas de um livro do presidente checo Vaclav Klaus que o próprio Aznar, em uma bonita atitude de solidariedade científica e institucional, apresentará em breve. Já o estamos a ouvir. No entanto, uma dúvida muito séria nos atormenta e que é altura de expender à consideração do leitor. Onde estará a origem, o manancial, a fonte desta sistemática atitude negacionista? Terá resultado de um ovo dialéctico deposto por Aznar no útero do Partido Popular quando foi seu amo e senhor? Quando Rajoy, com aquela composta seriedade que o caracteriza, nos informou de que um seu primo catedrático, parece que de física, lhe havia dito que isso do aquecimento climático era uma treta, tão ousada afirmação foi apenas o fruto de uma imaginação celta sobreaquecida que não havia sabido compreender o que lhe estava a ser explicado, ou, para tornar ao ovo dialéctico, é isso uma doutrina, uma regra, um princípio exarado em letra pequena na cartilha do Partido Popular, caso em que, se Rajoy teria sido somente o repetidor infeliz da palavra do primo catedrático, já o oráculo em que o seu ex-chefe se transformou não quis perder a oportunidade de marcar uma vez mais a pauta ao gentio ignaro?
Não me resta muito mais espaço, mas talvez ainda caiba nele um breve apelo ao senso comum. Sendo certo que o planeta em que vivemos já passou por seis ou sete eras glaciais, não estaremos nós no limiar de outra dessas eras? Não será que a coincidência entre tal possibilidade e as contínuas acções operadas pelo ser humano contra o meio ambiente se parece muito àqueles casos, tão comuns, em que uma doença esconde outra doença? Pensem nisto, por favor. Na próxima era glacial, ou nesta que já está principiando, o gelo cobrirá Paris. Tranquilizemo-nos, não será para amanhã. Mas temos, pelo menos, um dever para hoje: não ajudemos a era glacial que aí vem. E, recordem, Aznar é um mero episódio. Não se assustem.
José Saramago, "O caderno"
segunda-feira, 24 de novembro de 2025
Bolsonaro, o farsante de sempre
No início da madrugada do sábado, ao ser perguntado por uma agente da Justiça porque violara a tornozeleira que o prendia desde agosto último, Bolsonaro, em voz baixa, mas perfeitamente audível, respondeu que o fez por “curiosidade”.
Naquele mesmo dia, levado preso para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, o exame de corpo de delito ao qual se submeteu indicou que o estado de saúde de Bolsonaro era bom. Não havia crise de soluço, nem ele vomitava ou estava estressado.
Na tarde de ontem, em audiência de custódia, Bolsonaro, orientado por seus advogados de defesa, disse que a tentativa de avariar a tornozeleira teve a ver com “uma certa paranoia”, provavelmente relacionada com o uso de medicamentos.
Um surto de confusão mental provocado por remédios torna impossível que uma pessoa, carente de habilidade no ofício, use solda elétrica de modo eficaz para romper uma tornozeleira eletrônica sem causar danos à própria pele. Elementar.
Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, diz a lei. Pode mentir à vontade, bem como seus advogados. Bolsonaro domina a arte de mentir como poucos, do contrário não teria chegado onde chegou. Cabe à Justiça provar que ele mentiu. Não será difícil.
Desconfio que nós, jornalistas, em breve, sentiremos falta de Bolsonaro. Adeus à likes fáceis a propósito de qualquer coisa que ele diga por mais absurdo que soe. O jornalismo político fast food não desaparecerá, mas perderá parte da atração que exerce.
As pessoas preferem escutar ou ler mentiras a se verem confrontadas com verdades. Principalmente mentiras que reforcem suas convicções. Mentiras estimulam a imaginação, dão ensejo a debates, desatam polêmicas e muitas vezes divertem.
Quanto custa ao Estado brasileiro manter Bolsonaro preso em sua casa e impedido de fugir? Logo ele que já planejou fugir no mínimo duas vezes. Sai mais barato transferi-lo para outro lugar onde a vigilância é permanente, coletiva, e não incomoda a vizinhança.
Se a lei é de fato para todos, isso seria mais justo, mais igualitário. Bolsonaro é um bandido como outro qualquer. Foi julgado, condenado e aguarda o início do cumprimento de sua pena. Quis destruir a democracia. Cometeu o mais infame dos crimes.
Que pague por isso, portanto. Merece pagar. Se outro tratamento lhe fosse reservado equivaleria a abrir as portas para a passagem de novas manadas de golpistas. A história do Brasil está marcada por uma sucessão de golpes seguidos de torturas e de mortes.
O mais bem-sucedido dos golpes resultou numa ditadura que durou 21 anos. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas foram torturadas e 434 mortas ou cujos corpos desapareceram. Os criminosos nunca foram punidos, mas sim anistiados.
Ditadura nunca mais, tampouco anistia para os seus responsáveis. Prisão domiciliar só para os que correm risco de morte. Não é o caso de Bolsonaro, um comprovado farsante.
Ricardo Noblat
Naquele mesmo dia, levado preso para a Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, o exame de corpo de delito ao qual se submeteu indicou que o estado de saúde de Bolsonaro era bom. Não havia crise de soluço, nem ele vomitava ou estava estressado.
Na tarde de ontem, em audiência de custódia, Bolsonaro, orientado por seus advogados de defesa, disse que a tentativa de avariar a tornozeleira teve a ver com “uma certa paranoia”, provavelmente relacionada com o uso de medicamentos.
Um surto de confusão mental provocado por remédios torna impossível que uma pessoa, carente de habilidade no ofício, use solda elétrica de modo eficaz para romper uma tornozeleira eletrônica sem causar danos à própria pele. Elementar.
Ninguém é obrigado a produzir provas contra si, diz a lei. Pode mentir à vontade, bem como seus advogados. Bolsonaro domina a arte de mentir como poucos, do contrário não teria chegado onde chegou. Cabe à Justiça provar que ele mentiu. Não será difícil.
Desconfio que nós, jornalistas, em breve, sentiremos falta de Bolsonaro. Adeus à likes fáceis a propósito de qualquer coisa que ele diga por mais absurdo que soe. O jornalismo político fast food não desaparecerá, mas perderá parte da atração que exerce.
As pessoas preferem escutar ou ler mentiras a se verem confrontadas com verdades. Principalmente mentiras que reforcem suas convicções. Mentiras estimulam a imaginação, dão ensejo a debates, desatam polêmicas e muitas vezes divertem.
Quanto custa ao Estado brasileiro manter Bolsonaro preso em sua casa e impedido de fugir? Logo ele que já planejou fugir no mínimo duas vezes. Sai mais barato transferi-lo para outro lugar onde a vigilância é permanente, coletiva, e não incomoda a vizinhança.
Se a lei é de fato para todos, isso seria mais justo, mais igualitário. Bolsonaro é um bandido como outro qualquer. Foi julgado, condenado e aguarda o início do cumprimento de sua pena. Quis destruir a democracia. Cometeu o mais infame dos crimes.
Que pague por isso, portanto. Merece pagar. Se outro tratamento lhe fosse reservado equivaleria a abrir as portas para a passagem de novas manadas de golpistas. A história do Brasil está marcada por uma sucessão de golpes seguidos de torturas e de mortes.
O mais bem-sucedido dos golpes resultou numa ditadura que durou 21 anos. Estima-se que cerca de 20 mil pessoas foram torturadas e 434 mortas ou cujos corpos desapareceram. Os criminosos nunca foram punidos, mas sim anistiados.
Ditadura nunca mais, tampouco anistia para os seus responsáveis. Prisão domiciliar só para os que correm risco de morte. Não é o caso de Bolsonaro, um comprovado farsante.
Ricardo Noblat
Assinar:
Comentários (Atom)




_EDIT.jpg?itok=d5hQqWHe)



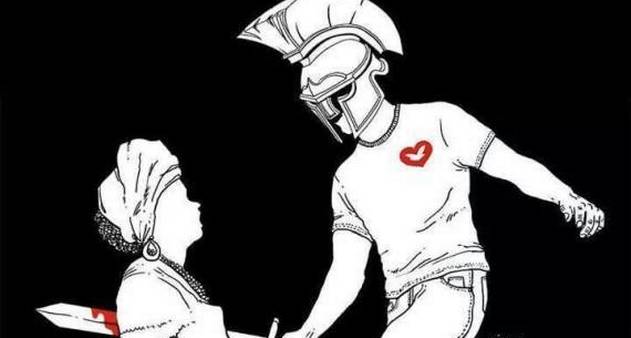



.jpg?itok=KxkDfgwi)









