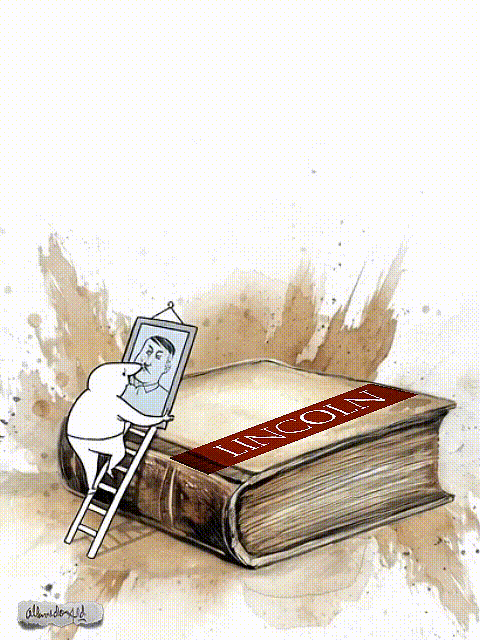quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Cláudio Castro assume sua necropolítica com o conceito de 'narcoterrorismo'
O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, rompeu de forma explícita com os paradigmas de segurança pública estabelecidos pela Constituição de 1988. Ao comentar a Operação Contenção, deflagrada no Complexo do Alemão e da Penha — a mais letal da história do estado, com 121 mortos —, Castro sintetizou os resultados do conceito de narcoterrorismo: “Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que fizemos ontem. Queria me solidarizar com as famílias dos quatro guerreiros que deram a vida para salvar a população. De vítima, ontem, lá, só tivemos esses policiais.”
A frase é mais que uma defesa corporativa. Ao tratar os mortos como “narcoterroristas”, Castro inaugura no Brasil uma retórica que substitui a segurança pública pela lógica da guerra interna. Em nome da “defesa da população”, o Estado reivindica o poder de decidir quais vidas são protegidas e quais podem ser eliminadas. A operação de “cerco e aniquilamento”, do ponto de vista militar, foi bem-sucedida. Mas não desarticula o tráfico de drogas nem recupera o território, porque a violência volta à “normalidade” e, geralmente, as milícias ocupam o espaço dos traficantes no controle da economia informal.
O uso do termo “narcoterrorista” desloca o problema do crime do âmbito penal para campo da segurança nacional. É uma palavra importada da doutrina norte-americana da “narcoguerra”, usada na Colômbia e no México para justificar o emprego das Forças Armadas e a suspensão de garantias legais. Quando Castro adota esse enquadramento, ele rompe a fronteira entre direito e exceção. A favela deixa de ser território civil e passa a ser tratada como teatro de operações militares. A consequência imediata é a militarização ampliada da política de segurança, legitimando mortes em massa e esvaziando o controle judicial.
O conceito de “narcoterrorismo” não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Seu uso político é uma manobra simbólica, que transforma o criminoso em inimigo absoluto e o Estado em autoridade soberana sobre a vida e a morte. Obviamente, é uma ruptura de acordo com o ideário da extrema-direita brasileira, que Cláudio Castro (PL) representa. Trata-se, como aponta o sociólogo Pedro Cláudio Cunca Bocayuva Cunha, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de uma forma de necropolítica: “O governo da morte como instrumento de poder”.
Segundo Bocayuva, conceitualmente, a necropolítica é o regime em que “o medo e a crueldade se tornam dispositivos de governo”. No caso do Rio, o “narcoterrorismo” fornece a gramática perfeita para que o governo adote a violência extrema nos confrontos com os traficantes, num contexto de guerra aberta na qual não há “suspeitos” nem “cidadãos em conflito com a lei”: são inimigos mesmo, que precisam ser fisicamente eliminados, em confrontos diretos e, muitas vezes, execuções sumárias. Com amplo apoio popular, é uma forma de combate que elimina qualquer possibilidade de direito.
O balanço da Defensoria Pública do Rio de Janeiro não deixa dúvida do êxito da operação, do ponto de vista da letalidade: 117 civis mortos para quatro agentes do Estado. Para o governador, só há quatro vítimas — os policiais. As outras mortes são tratadas como estatísticas colaterais, sem direitos a serem preservados. É a tradução literal da necropolítica: o Estado não apenas mata, mas escolhe quem merece ser chorado.
Bocayuva chama isso de “cartografia da morte” — uma geografia social em que o território periférico e o corpo negro são administrados como zonas de exceção. A militarização urbana, a naturalização da crueldade e a ausência de políticas de memória e reparação formam o tripé desse poder necropolítico.
Enquanto Castro exibia orgulho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu com perplexidade e indignação. Em viagem oficial ao Sudeste Asiático, foi informado da operação apenas ao retornar ao Brasil. Reuniu-se de emergência com seus ministros, “estarrecido” com o número de mortos e com o fato de o governo federal não ter sido avisado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi enviado ao Rio para acompanhar a crise e cobrar explicações.
O contraste entre o discurso de Castro e a reação de Lula simboliza duas concepções opostas de Estado: uma que se ancora na lógica da exceção, outra na Constituição de 1988. Quando o governador diz “ou soma no combate à criminalidade ou suma”, ele não apenas desafia o governo federal — nega a própria ideia de política como espaço de mediação, substituindo o diálogo pela força. Por óbvio, não faz isso por acaso.
Há uma disputa no imaginário da sociedade pela bandeira de ordem, que o governo federal tenta recuperar com a PEC do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a nova Lei das Facções, que endurece as penas para os chefões do tráfico, ambas encalhadas na Câmara por pressão dos governadores de oposição, entre os quais Castro.
Na teoria de Achille Mbembe, autor do conceito, a necropolítica define o poder soberano como aquele que decide “quem deve morrer e quem pode viver”. No Rio, Cláudio Castro assumiu essa prerrogativa de modo explícito, revestido de legitimidade moral e linguagem popular. O “narcoterrorista” é um ser fora da lei, cuja eliminação é um ato heroico e patriótico, onde as favelas e comunidades periféricas se confundem com o campo de batalha. É o mesmo mecanismo simbólico que sustentou a guerra suja na Colômbia e a guerra perdida no México.
A frase é mais que uma defesa corporativa. Ao tratar os mortos como “narcoterroristas”, Castro inaugura no Brasil uma retórica que substitui a segurança pública pela lógica da guerra interna. Em nome da “defesa da população”, o Estado reivindica o poder de decidir quais vidas são protegidas e quais podem ser eliminadas. A operação de “cerco e aniquilamento”, do ponto de vista militar, foi bem-sucedida. Mas não desarticula o tráfico de drogas nem recupera o território, porque a violência volta à “normalidade” e, geralmente, as milícias ocupam o espaço dos traficantes no controle da economia informal.
O uso do termo “narcoterrorista” desloca o problema do crime do âmbito penal para campo da segurança nacional. É uma palavra importada da doutrina norte-americana da “narcoguerra”, usada na Colômbia e no México para justificar o emprego das Forças Armadas e a suspensão de garantias legais. Quando Castro adota esse enquadramento, ele rompe a fronteira entre direito e exceção. A favela deixa de ser território civil e passa a ser tratada como teatro de operações militares. A consequência imediata é a militarização ampliada da política de segurança, legitimando mortes em massa e esvaziando o controle judicial.
O conceito de “narcoterrorismo” não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Seu uso político é uma manobra simbólica, que transforma o criminoso em inimigo absoluto e o Estado em autoridade soberana sobre a vida e a morte. Obviamente, é uma ruptura de acordo com o ideário da extrema-direita brasileira, que Cláudio Castro (PL) representa. Trata-se, como aponta o sociólogo Pedro Cláudio Cunca Bocayuva Cunha, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), de uma forma de necropolítica: “O governo da morte como instrumento de poder”.
Segundo Bocayuva, conceitualmente, a necropolítica é o regime em que “o medo e a crueldade se tornam dispositivos de governo”. No caso do Rio, o “narcoterrorismo” fornece a gramática perfeita para que o governo adote a violência extrema nos confrontos com os traficantes, num contexto de guerra aberta na qual não há “suspeitos” nem “cidadãos em conflito com a lei”: são inimigos mesmo, que precisam ser fisicamente eliminados, em confrontos diretos e, muitas vezes, execuções sumárias. Com amplo apoio popular, é uma forma de combate que elimina qualquer possibilidade de direito.
O balanço da Defensoria Pública do Rio de Janeiro não deixa dúvida do êxito da operação, do ponto de vista da letalidade: 117 civis mortos para quatro agentes do Estado. Para o governador, só há quatro vítimas — os policiais. As outras mortes são tratadas como estatísticas colaterais, sem direitos a serem preservados. É a tradução literal da necropolítica: o Estado não apenas mata, mas escolhe quem merece ser chorado.
Bocayuva chama isso de “cartografia da morte” — uma geografia social em que o território periférico e o corpo negro são administrados como zonas de exceção. A militarização urbana, a naturalização da crueldade e a ausência de políticas de memória e reparação formam o tripé desse poder necropolítico.
Enquanto Castro exibia orgulho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reagiu com perplexidade e indignação. Em viagem oficial ao Sudeste Asiático, foi informado da operação apenas ao retornar ao Brasil. Reuniu-se de emergência com seus ministros, “estarrecido” com o número de mortos e com o fato de o governo federal não ter sido avisado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, foi enviado ao Rio para acompanhar a crise e cobrar explicações.
O contraste entre o discurso de Castro e a reação de Lula simboliza duas concepções opostas de Estado: uma que se ancora na lógica da exceção, outra na Constituição de 1988. Quando o governador diz “ou soma no combate à criminalidade ou suma”, ele não apenas desafia o governo federal — nega a própria ideia de política como espaço de mediação, substituindo o diálogo pela força. Por óbvio, não faz isso por acaso.
Há uma disputa no imaginário da sociedade pela bandeira de ordem, que o governo federal tenta recuperar com a PEC do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) e a nova Lei das Facções, que endurece as penas para os chefões do tráfico, ambas encalhadas na Câmara por pressão dos governadores de oposição, entre os quais Castro.
Na teoria de Achille Mbembe, autor do conceito, a necropolítica define o poder soberano como aquele que decide “quem deve morrer e quem pode viver”. No Rio, Cláudio Castro assumiu essa prerrogativa de modo explícito, revestido de legitimidade moral e linguagem popular. O “narcoterrorista” é um ser fora da lei, cuja eliminação é um ato heroico e patriótico, onde as favelas e comunidades periféricas se confundem com o campo de batalha. É o mesmo mecanismo simbólico que sustentou a guerra suja na Colômbia e a guerra perdida no México.
Letalidades e atrocidades
“A ditadura segue presente nas periferias.” A frase estava no pequeno cartaz que me fez companhia na Catedral da Sé, na noite de sábado, 25 de outubro, durante o culto inter-religioso em memória dos 50 anos do assassinato de Vladimir Herzog. Era um cartaz em papel bem firme, plastificado, quase do tamanho de uma página de jornal como este aqui. De um lado, trazia a foto de Manoel Fiel Filho, o metalúrgico alagoano que foi morto em 1976 pela repressão política da ditadura. Do outro lado, as palavras certeiras sobre a presença destrutiva da violência policial nos bairros mais pobres das metrópoles brasileiras.
Eu levantei o retrato muitas vezes durante o culto. Sempre que um discurso lembrava os desaparecidos ou um dos que tombaram sob tortura, como o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manoel Fiel Filho, eu o erguia. Dezenas de outras pessoas presentes, com pôsteres estampados com outros rostos, também elevavam os seus. O efeito cênico se traduzia em comunicação didática e expressão política: a História existe quando dela não nos esquecemos – e, se dela não nos esquecemos, sabemos tecer o presente. Fora disso, o que resta é a selva. A memória dos crimes perpetrados pelo arbítrio que varreu o País há 50 anos nos ajuda a vencer aqueles que querem reeditá-lo. Por isso dizemos: ditadura, nunca mais.
O problema é que persistem entre nós, até hoje, resquícios da violência de Estado. Voltemos os olhos na direção das periferias.
Anteontem, na terça-feira, a chamada “megaoperação” policial que varreu os complexos do Alemão e da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, a pretexto de combater as atividades criminosas do Comando Vermelho, deixou um saldo tenebroso. Na noite de terça, a contagem oficial chegava a 64 mortes. Quatro das vítimas eram policiais em serviço. Ontem, quando fechei este artigo, o cômputo tinha dobrado, batendo na casa dos 128. Diante da tragédia em progressão, o jornalista Jamil Chade observou: no mesmo dia, morreram em Gaza 104 pessoas.
Todos esses óbitos são inaceitáveis, sob qualquer aspecto, mas a cifra carioca, neste momento, estarrece mais. O Rio é uma cidade em paz, ao menos em tese. No entanto, quem mora em algumas comunidades vive sob permanente estado de terror. Não há outra palavra: estado de terror. Pior ainda, um estado de terror cujo pavio pode ser aceso pela autoridade pública. Pensemos um pouco sobre o que aconteceu na terça-feira. A fúria dos infernos só desabou sobre o chão, daquele jeito, porque as tropas do governo do Estado, com sua movimentação estabanada e sua descoordenação estapafúrdia, precipitaram o caos. As mortes foram causadas diretamente pelos agentes da lei.
Como interpretar o que houve? O que se passa na cabeça dos governantes? Será que não levam em conta as pessoas que moram naquilo que elas tomam como seu teatro de guerra eleitoreira? A autoridade não pensa na segurança de sua gente quando despeja seus soldados espetaculosos e ineficientes sobre as ruelas?
É a inversão total: no Rio de Janeiro dos nossos dias, a farda e os coturnos deflagram o morticínio, em vez de impedi-lo. A frase do cartaz que eu segurava foi, uma vez mais, comprovada pelos fatos: nas periferias, o terror é a lei.
Mas não só nas periferias. Se é assim nas periferias, é assim necessariamente na cidade inteira. É assim não só porque as aulas em toda parte tiveram de ser interrompidas, não só porque o comércio foi fechado e as igrejas baixaram os seus portões de ferro. É assim não só porque uma bala perdida alcança corpos além das fronteiras de classe. É assim, também e principalmente, porque ninguém está a salvo na metrópole se as maiorias podem ser fuziladas a qualquer momento.
Até quando vamos sustentar a ilusão macabra de que um país pode se dividir em dois regimes sem se perder de si mesmo? Ou o Brasil é um só, com direitos iguais para todo mundo, ou não será Brasil nenhum. Ou paramos com esta doença de acreditar que os direitos dos de cima têm precedência sobre os direitos dos de baixo, ou nunca chegaremos a um Estado democrático.
Onde o poder público descuida da integridade física dos mais pobres, o regime democrático não passa de uma fachada de papelão esburacada por tiros, chamuscada por pólvora queimada e borrifada de sangue. Onde o governante despreza a vida de sua gente, o que existe é um antipoder público ou um poder antipúblico: uma extensão descarada do crime, não mais uma construção do espírito.
Repito o número: 128 mortos. Na conta estão os que não tiveram direito a julgamento e os inocentes que iam trabalhar, que passeavam na calçada, que queriam comprar um cigarro. No território onde faleceram não há democracia.
A repercussão na imprensa internacional é a pior possível. Ainda bem. A indignação do mundo, nesta hora, só nos ajuda. Este governo que chacina seu povo, esfacela os fundamentos da cultura democrática e reforça o império da violência ditatorial, este governo que se comporta como um bando de extermínio terá de responder por seus atos. Enquanto isso, a lógica da ditadura marca presença.
Eu levantei o retrato muitas vezes durante o culto. Sempre que um discurso lembrava os desaparecidos ou um dos que tombaram sob tortura, como o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manoel Fiel Filho, eu o erguia. Dezenas de outras pessoas presentes, com pôsteres estampados com outros rostos, também elevavam os seus. O efeito cênico se traduzia em comunicação didática e expressão política: a História existe quando dela não nos esquecemos – e, se dela não nos esquecemos, sabemos tecer o presente. Fora disso, o que resta é a selva. A memória dos crimes perpetrados pelo arbítrio que varreu o País há 50 anos nos ajuda a vencer aqueles que querem reeditá-lo. Por isso dizemos: ditadura, nunca mais.
O problema é que persistem entre nós, até hoje, resquícios da violência de Estado. Voltemos os olhos na direção das periferias.
Anteontem, na terça-feira, a chamada “megaoperação” policial que varreu os complexos do Alemão e da Penha, na cidade do Rio de Janeiro, a pretexto de combater as atividades criminosas do Comando Vermelho, deixou um saldo tenebroso. Na noite de terça, a contagem oficial chegava a 64 mortes. Quatro das vítimas eram policiais em serviço. Ontem, quando fechei este artigo, o cômputo tinha dobrado, batendo na casa dos 128. Diante da tragédia em progressão, o jornalista Jamil Chade observou: no mesmo dia, morreram em Gaza 104 pessoas.
Todos esses óbitos são inaceitáveis, sob qualquer aspecto, mas a cifra carioca, neste momento, estarrece mais. O Rio é uma cidade em paz, ao menos em tese. No entanto, quem mora em algumas comunidades vive sob permanente estado de terror. Não há outra palavra: estado de terror. Pior ainda, um estado de terror cujo pavio pode ser aceso pela autoridade pública. Pensemos um pouco sobre o que aconteceu na terça-feira. A fúria dos infernos só desabou sobre o chão, daquele jeito, porque as tropas do governo do Estado, com sua movimentação estabanada e sua descoordenação estapafúrdia, precipitaram o caos. As mortes foram causadas diretamente pelos agentes da lei.
Como interpretar o que houve? O que se passa na cabeça dos governantes? Será que não levam em conta as pessoas que moram naquilo que elas tomam como seu teatro de guerra eleitoreira? A autoridade não pensa na segurança de sua gente quando despeja seus soldados espetaculosos e ineficientes sobre as ruelas?
É a inversão total: no Rio de Janeiro dos nossos dias, a farda e os coturnos deflagram o morticínio, em vez de impedi-lo. A frase do cartaz que eu segurava foi, uma vez mais, comprovada pelos fatos: nas periferias, o terror é a lei.
Mas não só nas periferias. Se é assim nas periferias, é assim necessariamente na cidade inteira. É assim não só porque as aulas em toda parte tiveram de ser interrompidas, não só porque o comércio foi fechado e as igrejas baixaram os seus portões de ferro. É assim não só porque uma bala perdida alcança corpos além das fronteiras de classe. É assim, também e principalmente, porque ninguém está a salvo na metrópole se as maiorias podem ser fuziladas a qualquer momento.
Até quando vamos sustentar a ilusão macabra de que um país pode se dividir em dois regimes sem se perder de si mesmo? Ou o Brasil é um só, com direitos iguais para todo mundo, ou não será Brasil nenhum. Ou paramos com esta doença de acreditar que os direitos dos de cima têm precedência sobre os direitos dos de baixo, ou nunca chegaremos a um Estado democrático.
Onde o poder público descuida da integridade física dos mais pobres, o regime democrático não passa de uma fachada de papelão esburacada por tiros, chamuscada por pólvora queimada e borrifada de sangue. Onde o governante despreza a vida de sua gente, o que existe é um antipoder público ou um poder antipúblico: uma extensão descarada do crime, não mais uma construção do espírito.
Repito o número: 128 mortos. Na conta estão os que não tiveram direito a julgamento e os inocentes que iam trabalhar, que passeavam na calçada, que queriam comprar um cigarro. No território onde faleceram não há democracia.
A repercussão na imprensa internacional é a pior possível. Ainda bem. A indignação do mundo, nesta hora, só nos ajuda. Este governo que chacina seu povo, esfacela os fundamentos da cultura democrática e reforça o império da violência ditatorial, este governo que se comporta como um bando de extermínio terá de responder por seus atos. Enquanto isso, a lógica da ditadura marca presença.
Amanhã a babá não trabalha
Amanhã a babá não trabalha.
Talvez o motorista também falte.
E, por algumas horas, os moradores dos condomínios de luxo do Rio de Janeiro talvez percebam – não o luto, mas o incômodo logístico – causado pela chacina de hoje. Mais de cem pessoas mortas nas favelas. Quatro policiais também. A tragédia é noticiada em letras minúsculas. Nas coberturas à beira–mar, a vida segue, porque o sangue derramado não mancha o piso de mármore.
A favela sangra, e o país finge normalidade.
A ONU se disse horrorizada com a letalidade da operação, mas o Estado brasileiro parece anestesiado pela crença perversa de que “combate ao tráfico” é sinônimo de “licença para matar”.
O discurso oficial fala em “segurança pública”. A Constituição, no artigo 144, também fala: diz que a segurança é dever do Estado e direito de todos, e que sua finalidade é proteger pessoas e patrimônio.
Mas, nas vielas, o que se protege é o medo. E o que se patrimonializa é a morte.
É nas favelas que a polícia entra atirando, e é nas favelas que o Estado faz o luto coletivo parecer rotina.
Mas é nos condomínios de luxo que o crime se recicla, se financia, se protege.
As grandes apreensões de armas, as investigações de lavagem de dinheiro, as conexões entre milícias e políticos não se dão nas lajes, estão nos andares altos, nas contas bancárias discretas, nos contratos públicos e privados que alimentam a engrenagem.
O dinheiro do tráfico tem endereço fiscal, não geográfico.
E quase nunca esse endereço é uma favela.
A Constituição garante, no artigo 5º, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, e que a vida é inviolável.
Mas o Estado escolhe quem é “todos” e quem é exceção.
Há brasileiros com direito à investigação e brasileiros com direito à bala.
Há territórios onde o Estado só chega quando decide matar.
E há outros, protegidos por muros e blindagens, onde ele nunca ousa entrar.
Chamar de “operação policial” o que é uma execução coletiva é um eufemismo que serve para limpar a consciência de quem aperta o gatilho e de quem o financia.
A elite brasileira segue acreditando que a violência é um problema de quem morre, não de quem lucra com o medo.
E, por isso, amanhã a babá não trabalha, e talvez isso gere algum desconforto.
Mas ninguém perguntará o nome das mulheres mortas, das crianças traumatizadas, dos corpos que desapareceram entre helicópteros e blindados.
O Estado que mata não é apenas violento, é inconstitucional.
Fere o artigo 1º, que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República.
Viola o artigo 3º, que impõe a erradicação da pobreza e da marginalização como objetivo nacional. E trai o artigo 5º, que garante a inviolabilidade da vida.
Cada incursão militar nas favelas é, juridicamente, uma suspensão temporária da Constituição.
É o Estado declarando guerra contra parte de seu próprio povo.
O Brasil é um país onde a desigualdade tem endereço e a morte tem CEP.
Enquanto o asfalto debate “segurança”, o morro enterra filhos.
Enquanto a elite posta indignação seletiva nas redes sociais, mães de periferia lavam o chão do sangue.
O que se chama de “combate ao tráfico” é, na prática, o combate à favela.
E o verdadeiro tráfico, o de armas, de influência, de dinheiro público, permanece intocado, protegido por sobrenomes e escritórios de advocacia de alto padrão.
Amanhã a babá não trabalha.
E talvez, no incômodo passageiro de quem terá de levar os próprios filhos à escola, o Brasil perceba o que sempre se recusou a enxergar: a vida na favela vale menos porque o Estado assim decidiu.
E enquanto não decidirmos o contrário, não haverá Constituição que nos salve da barbárie.
Talvez o motorista também falte.
E, por algumas horas, os moradores dos condomínios de luxo do Rio de Janeiro talvez percebam – não o luto, mas o incômodo logístico – causado pela chacina de hoje. Mais de cem pessoas mortas nas favelas. Quatro policiais também. A tragédia é noticiada em letras minúsculas. Nas coberturas à beira–mar, a vida segue, porque o sangue derramado não mancha o piso de mármore.
A favela sangra, e o país finge normalidade.
A ONU se disse horrorizada com a letalidade da operação, mas o Estado brasileiro parece anestesiado pela crença perversa de que “combate ao tráfico” é sinônimo de “licença para matar”.
O discurso oficial fala em “segurança pública”. A Constituição, no artigo 144, também fala: diz que a segurança é dever do Estado e direito de todos, e que sua finalidade é proteger pessoas e patrimônio.
Mas, nas vielas, o que se protege é o medo. E o que se patrimonializa é a morte.
É nas favelas que a polícia entra atirando, e é nas favelas que o Estado faz o luto coletivo parecer rotina.
Mas é nos condomínios de luxo que o crime se recicla, se financia, se protege.
As grandes apreensões de armas, as investigações de lavagem de dinheiro, as conexões entre milícias e políticos não se dão nas lajes, estão nos andares altos, nas contas bancárias discretas, nos contratos públicos e privados que alimentam a engrenagem.
O dinheiro do tráfico tem endereço fiscal, não geográfico.
E quase nunca esse endereço é uma favela.
A Constituição garante, no artigo 5º, que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”, e que a vida é inviolável.
Mas o Estado escolhe quem é “todos” e quem é exceção.
Há brasileiros com direito à investigação e brasileiros com direito à bala.
Há territórios onde o Estado só chega quando decide matar.
E há outros, protegidos por muros e blindagens, onde ele nunca ousa entrar.
Chamar de “operação policial” o que é uma execução coletiva é um eufemismo que serve para limpar a consciência de quem aperta o gatilho e de quem o financia.
A elite brasileira segue acreditando que a violência é um problema de quem morre, não de quem lucra com o medo.
E, por isso, amanhã a babá não trabalha, e talvez isso gere algum desconforto.
Mas ninguém perguntará o nome das mulheres mortas, das crianças traumatizadas, dos corpos que desapareceram entre helicópteros e blindados.
O Estado que mata não é apenas violento, é inconstitucional.
Fere o artigo 1º, que estabelece a dignidade da pessoa humana como fundamento da República.
Viola o artigo 3º, que impõe a erradicação da pobreza e da marginalização como objetivo nacional. E trai o artigo 5º, que garante a inviolabilidade da vida.
Cada incursão militar nas favelas é, juridicamente, uma suspensão temporária da Constituição.
É o Estado declarando guerra contra parte de seu próprio povo.
O Brasil é um país onde a desigualdade tem endereço e a morte tem CEP.
Enquanto o asfalto debate “segurança”, o morro enterra filhos.
Enquanto a elite posta indignação seletiva nas redes sociais, mães de periferia lavam o chão do sangue.
O que se chama de “combate ao tráfico” é, na prática, o combate à favela.
E o verdadeiro tráfico, o de armas, de influência, de dinheiro público, permanece intocado, protegido por sobrenomes e escritórios de advocacia de alto padrão.
Amanhã a babá não trabalha.
E talvez, no incômodo passageiro de quem terá de levar os próprios filhos à escola, o Brasil perceba o que sempre se recusou a enxergar: a vida na favela vale menos porque o Estado assim decidiu.
E enquanto não decidirmos o contrário, não haverá Constituição que nos salve da barbárie.
quarta-feira, 29 de outubro de 2025
Capitalismo autofágico
Não nascem notas de dinheiro ao jogar na terra moedas de centavos. O capital não é produzido dessa forma, aliás, o capital não é criado no vácuo ou a partir da natureza, mesmo que seu lastro seja feito a partir de metais preciosos. Gurus neoliberais insistem no acúmulo de riqueza a partir da produção de renda como resultado de fórmulas e constructos ocos. Devaneiam, como se ser rico fosse um quinhão para aqueles com a mente treinada para tal destino. Nessa tese, não há finitude para o capital, pois sua capacidade de multiplicação é autônoma e constante desde que haja um processo incessante de trabalho.
Ao olhar para sua terra, o agricultor de moedas verá que o capitalismo é árido. Não basta trabalho e, muito menos, mente milionária para a prosperidade de sua renda. A finitude do capital está altamente concentrada em poucas mãos, enquanto muitos se acotovelam para sobreviver com a menor parte. É como se alguns tivessem um latifúndio florido enquanto poucos sobrevivem com um vaso de planta murcha.
Tal concentração é um sinal claro que o capital é finito, portanto, sua produção está baseada em como é possível circular moeda no mercado a partir de necessidades e desejos de uma demanda localizada. Mas há um contrassenso, pois isso não explicaria o aumento gradual de capital dos mais ricos. Se o capital é finito e sua criação não é natural, como os mais ricos aumentam suas fortunas dia após dia?
Anselm Jappe, em seu livro A Sociedade Autofágica – capitalismo, desmesura e autodestruição, descreve o mito de Erisícton logo nas primeiras páginas. Presente na mitologia grega, a alegoria conta que Erisícton era rei da Tessália abate uma árvore sagrada para usá-la em uma construção de seu palácio. Deméter, deusa das colheitas, emprega-lhe um castigo: uma fome insaciável. Assim, Erisícton, passa a devorar tudo que via ao seu redor, inclusive a própria natureza e seu reino e, não satisfeito, passa a comer a si mesmo.
Evidentemente, aqui está uma representação do modus operandi capitalista em sua insaciável fome que resulta na alimentação de trabalho e, de forma intrínseca, mais-valor. Para além disso, em uma sociedade que transforma tudo – desde hábitos, labor, necessidades e até psiquê – em mercadorias, tudo aquilo que está presente é passível de alimentar o Erisícton capitalista. Assim, quase tudo que se acumula é devorado, o que não pode ser, é alijado, se houver aquilo que não é capaz de ser mercantilizado.
Todo esse arranjo não é diferente daquilo compreendido por Metabolismo Social, idealizado por Marx. Antes, a dicotomia sociedade/natureza poderia ser vista como uma simbiose a partir dos fluxos de matéria e energia estabelecidos entre a biosfera e a economia, de acordo com Daniel Jeziorny. Nesse sentido, o humano é um agente produtor, que extrai matéria da natureza, a transforma em mercadoria e a devolve em forma de lixo. Porém, na atual fase do capitalismo, o humano vai além e explora a si e mercantiliza aquilo que está em seu íntimo.
Esse fenômeno é possível de ser observado na algoritmização, que explora dados extraídos dos comportamentos – e até pensamentos – daqueles que estão inseridos nessa formatação capitalista. Na vigilância constante de indivíduos, o capitalismo vem se alimentando daquilo que é pessoal e íntimo, como o sono, atividade física e até amostras de DNA.
Percebe-se que a partir do dilema da finitude do capital, a orientação é que se busque alternativas para a mercantilização. Não há um caminho para a produção de mais capital mas há possibilidades para novos arranjos de extração, ou seja, há uma construção para que o capitalismo se alimente de si.
É dessa forma que os indivíduos no topo da pirâmide têm a possibilidade de acúmulo diferentes daqueles que estão na base, pois eles se alimentam, justamente, dos que estão abaixo. Incapazes de produzir mais capital, a alternativa é se alimentar da riqueza daqueles que estão mais vulneráveis.
O trabalho passa a não ser a única forma de gerar mais riqueza aos burgueses, os proletários passam a ser mercantilizados em outras esferas. Por exemplo, o carro do motorista do Uber passa a pertencer, por alguns períodos, à empresa, que por sua vez é capaz de extrair mais informações sobre esse trabalhador e do passageiro. Esses dados são compilados com outros de tantas outras fontes e que somados geram uma mercadoria a ser vendida e exploradas por diferentes empresas.
Ao predar a si, o capitalismo tem como grande objetivo, concentrar ainda mais riqueza em poucas mãos. Isso pode ser visto, por exemplo, quando a fortuna de Musk cresce mais de 700% após a Pandemia de Covid-19. No mesmo período, de acordo com a Oxfam, a riqueza dos cinco maiores bilionários dobrou desde 2020, isso enquanto houve aumento de pobreza e extrema pobreza no mundo.
Os movimentos de contração na base e de expansão no topo mostram que o capital tem sua finitude e uma restrita capacidade de fluidez, em que há pouca (ou nenhuma) circulação na base e uma drenagem para o topo. O oposto não seria um processo autofágico e sim, uma distribuição nutricional equânime desse organismo econômico-social.
Portanto, a dinâmica da desigualdade é uma resposta ao comportamento autofágico do capitalismo, que estará sempre vista no recrudescimento das fortunas dos mais abastados. Obviamente, o aumento de riqueza jamais será através de trabalho ou de produção de capital e sim, pela alimentação da base. Diante da finitude do capital, o banquete será a mercantilização da classe trabalhadora.
Ao olhar para sua terra, o agricultor de moedas verá que o capitalismo é árido. Não basta trabalho e, muito menos, mente milionária para a prosperidade de sua renda. A finitude do capital está altamente concentrada em poucas mãos, enquanto muitos se acotovelam para sobreviver com a menor parte. É como se alguns tivessem um latifúndio florido enquanto poucos sobrevivem com um vaso de planta murcha.
Tal concentração é um sinal claro que o capital é finito, portanto, sua produção está baseada em como é possível circular moeda no mercado a partir de necessidades e desejos de uma demanda localizada. Mas há um contrassenso, pois isso não explicaria o aumento gradual de capital dos mais ricos. Se o capital é finito e sua criação não é natural, como os mais ricos aumentam suas fortunas dia após dia?
Anselm Jappe, em seu livro A Sociedade Autofágica – capitalismo, desmesura e autodestruição, descreve o mito de Erisícton logo nas primeiras páginas. Presente na mitologia grega, a alegoria conta que Erisícton era rei da Tessália abate uma árvore sagrada para usá-la em uma construção de seu palácio. Deméter, deusa das colheitas, emprega-lhe um castigo: uma fome insaciável. Assim, Erisícton, passa a devorar tudo que via ao seu redor, inclusive a própria natureza e seu reino e, não satisfeito, passa a comer a si mesmo.
Evidentemente, aqui está uma representação do modus operandi capitalista em sua insaciável fome que resulta na alimentação de trabalho e, de forma intrínseca, mais-valor. Para além disso, em uma sociedade que transforma tudo – desde hábitos, labor, necessidades e até psiquê – em mercadorias, tudo aquilo que está presente é passível de alimentar o Erisícton capitalista. Assim, quase tudo que se acumula é devorado, o que não pode ser, é alijado, se houver aquilo que não é capaz de ser mercantilizado.
Todo esse arranjo não é diferente daquilo compreendido por Metabolismo Social, idealizado por Marx. Antes, a dicotomia sociedade/natureza poderia ser vista como uma simbiose a partir dos fluxos de matéria e energia estabelecidos entre a biosfera e a economia, de acordo com Daniel Jeziorny. Nesse sentido, o humano é um agente produtor, que extrai matéria da natureza, a transforma em mercadoria e a devolve em forma de lixo. Porém, na atual fase do capitalismo, o humano vai além e explora a si e mercantiliza aquilo que está em seu íntimo.
Esse fenômeno é possível de ser observado na algoritmização, que explora dados extraídos dos comportamentos – e até pensamentos – daqueles que estão inseridos nessa formatação capitalista. Na vigilância constante de indivíduos, o capitalismo vem se alimentando daquilo que é pessoal e íntimo, como o sono, atividade física e até amostras de DNA.
Percebe-se que a partir do dilema da finitude do capital, a orientação é que se busque alternativas para a mercantilização. Não há um caminho para a produção de mais capital mas há possibilidades para novos arranjos de extração, ou seja, há uma construção para que o capitalismo se alimente de si.
É dessa forma que os indivíduos no topo da pirâmide têm a possibilidade de acúmulo diferentes daqueles que estão na base, pois eles se alimentam, justamente, dos que estão abaixo. Incapazes de produzir mais capital, a alternativa é se alimentar da riqueza daqueles que estão mais vulneráveis.
O trabalho passa a não ser a única forma de gerar mais riqueza aos burgueses, os proletários passam a ser mercantilizados em outras esferas. Por exemplo, o carro do motorista do Uber passa a pertencer, por alguns períodos, à empresa, que por sua vez é capaz de extrair mais informações sobre esse trabalhador e do passageiro. Esses dados são compilados com outros de tantas outras fontes e que somados geram uma mercadoria a ser vendida e exploradas por diferentes empresas.
Ao predar a si, o capitalismo tem como grande objetivo, concentrar ainda mais riqueza em poucas mãos. Isso pode ser visto, por exemplo, quando a fortuna de Musk cresce mais de 700% após a Pandemia de Covid-19. No mesmo período, de acordo com a Oxfam, a riqueza dos cinco maiores bilionários dobrou desde 2020, isso enquanto houve aumento de pobreza e extrema pobreza no mundo.
Os movimentos de contração na base e de expansão no topo mostram que o capital tem sua finitude e uma restrita capacidade de fluidez, em que há pouca (ou nenhuma) circulação na base e uma drenagem para o topo. O oposto não seria um processo autofágico e sim, uma distribuição nutricional equânime desse organismo econômico-social.
Portanto, a dinâmica da desigualdade é uma resposta ao comportamento autofágico do capitalismo, que estará sempre vista no recrudescimento das fortunas dos mais abastados. Obviamente, o aumento de riqueza jamais será através de trabalho ou de produção de capital e sim, pela alimentação da base. Diante da finitude do capital, o banquete será a mercantilização da classe trabalhadora.
Dia da Memória das Vítimas da Corrupção
Ao criar o Dia da Memória das Vítimas do Comunismo, o governador do Distrito Federal se refere, provavelmente, às vítimas do regime comunista da antiga União Soviética, que desapareceram há quase meio século. Não está considerando as vítimas da Rússia capitalista na Ucrânia, nem os 6 milhões — quase todos judeus — mortos pelo regime de direita nazista na Alemanha. Tampouco considera os 1.700 israelenses mortos e os cerca de 300 sequestrados, vítimas do terrorismo do Hamas, nem os 70 mil mortos e condenados à fome por Israel no gueto de Gaza. Ainda menos, não leva em conta as dezenas de milhares de presos, torturados, exilados ou os mortos pela ditadura militar de direita capitalista no Brasil.
É estranho criar um dia para lembrar as vítimas do comunismo na União Soviética quando, no Brasil, os comunistas sempre foram as vítimas — nos 10 anos do Estado Novo e nos 21 anos da ditadura militar —, sem promover um dia em memória das vítimas passadas do regime militar e das vítimas da corrupção em nosso regime democrático.
Seria justo decretar um dia de memória pelos 400 mil mortos que teriam sobrevivido à covid-19 se o presidente daquela época tivesse o mínimo de sensibilidade e competência — em vez do escárnio e da estupidez com que tratou os doentes e seus familiares, recusando vacinas, zombando dos mortos, chamando-os de fracos.
O governador lembrou-se de vítimas do comunismo na finada URSS, mas não teve consideração pela memória dos brasileiros que enfrentam a tragédia da saúde pública no DF, provocada pela inoperância e pela corrupção. Apesar dos bilhões transferidos anualmente ao GDF pelo resto do Brasil, pela primeira vez na história há brasilienses indo buscar atendimento na rede pública de Goiás, porque não encontram tratamento dentro do nosso quadrilátero. É preciso um dia de memória para os que são obrigados a esse percurso e para os que sentem vergonha do estado em que a incompetência, o descuido e a corrupção deixaram o que antes era exemplo de excelência no sistema público de saúde do Brasil, com o programa Saúde em Casa.
Deveríamos ter um dia de memória para as crianças que morreram por descuido com a saúde e com a segurança da população. Nenhum dia foi proposto em homenagem às crianças assassinadas — como ocorreu com Isaac Vilhena, morto no último dia 17, aos 16 anos, entre as quadras 112 e 113 Sul. O governo do DF não sancionou uma lei criando o dia da memória dos 4 milhões de escravizados trazidos da África, nem dos nascidos no Brasil, transportados por nove meses no ventre de suas mães, tampouco de seus descendentes, que até hoje estudam em escolas-senzala. Não decretou um dia em memória dos 20 a 30 milhões de brasileiros que viveram e morreram sem saber ler e escrever devido ao descaso histórico de nossos governantes com a educação de nosso povo. Nem pensou em lembrar dos que morreram de fome em país exportador de alimentos.
Somadas ao longo da história, o número de vítimas da corrupção — seja pela escolha errada de prioridades nas políticas públicas, seja pelo comportamento dos políticos que roubam em vez de cuidar do povo — é maior do que das vítimas dos crimes do comunismo em terras distantes e tempos passados.
Devemos lembrar as incontáveis vítimas de doenças e mortes decorrentes da ausência de saneamento, por descuido, incompetência e corrupção que desviam verbas públicas; também as vítimas da falta de remédios e de equipamentos hospitalares; e as vítimas morais — os habitantes do DF envergonhados com a imagem, no dia 8 de janeiro de 2023, da inoperância de nossa segurança pública, incapaz de evitar a depredação dos prédios que simbolizam a democracia. Vergonha por não sabermos se o governo daquele momento foi incompetente ou se participou da tentativa de golpe, levando o secretário de Segurança e integrantes da nossa gloriosa Polícia Militar a perderem suas carreiras e serem condenados à prisão, enquanto seus superiores são inocentados.
Não se trata de discutir se as vítimas distantes do comunismo merecem ser lembradas no DF, mas de denunciar a hipocrisia derivada da embriaguez eleitoral de quem quer agradar aos golpistas. Precisamos de um Dia da Memória das Vítimas de Governos Locais Incompetentes, Corruptos e Embriagados Eleitorais. Uma data apropriada seria o 8 de Janeiro, dia da nossa vergonha — com os que mostraram a cara no golpe e com aqueles que se esconderam, jogando a culpa em subordinados.
É estranho criar um dia para lembrar as vítimas do comunismo na União Soviética quando, no Brasil, os comunistas sempre foram as vítimas — nos 10 anos do Estado Novo e nos 21 anos da ditadura militar —, sem promover um dia em memória das vítimas passadas do regime militar e das vítimas da corrupção em nosso regime democrático.
Seria justo decretar um dia de memória pelos 400 mil mortos que teriam sobrevivido à covid-19 se o presidente daquela época tivesse o mínimo de sensibilidade e competência — em vez do escárnio e da estupidez com que tratou os doentes e seus familiares, recusando vacinas, zombando dos mortos, chamando-os de fracos.
O governador lembrou-se de vítimas do comunismo na finada URSS, mas não teve consideração pela memória dos brasileiros que enfrentam a tragédia da saúde pública no DF, provocada pela inoperância e pela corrupção. Apesar dos bilhões transferidos anualmente ao GDF pelo resto do Brasil, pela primeira vez na história há brasilienses indo buscar atendimento na rede pública de Goiás, porque não encontram tratamento dentro do nosso quadrilátero. É preciso um dia de memória para os que são obrigados a esse percurso e para os que sentem vergonha do estado em que a incompetência, o descuido e a corrupção deixaram o que antes era exemplo de excelência no sistema público de saúde do Brasil, com o programa Saúde em Casa.
Deveríamos ter um dia de memória para as crianças que morreram por descuido com a saúde e com a segurança da população. Nenhum dia foi proposto em homenagem às crianças assassinadas — como ocorreu com Isaac Vilhena, morto no último dia 17, aos 16 anos, entre as quadras 112 e 113 Sul. O governo do DF não sancionou uma lei criando o dia da memória dos 4 milhões de escravizados trazidos da África, nem dos nascidos no Brasil, transportados por nove meses no ventre de suas mães, tampouco de seus descendentes, que até hoje estudam em escolas-senzala. Não decretou um dia em memória dos 20 a 30 milhões de brasileiros que viveram e morreram sem saber ler e escrever devido ao descaso histórico de nossos governantes com a educação de nosso povo. Nem pensou em lembrar dos que morreram de fome em país exportador de alimentos.
Somadas ao longo da história, o número de vítimas da corrupção — seja pela escolha errada de prioridades nas políticas públicas, seja pelo comportamento dos políticos que roubam em vez de cuidar do povo — é maior do que das vítimas dos crimes do comunismo em terras distantes e tempos passados.
Devemos lembrar as incontáveis vítimas de doenças e mortes decorrentes da ausência de saneamento, por descuido, incompetência e corrupção que desviam verbas públicas; também as vítimas da falta de remédios e de equipamentos hospitalares; e as vítimas morais — os habitantes do DF envergonhados com a imagem, no dia 8 de janeiro de 2023, da inoperância de nossa segurança pública, incapaz de evitar a depredação dos prédios que simbolizam a democracia. Vergonha por não sabermos se o governo daquele momento foi incompetente ou se participou da tentativa de golpe, levando o secretário de Segurança e integrantes da nossa gloriosa Polícia Militar a perderem suas carreiras e serem condenados à prisão, enquanto seus superiores são inocentados.
Não se trata de discutir se as vítimas distantes do comunismo merecem ser lembradas no DF, mas de denunciar a hipocrisia derivada da embriaguez eleitoral de quem quer agradar aos golpistas. Precisamos de um Dia da Memória das Vítimas de Governos Locais Incompetentes, Corruptos e Embriagados Eleitorais. Uma data apropriada seria o 8 de Janeiro, dia da nossa vergonha — com os que mostraram a cara no golpe e com aqueles que se esconderam, jogando a culpa em subordinados.
Reconciliar as reivindicações do homem
A educação atual e as atuais conveniências sociais premeiam o cidadão e imolam o homem. Nas condições modernas, os seres humanos vêm a ser identificados com as suas capacidades socialmente valiosas. A existência do resto da personalidade ou é ignorada ou, se admitida, é admitida somente para ser deplorada, reprimida ou, se a repressão falhar, sub-repticiamente rebuscada. Sobre todas as tendências humanas que não conduzem à boa cidadania, a moralidade e a tradição social pronunciam uma sentença de banimento. Três quartas partes do Homem são proscritas. O proscrito vive revoltado e comete vinganças estranhas. Quando os homens são criados para serem cidadãos e nada mais, tornam-se, primeiro, em homens imperfeitos e depois em homens indesejáveis.
A insistência nas qualidades socialmente valiosas da personalidade, com exclusão de todas as outras, derrota finalmente os seus próprios fins. O atual desassossego, descontentamento e incerteza de propósitos testemunham a veracidade disto. Tentamos fazer homens bons cidadãos de estados industriais altamente organizados: só conseguimos produzir uma colheita de especialistas, cujo descontentamento em não serem autorizados a ser homens completos faz deles cidadãos extremamente maus. Há toda a razão para supor que o mundo se tornará ainda mais completamente tecnicizado, ainda mais complicadamente arregimentado do que é presentemente; que graus cada vez mais elevados de especialização serão requeridos dos homens e mulheres individuais. O problema de reconciliar as reivindicações do homem e do cidadão tornar-se-á cada vez mais agudo. A solução desse problema será uma das principais tarefas da educação futura. Se irá ter êxito, e até mesmo se o êxito é possível, somente o evento poderá decidir.
Aldous Huxley, "Sobre a democracia e outros estudos"
A insistência nas qualidades socialmente valiosas da personalidade, com exclusão de todas as outras, derrota finalmente os seus próprios fins. O atual desassossego, descontentamento e incerteza de propósitos testemunham a veracidade disto. Tentamos fazer homens bons cidadãos de estados industriais altamente organizados: só conseguimos produzir uma colheita de especialistas, cujo descontentamento em não serem autorizados a ser homens completos faz deles cidadãos extremamente maus. Há toda a razão para supor que o mundo se tornará ainda mais completamente tecnicizado, ainda mais complicadamente arregimentado do que é presentemente; que graus cada vez mais elevados de especialização serão requeridos dos homens e mulheres individuais. O problema de reconciliar as reivindicações do homem e do cidadão tornar-se-á cada vez mais agudo. A solução desse problema será uma das principais tarefas da educação futura. Se irá ter êxito, e até mesmo se o êxito é possível, somente o evento poderá decidir.
Aldous Huxley, "Sobre a democracia e outros estudos"
Liberdade, liberdade
Predomina hoje uma concepção que restringe a ação do homem baseada somente em uma questão de escolha. Sob essa ótica, quase tudo se torna prisioneiro do mercado, dos objetos que se compra na esquina de casa ao voto exercido a cada quatro anos pelos cidadãos. Na realidade, muitas das nossas opções são impulsionadas pela busca do lucro e do poder. Segundo dados revelados pelo Instituto Federal de Tecnologia, da Suíça, apenas 147 mega corporações controlam 40% de toda a economia no mundo. Não creio ser preciso dizer muito mais. Até mesmo o exercício do voto obedece a determinadas leis da propaganda e ao controle dos mecanismos de indicação por parte de minorias encasteladas nos partidos políticos. Ou seja, o voto como mercado pura e simplesmente.
Assim, há uma imposição do mercado sob o comando do capital; essa imposição não se exerce por intermédio da força bruta do Estado necessariamente. Ainda que não se possa esquecer que fenômenos como o fascismo ou o populismo tentam fazer, mais uma vez, com que a balança pese para o lado da dominação pelo carisma do chefe, apresentado como “escolha” – vá lá – da população. Uma combinação explosiva se aproxima do nosso horizonte, reunindo imposição do mercado e imposição política.
O desgaste e o cansaço provocados por práticas que excluem a cidadania pode estar trazendo de volta a noção do chefe e do poder mantido pelo indivíduo forte, que tudo resolve e centraliza, justamente, acima das próprias instituições. Isso, com a ajuda de partidos que nada representam em matéria de lutas pela liberdade, limitando-se ao triste papel de extensão ou "puxadinho" do Estado ou até do chefe no poder. É o que nós estamos vendo ao redor do mundo.
Estou convencido de que devemos repensar a noção de liberdade, enriquecendo-a com a inclusão em seu bojo da noção de sujeito coletivo, do homem da pólis. Debater o valor da cidadania enfim. A liberdade do indivíduo não pode se restringir à liberdade individual, centrada em escolhas muitas vezes induzidas. E isso, a meu juízo, por uma razão muito forte: vivemos em sociedade, somos seres sociais, com seus direitos e também deveres. Pertencemos a um coletivo. Indivíduo não se iguala a um posicionamento individualista.
Vale dizer, a participação conta e muito. No caso brasileiro, a sociedade tem buscado ir à luta, apesar das dificuldades. Temos milhões de pessoas trabalhando por conta própria, entre as quais cerca de dez milhões de artesãos. Isso na economia. Mas, na Cultura, o mesmo fenômeno ocorre, com uma criatividade que se espalha pelos quatro cantos do país, com músicos, escritores e atores apresentando suas peças de teatro na própria rua, ao mesmo tempo que cresce o número de envolvidos na busca pela solução dos nossos graves problemas ambientais.
Ou seja, a liberdade vai se exercendo das mais diversas formas, multiplicando seus campos de atuação. Aos trancos e barrancos, mas vai, colocando cada vez mais empecilhos à continuidade de práticas que se assemelham às da chamada República Velha. Falta agora que esta liberdade atinja a área institucional, a área da representação política, e mesmo jurídica, tão necessitada de novos atores e mecanismos.
Assim, há uma imposição do mercado sob o comando do capital; essa imposição não se exerce por intermédio da força bruta do Estado necessariamente. Ainda que não se possa esquecer que fenômenos como o fascismo ou o populismo tentam fazer, mais uma vez, com que a balança pese para o lado da dominação pelo carisma do chefe, apresentado como “escolha” – vá lá – da população. Uma combinação explosiva se aproxima do nosso horizonte, reunindo imposição do mercado e imposição política.
O desgaste e o cansaço provocados por práticas que excluem a cidadania pode estar trazendo de volta a noção do chefe e do poder mantido pelo indivíduo forte, que tudo resolve e centraliza, justamente, acima das próprias instituições. Isso, com a ajuda de partidos que nada representam em matéria de lutas pela liberdade, limitando-se ao triste papel de extensão ou "puxadinho" do Estado ou até do chefe no poder. É o que nós estamos vendo ao redor do mundo.
Estou convencido de que devemos repensar a noção de liberdade, enriquecendo-a com a inclusão em seu bojo da noção de sujeito coletivo, do homem da pólis. Debater o valor da cidadania enfim. A liberdade do indivíduo não pode se restringir à liberdade individual, centrada em escolhas muitas vezes induzidas. E isso, a meu juízo, por uma razão muito forte: vivemos em sociedade, somos seres sociais, com seus direitos e também deveres. Pertencemos a um coletivo. Indivíduo não se iguala a um posicionamento individualista.
Vale dizer, a participação conta e muito. No caso brasileiro, a sociedade tem buscado ir à luta, apesar das dificuldades. Temos milhões de pessoas trabalhando por conta própria, entre as quais cerca de dez milhões de artesãos. Isso na economia. Mas, na Cultura, o mesmo fenômeno ocorre, com uma criatividade que se espalha pelos quatro cantos do país, com músicos, escritores e atores apresentando suas peças de teatro na própria rua, ao mesmo tempo que cresce o número de envolvidos na busca pela solução dos nossos graves problemas ambientais.
Ou seja, a liberdade vai se exercendo das mais diversas formas, multiplicando seus campos de atuação. Aos trancos e barrancos, mas vai, colocando cada vez mais empecilhos à continuidade de práticas que se assemelham às da chamada República Velha. Falta agora que esta liberdade atinja a área institucional, a área da representação política, e mesmo jurídica, tão necessitada de novos atores e mecanismos.
Offshore
A citação de Charlie Munger, o sócio do famoso Warren Buffett, Show me the incentive, and I’ll show you the outcome (Mostrem-me o incentivo e eu mostro-vos o resultado) foca-nos no segredo do sucesso das plataformas eletrónicas como Instagram, TikTok e YouTube.
Não se trata da inovação tecnológica ou da comodidade de acesso. O seu crescimento resulta de uma opção legislativa.
Na televisão, na rádio e na imprensa escrita, o proprietário é solidariamente responsável com o autor da peça ou do texto pelos prejuízos causados. Sendo crime, o diretor pode também ser acusado, a par de quem criou o texto ou a imagem, quando não impediu a sua publicação. Isso incentiva a um cuidado especial. Os média tradicionais têm linhas editoriais e diretores de informação que cuidam de evitar a divulgação de conteúdos que incitem ao ódio ou sejam falsos ou capazes de induzir em erro (a tão famosa “desinformação”). Como qualquer outra empresa, também as televisões, as rádios e os jornais visam o lucro, mas o risco financeiro e de processos-crime impedem práticas predadoras.
Com o intuito de promover o comércio eletrónico, optou-se por isentar as plataformas da responsabilidade pelos prejuízos causados pelos conteúdos partilhados. Um offshore, com zero de responsabilidade. O legislador não ponderou os resultados deste incentivo. Livres de qualquer responsabilidade e, tal como qualquer média tradicional, dependentes da publicidade para rentabilizar o investimento, o objetivo é ganhar audiência. Para tal há que garantir que cada um vê o máximo possível daquilo que lhe interessa. E se o conteúdo for chocante, mais interessados nos tornamos, mais nos mantemos online. Mais tempo somos “audiência”. Há por isso que desenvolver algoritmos capazes de perceber do que gostamos, o que nos vicia, para continuar a alimentar o nosso insaciável apetite. Um feed, que sempre que pegamos no telemóvel nos relembra o nosso interesse num tema, com novos conteúdos, imparável, sempre com uma nova sugestão. E assim, juntamente com o conteúdo, a mensagem publicitária que garante o lucro. Há que assegurar que se não estamos online, iremos rapidamente estar e, então, inventam-se as notificações, que nos interrompem com um toque, um tremor, uma imagem. O feitiço completa-se com o botão do like. O nosso desejo de aprovação satisfeito com um polegar que sinaliza a receção ao conteúdo que partilhámos ou criámos.
“Mostrem-me o incentivo e eu mostro-vos o resultado.” O resultado é a proliferação dos conteúdos mais extremos e chocantes, que nos criam visões distorcidas da realidade. A “realidade” no nosso telemóvel é aquilo que tememos e nos choca.
John Stuart Mill afirmava que o maior risco para a democracia era a ameaça à liberdade de pensamento e expressão. As big tech utilizam Mill, indevidamente, para se oporem a qualquer responsabilização pelos conteúdos disponíveis nas plataformas. Afinal, afirmam, se removerem conteúdos estão a violar a liberdade de expressão. O argumento é falso. Os conteúdos mais chocantes geram mais visualizações e partilhas e, como tal, mais “audiência”. E “audiência” gera vendas de publicidade. Mill acreditava que a exposição a diferentes posições permitiria rebater as opiniões falsas ou irracionais. Mas o algoritmo não alimenta o feed com prós e contras de forma equilibrada, ao invés, reforça apenas uma visão. A maior ameaça à democracia é, no século XXI, o algoritmo.
O Regulamento dos Serviços Digitais não alterou, significativamente, o regime legal em matéria de responsabilização. Mantém-se a inexistência de um dever de vigilância, e obriga-se, apenas, as plataformas a retirarem conteúdos ilegais na sequência de uma denúncia ou porque “sabem” que é ilegal. A legislação continua a ignorar que as plataformas não são passivas. Promovem a disseminação, priorizam conteúdos.
O legislador europeu não precisa de criar uma legislação específica, basta aplicar o regime da responsabilidade dos média tradicionais, sempre que as plataformas optem por promover a disseminação de um determinado conteúdo. Alterar o incentivo contribuiria para uma internet mais segura e verdadeira – onde o falso, ilegal e danoso, ao não ser prioritizado pelo algoritimo, daria lugar à informação verdadeira, que todos os dias é partilhada.
Não se trata da inovação tecnológica ou da comodidade de acesso. O seu crescimento resulta de uma opção legislativa.
Na televisão, na rádio e na imprensa escrita, o proprietário é solidariamente responsável com o autor da peça ou do texto pelos prejuízos causados. Sendo crime, o diretor pode também ser acusado, a par de quem criou o texto ou a imagem, quando não impediu a sua publicação. Isso incentiva a um cuidado especial. Os média tradicionais têm linhas editoriais e diretores de informação que cuidam de evitar a divulgação de conteúdos que incitem ao ódio ou sejam falsos ou capazes de induzir em erro (a tão famosa “desinformação”). Como qualquer outra empresa, também as televisões, as rádios e os jornais visam o lucro, mas o risco financeiro e de processos-crime impedem práticas predadoras.
Com o intuito de promover o comércio eletrónico, optou-se por isentar as plataformas da responsabilidade pelos prejuízos causados pelos conteúdos partilhados. Um offshore, com zero de responsabilidade. O legislador não ponderou os resultados deste incentivo. Livres de qualquer responsabilidade e, tal como qualquer média tradicional, dependentes da publicidade para rentabilizar o investimento, o objetivo é ganhar audiência. Para tal há que garantir que cada um vê o máximo possível daquilo que lhe interessa. E se o conteúdo for chocante, mais interessados nos tornamos, mais nos mantemos online. Mais tempo somos “audiência”. Há por isso que desenvolver algoritmos capazes de perceber do que gostamos, o que nos vicia, para continuar a alimentar o nosso insaciável apetite. Um feed, que sempre que pegamos no telemóvel nos relembra o nosso interesse num tema, com novos conteúdos, imparável, sempre com uma nova sugestão. E assim, juntamente com o conteúdo, a mensagem publicitária que garante o lucro. Há que assegurar que se não estamos online, iremos rapidamente estar e, então, inventam-se as notificações, que nos interrompem com um toque, um tremor, uma imagem. O feitiço completa-se com o botão do like. O nosso desejo de aprovação satisfeito com um polegar que sinaliza a receção ao conteúdo que partilhámos ou criámos.
“Mostrem-me o incentivo e eu mostro-vos o resultado.” O resultado é a proliferação dos conteúdos mais extremos e chocantes, que nos criam visões distorcidas da realidade. A “realidade” no nosso telemóvel é aquilo que tememos e nos choca.
John Stuart Mill afirmava que o maior risco para a democracia era a ameaça à liberdade de pensamento e expressão. As big tech utilizam Mill, indevidamente, para se oporem a qualquer responsabilização pelos conteúdos disponíveis nas plataformas. Afinal, afirmam, se removerem conteúdos estão a violar a liberdade de expressão. O argumento é falso. Os conteúdos mais chocantes geram mais visualizações e partilhas e, como tal, mais “audiência”. E “audiência” gera vendas de publicidade. Mill acreditava que a exposição a diferentes posições permitiria rebater as opiniões falsas ou irracionais. Mas o algoritmo não alimenta o feed com prós e contras de forma equilibrada, ao invés, reforça apenas uma visão. A maior ameaça à democracia é, no século XXI, o algoritmo.
O Regulamento dos Serviços Digitais não alterou, significativamente, o regime legal em matéria de responsabilização. Mantém-se a inexistência de um dever de vigilância, e obriga-se, apenas, as plataformas a retirarem conteúdos ilegais na sequência de uma denúncia ou porque “sabem” que é ilegal. A legislação continua a ignorar que as plataformas não são passivas. Promovem a disseminação, priorizam conteúdos.
O legislador europeu não precisa de criar uma legislação específica, basta aplicar o regime da responsabilidade dos média tradicionais, sempre que as plataformas optem por promover a disseminação de um determinado conteúdo. Alterar o incentivo contribuiria para uma internet mais segura e verdadeira – onde o falso, ilegal e danoso, ao não ser prioritizado pelo algoritimo, daria lugar à informação verdadeira, que todos os dias é partilhada.
Mosquitos e humanos
Já vimos placas alertando sobre animais selvagens, cães bravos e outros. Nunca se viu uma advertindo sobre humanos perigosos. Não há leão com cara de bonzinho, mas há humanos cujo marketing os faz parecerem bonzinhos, apesar dos milhões que contribuem para matar!
Passou quase despercebida nos últimos dias uma notícia de grande importância: foram encontrados, pela primeira vez na história, mosquitos na Islândia! Esse país nórdico era uma das pouquíssimas áreas no planeta onde inexistiam tais insetos, devido ao rigor do clima quase polar! Outra região sem eles é a Antártica.
Foi exatamente no dia 16/10/25 que foram encontrados três exemplares, duas fêmeas e um macho, da espécie Culiseta annulata. Não por coincidência neste verão aquele país viveu temperaturas jamais observadas, com máximas beirando os 30 o C. O frio intenso na maior parte do ano impede que a população de mosquitos prospere, mas, doravante, alguns exemplares, alojados em porões ou estábulos, poderão sobreviver ao inverno. E, mantido o estilo de vida intensivo em carbono, plástico, velocidade, desigualdade e tóxicos variados, as tendências destrutivas que os supostos sapiens ainda não conseguiram alterar, em breve terá malária nos polos! E nos demais biomas, podemos esperar o quê?
A importância da notícia reside em que se tornou realidade o que era previsão. Além de mosquitos, peixes de águas menos frias foram encontrados na Islândia. Já há alertas de risco de dengue e chicungunha na Inglaterra, onde inexistiam, mas já foram encontrados exemplares das espécies tão conhecidas aqui nos trópicos. E não só animais têm migrado, fugindo do calor: diversas espécies de árvores hoje já prosperam em latitudes próximas dos polos. Os humanos também bucam novos habitats, movidos pelas mudanças do clima e por ódio, fome, medo e outros motivos, ao tempo em que crescem manifestações contra imigrantes, insufladas por humanos perigosos e poderosos.
Como, com tantas evidências, ainda há pessoas que negam o processo de aquecimento global? Há alguns que argumentam que o planeta sempre apresentou ciclos de mudanças climáticas, e negam o papel dos humanos no processo atual. Cabe comparar a velocidade da queda de uma bola deixada solta no plano inclinado de um morro, com outra bola, colocada no mesmo local e chutada morro abaixo. A humanidade está, literalmente, chutando o clima e a biosfera para além das condições que permitem a vida.
A crescente velocidade das atuais mudanças planetárias coloca em risco todas as nossas instituições e modo de vida. E o absurdo é que aqueles que negam o papel dos humanos nessas mudanças o fazem, em larga escala e na melhor das hipóteses, com o propósito de manter o status quo! Décadas atrás disse o Bush pai, estabelecendo limites para sua participação na conferência Rio 92, a origem das COP: “O american way of life é inegociável!” Ou seja, o estilo de vida que destrói o planeta e não elimina a miséria não pode ser questionado.
Nesse quadro, os dirigentes – recuso-me a chamá-los de líderes – das mais poderosas nações seguem minimizando a responsabilidade de seus países, negando apoio aos condenados pelo sistema vigente e pior, decidiram ampliar seus gastos militares.
Como substituir os perigosos loucos que hoje nos comandam?
Passou quase despercebida nos últimos dias uma notícia de grande importância: foram encontrados, pela primeira vez na história, mosquitos na Islândia! Esse país nórdico era uma das pouquíssimas áreas no planeta onde inexistiam tais insetos, devido ao rigor do clima quase polar! Outra região sem eles é a Antártica.
Foi exatamente no dia 16/10/25 que foram encontrados três exemplares, duas fêmeas e um macho, da espécie Culiseta annulata. Não por coincidência neste verão aquele país viveu temperaturas jamais observadas, com máximas beirando os 30 o C. O frio intenso na maior parte do ano impede que a população de mosquitos prospere, mas, doravante, alguns exemplares, alojados em porões ou estábulos, poderão sobreviver ao inverno. E, mantido o estilo de vida intensivo em carbono, plástico, velocidade, desigualdade e tóxicos variados, as tendências destrutivas que os supostos sapiens ainda não conseguiram alterar, em breve terá malária nos polos! E nos demais biomas, podemos esperar o quê?
A importância da notícia reside em que se tornou realidade o que era previsão. Além de mosquitos, peixes de águas menos frias foram encontrados na Islândia. Já há alertas de risco de dengue e chicungunha na Inglaterra, onde inexistiam, mas já foram encontrados exemplares das espécies tão conhecidas aqui nos trópicos. E não só animais têm migrado, fugindo do calor: diversas espécies de árvores hoje já prosperam em latitudes próximas dos polos. Os humanos também bucam novos habitats, movidos pelas mudanças do clima e por ódio, fome, medo e outros motivos, ao tempo em que crescem manifestações contra imigrantes, insufladas por humanos perigosos e poderosos.
Como, com tantas evidências, ainda há pessoas que negam o processo de aquecimento global? Há alguns que argumentam que o planeta sempre apresentou ciclos de mudanças climáticas, e negam o papel dos humanos no processo atual. Cabe comparar a velocidade da queda de uma bola deixada solta no plano inclinado de um morro, com outra bola, colocada no mesmo local e chutada morro abaixo. A humanidade está, literalmente, chutando o clima e a biosfera para além das condições que permitem a vida.
A crescente velocidade das atuais mudanças planetárias coloca em risco todas as nossas instituições e modo de vida. E o absurdo é que aqueles que negam o papel dos humanos nessas mudanças o fazem, em larga escala e na melhor das hipóteses, com o propósito de manter o status quo! Décadas atrás disse o Bush pai, estabelecendo limites para sua participação na conferência Rio 92, a origem das COP: “O american way of life é inegociável!” Ou seja, o estilo de vida que destrói o planeta e não elimina a miséria não pode ser questionado.
Nesse quadro, os dirigentes – recuso-me a chamá-los de líderes – das mais poderosas nações seguem minimizando a responsabilidade de seus países, negando apoio aos condenados pelo sistema vigente e pior, decidiram ampliar seus gastos militares.
Como substituir os perigosos loucos que hoje nos comandam?
segunda-feira, 27 de outubro de 2025
Uma demanda de urbanidade política
É possível que a cidade de Brasília tenha algo a ver com a deterioração qualitativa do Congresso. No governo Kubitschek, a transferência da capital para o Planalto Central não espelhava nenhuma grande transformação social, mas era a marca de uma reorganização simbólica, marketing do ímpeto industrialista da burguesia nacional. No sistema-mundo, vivia-se o apogeu do princípio anticolonial de autonomia dos povos periféricos, o Brasil despontava no Terceiro Mundo, com a ideologia do desenvolvimento à frente.
Brasília seria um símbolo forte disso tudo. Já em 1916, o sociólogo norte-americano Robert Park afirmava que cidade era algo mais que "um amontoado de homens, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde e telefone. A cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes, tradições e sentimentos" (em "A Cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano").
Nova capital, novo urbanismo, novo estado de espírito, eis Brasília. Há, entretanto, uma diferença entre urbanismo e urbanidade: o primeiro é o planejamento técnico e metódico de uma cidade, enquanto urbanidade é a criação contínua e espontânea dos habitantes sobre o status quo urbano. É o espírito contrário à depredação de equipamentos coletivos, à violência do tráfego e ao domínio territorial pela criminalidade.
Exceto o 8 de janeiro, Brasília não conhece o estado de pré-barbárie que tem caracterizado as megalópoles brasileiras. Mas sua urbanidade acontece de cima para baixo, pela presença acachapante de todo o aparato de governo e pela contenção habitacional. Com ressalva das cidades-satélites, os brasilienses atestam níveis razoáveis de vida urbana.
Ao olhar externo, entretanto, Brasília é uma urbe desvitalizada, isto é, que não parece ser vivida, como se cada qual estivesse cercado por um meio neutro, exterior ao sentido imediato, sem investimento afetivo. É o etos do seu modo de espacialização, cujo espaço-tempo sugere uma "República de Bruzundangas" (Lima Barreto) burocrática, hipercentralizadora, chupa-cabra do trabalho vivo nacional. Um biorritmo encapsulado: a capital é mais "federal" que do Brasil.
Certa vez, numa avaliação casual, disse Ulysses Guimarães que "o próximo Congresso a ser eleito será certamente pior do que o anterior". Talvez já intuísse o elo entre a ausência de representatividade do povo nos aparelhos de Estado e a inadequação dos parlamentares, cada vez mais destituídos de cosmopolitismo cívico. A frase se revelaria profética quanto ao estado presente da Câmara, antro do mais deslavado fisiologismo e caciquismo político.
Socialização e urbanismo fazem par. A geometria poética de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa abria-se a inovações institucionais, compatíveis com o futuro desenhado. É quando se interligam tempo e espaço. Mas o tempo seguinte, de desastrosa ditadura e degradação civil, desligou-se da criação, que permaneceu como bela forma vazia. A futurística marca espaço-temporal do Estado-Nação, sonhada pela burguesia desenvolvimentista com o nome de Brasília, é hoje resíduo ideológico de um espírito inacessível à esterilidade mental dos legisladores. Seus palácios, alvos depredatórios de golpistas palacianos e turbas ensandecidas.
Muniz Sodré
Brasília seria um símbolo forte disso tudo. Já em 1916, o sociólogo norte-americano Robert Park afirmava que cidade era algo mais que "um amontoado de homens, ruas, edifícios, luz elétrica, linhas de bonde e telefone. A cidade é um estado de espírito, um corpo de costumes, tradições e sentimentos" (em "A Cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano").
Nova capital, novo urbanismo, novo estado de espírito, eis Brasília. Há, entretanto, uma diferença entre urbanismo e urbanidade: o primeiro é o planejamento técnico e metódico de uma cidade, enquanto urbanidade é a criação contínua e espontânea dos habitantes sobre o status quo urbano. É o espírito contrário à depredação de equipamentos coletivos, à violência do tráfego e ao domínio territorial pela criminalidade.
Exceto o 8 de janeiro, Brasília não conhece o estado de pré-barbárie que tem caracterizado as megalópoles brasileiras. Mas sua urbanidade acontece de cima para baixo, pela presença acachapante de todo o aparato de governo e pela contenção habitacional. Com ressalva das cidades-satélites, os brasilienses atestam níveis razoáveis de vida urbana.
Ao olhar externo, entretanto, Brasília é uma urbe desvitalizada, isto é, que não parece ser vivida, como se cada qual estivesse cercado por um meio neutro, exterior ao sentido imediato, sem investimento afetivo. É o etos do seu modo de espacialização, cujo espaço-tempo sugere uma "República de Bruzundangas" (Lima Barreto) burocrática, hipercentralizadora, chupa-cabra do trabalho vivo nacional. Um biorritmo encapsulado: a capital é mais "federal" que do Brasil.
Certa vez, numa avaliação casual, disse Ulysses Guimarães que "o próximo Congresso a ser eleito será certamente pior do que o anterior". Talvez já intuísse o elo entre a ausência de representatividade do povo nos aparelhos de Estado e a inadequação dos parlamentares, cada vez mais destituídos de cosmopolitismo cívico. A frase se revelaria profética quanto ao estado presente da Câmara, antro do mais deslavado fisiologismo e caciquismo político.
Socialização e urbanismo fazem par. A geometria poética de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa abria-se a inovações institucionais, compatíveis com o futuro desenhado. É quando se interligam tempo e espaço. Mas o tempo seguinte, de desastrosa ditadura e degradação civil, desligou-se da criação, que permaneceu como bela forma vazia. A futurística marca espaço-temporal do Estado-Nação, sonhada pela burguesia desenvolvimentista com o nome de Brasília, é hoje resíduo ideológico de um espírito inacessível à esterilidade mental dos legisladores. Seus palácios, alvos depredatórios de golpistas palacianos e turbas ensandecidas.
Muniz Sodré
Democracia no Brasil é um grande sucesso
O que quer dizer democracia? A resposta vai variar conforme o gosto do freguês, e o livro "A Palavra e o Poder" (Civilização Brasileira) traz um rico painel desse debate no contexto brasileiro ao longo dos 40 anos da Nova República.
Ao pé da letra grega, democracia é o poder do povo. É mais simples entendê-la no experimento ateniense da Antiguidade, pelo qual os cidadãos se juntavam na praça para deliberar, ao peso de um voto por cabeça, sobre temas da coletividade.
No seu mínimo denominador comum, a democracia é meio de satisfazer o apetite humano pelo poder sem recurso à violência. Nesse sistema, ninguém precisa decapitar o rei ou derrotar a milícia inimiga para tornar-se governante. Basta vencer as eleições. Simples de formular, difícil de implementar.
Há um componente da realidade que complica essa equação. As pessoas podem ser consideradas iguais diante da lei, mas elas não se sentem nem se comportam como se fossem iguais. Uma teia de relações de parentesco, de hierarquia e de posicionamento econômico desafia o ideal normativo.
Não foi à toa que as reformas de Clístenes, que precederam e viabilizaram as décadas de ouro da democracia de Atenas, atacaram a raiz sociológica do dilema político. A dominância do clã, das afinidades familiares, foi substituída pela do território. Tribalismo convive mal com democracia.
A República romana, que não foi uma democracia, ilumina outro aspecto do problema. O modelo não tenta corrigir desigualdades de origem. Ele as pressupõe, traduz e formaliza. SPQR, a sigla que ainda se vê gravada nas tampas de galeria da capital italiana, denota a associação entre oligarcas (os senadores) e comuns (a plebe) num sistema tenso de comandos e vetos. As democracias modernas também desenvolveram os seus mecanismos para conformar e equilibrar o embate entre as forças tradicionais e as plebiscitárias.
E como lidar com o perigo dos trapaceiros? Um sistema baseado em regras universais de entrada e saída do governo precisa se precaver contra quem não quer brincar assim. Em Atenas o risco da tirania era combatido com o ostracismo, que implicava o banimento da comunidade política de indivíduos suspeitos de tramarem a subversão da ordem. Alguém pensou em julgamentos em marcha no Supremo Tribunal Federal brasileiro?
Em Roma, a instituição restauradora se chamava ditadura. Por período definido, permitia-se que poderes absolutos fossem conferidos a um líder incumbido de debelar as ameaças ao regime e devolvê-lo ao curso normal. Dentro do propósito benéfico do instituto clássico, dá para discutir o inchaço circunstancial, frise-se o circunstancial, de prerrogativas de juízes brasileiros diante de assédios à democracia. Formalmente, o espírito da ditadura romana permanece em mecanismos constitucionais como os estados de sítio e de defesa das democracias contemporâneas.
Avaliada sob essa ótica minimalista, o ciclo da democracia brasileira que se iniciou em 1985 tem sido um grande sucesso. Dezenas de milhares de eleições foram realizadas no período nos níveis municipal, estadual e federal, e seus resultados, religiosamente obedecidos. Os eleitos para cargos executivos não receberam cheque em branco para fazer o que bem entendessem. Quem abusou, segundo o julgamento de magistrados ou corpos legislativos, foi legalmente deposto.
Quem urdiu a ruptura autoritária foi bloqueado em plena tentativa de virar a mesa e depois punido pelo sistema judicial.
É claro que se frustraram expectativas grandiosas sobre o que a democracia brasileira deveria propiciar em termos substantivos — um país mais próspero, mais justo e solidário. Mas talvez seja exigir demais desse belíssimo instrumento que a humanidade desenvolveu, mas que não passa disso, um instrumento. Os resultados dependem de quem o manuseia, e o diabo é que na democracia não temos ninguém em quem pôr a culpa pelas nossas mazelas senão em nós mesmos.
Ao pé da letra grega, democracia é o poder do povo. É mais simples entendê-la no experimento ateniense da Antiguidade, pelo qual os cidadãos se juntavam na praça para deliberar, ao peso de um voto por cabeça, sobre temas da coletividade.
No seu mínimo denominador comum, a democracia é meio de satisfazer o apetite humano pelo poder sem recurso à violência. Nesse sistema, ninguém precisa decapitar o rei ou derrotar a milícia inimiga para tornar-se governante. Basta vencer as eleições. Simples de formular, difícil de implementar.
Há um componente da realidade que complica essa equação. As pessoas podem ser consideradas iguais diante da lei, mas elas não se sentem nem se comportam como se fossem iguais. Uma teia de relações de parentesco, de hierarquia e de posicionamento econômico desafia o ideal normativo.
Não foi à toa que as reformas de Clístenes, que precederam e viabilizaram as décadas de ouro da democracia de Atenas, atacaram a raiz sociológica do dilema político. A dominância do clã, das afinidades familiares, foi substituída pela do território. Tribalismo convive mal com democracia.
A República romana, que não foi uma democracia, ilumina outro aspecto do problema. O modelo não tenta corrigir desigualdades de origem. Ele as pressupõe, traduz e formaliza. SPQR, a sigla que ainda se vê gravada nas tampas de galeria da capital italiana, denota a associação entre oligarcas (os senadores) e comuns (a plebe) num sistema tenso de comandos e vetos. As democracias modernas também desenvolveram os seus mecanismos para conformar e equilibrar o embate entre as forças tradicionais e as plebiscitárias.
E como lidar com o perigo dos trapaceiros? Um sistema baseado em regras universais de entrada e saída do governo precisa se precaver contra quem não quer brincar assim. Em Atenas o risco da tirania era combatido com o ostracismo, que implicava o banimento da comunidade política de indivíduos suspeitos de tramarem a subversão da ordem. Alguém pensou em julgamentos em marcha no Supremo Tribunal Federal brasileiro?
Em Roma, a instituição restauradora se chamava ditadura. Por período definido, permitia-se que poderes absolutos fossem conferidos a um líder incumbido de debelar as ameaças ao regime e devolvê-lo ao curso normal. Dentro do propósito benéfico do instituto clássico, dá para discutir o inchaço circunstancial, frise-se o circunstancial, de prerrogativas de juízes brasileiros diante de assédios à democracia. Formalmente, o espírito da ditadura romana permanece em mecanismos constitucionais como os estados de sítio e de defesa das democracias contemporâneas.
Avaliada sob essa ótica minimalista, o ciclo da democracia brasileira que se iniciou em 1985 tem sido um grande sucesso. Dezenas de milhares de eleições foram realizadas no período nos níveis municipal, estadual e federal, e seus resultados, religiosamente obedecidos. Os eleitos para cargos executivos não receberam cheque em branco para fazer o que bem entendessem. Quem abusou, segundo o julgamento de magistrados ou corpos legislativos, foi legalmente deposto.
Quem urdiu a ruptura autoritária foi bloqueado em plena tentativa de virar a mesa e depois punido pelo sistema judicial.
É claro que se frustraram expectativas grandiosas sobre o que a democracia brasileira deveria propiciar em termos substantivos — um país mais próspero, mais justo e solidário. Mas talvez seja exigir demais desse belíssimo instrumento que a humanidade desenvolveu, mas que não passa disso, um instrumento. Os resultados dependem de quem o manuseia, e o diabo é que na democracia não temos ninguém em quem pôr a culpa pelas nossas mazelas senão em nós mesmos.
Passado e presente
Comecemos com uma curiosidade de duas ou três décadas atrás. Um respeitado historiador das coisas do comunismo, perguntado sobre a queda do Muro de Berlim, a implosão do edifício soviético e os naturais efeitos sobre sua disciplina, reconheceu sentir-se bastante deslocado no novo contexto. É que, sem poder negar o longo período de estudos e os muitos livros lidos e escritos, percebia ter passado subitamente da condição de historiador do presente para a de arqueólogo. Daí por diante, seus temas de eleição soariam esotéricos. O que teriam a dizer aos contemporâneos as escolhas dos antigos partidos comunistas – seja no poder, seja na oposição –, seus momentos de ascensão e declínio, suas incessantes idas e vindas diante da “questão democrática”?
Tudo isso, em tese, poderia inserir-se entre as discussões fora de moda, atropeladas pelas novas agendas, como a globalização, a unificação dos espaços econômicos, a emergência de uma sociedade civil mundial permeada por valores liberais. Era então difícil ou impossível prever que pouco mais adiante, numa estranha dobra do tempo, o quadro viraria de ponta-cabeça. Uma crise generalizada de legitimidade nas “democracias burguesas”, a começar pela mais vistosa delas – a norte-americana –, iria repor, evidentemente sob roupagem nova, dramas e dilemas com a aparência de já vividos e, ao menos em parte, solucionados.
Um rápido exame das discussões neste segundo governo Trump mostra que está de volta o mau presságio, ou a realidade já em curso, da autocratização política e do acirramento das tensões sociais. A nação divide-se em metades inconciliáveis, o decantado mecanismo de freios e contrapesos parece derreter, o Executivo concentra poderes e cerceia liberdades tidas como inexpugnáveis. “Fascismo!” – diagnosticam alguns, ressuscitando a palavra terrível dos anos 1930. E não faltaria sequer o traço de mobilização autoritária de massas, típico daquela tirania, só que nas novas condições de uma sociedade simultaneamente atomizada e reunida pelas redes sociais.
O desconsolado historiador a que antes nos referimos talvez reencontrasse aqui espaço para intervenções com uso prático. Lembraria que a presente onda autocrática, capitaneada por uma direita de novo tipo, golpeia por igual tanto progressistas quanto liberais-democratas e até conservadores, incomodados, estes últimos, com o lado “revolucionário” e puramente destrutivo do programa do populismo radical à moda Trump e congêneres. Não aceitaria a repetição preguiçosa do rótulo “fascista”, mas perceberia o sinal de traços semelhantes nas duas épocas, a nossa e a transcorrida há cem anos.
Em ambas, por exemplo, a dissolução de classes em massas de indivíduos propensos a seguirem cegamente o chefe autoritário, porto supostamente seguro numa era de sujeitos solitários e intensas mudanças. O diagnóstico, feito a seu tempo, entre outros, por Hannah Arendt, tem a virtude adicional de apontar que tais processos não são atributo exclusivo da direita radicalizada. Se fossem, aliás, não teríamos a ditadura stalinista e as estruturas totais de partidoEstado que os desavisados entenderam, e alguns ainda entendem, como formas superiores de ordem política.
Os velhos comunistas – diria também o historiador-arqueólogo repentinamente loquaz e certo de ter redescoberto um “lugar de fala” – construíram realidades potentes e eficazes, como as chamadas frentes populares. Não por acaso, o termo também saiu dos dicionários e adquiriu vida nova, como na França e em outras partes. A exemplo da encarnação anterior, oscila por vezes incoerentemente entre uma versão democrática e outra esquerdista. A primeira é intrinsecamente plural, abraçando a ideia de hegemonia como encontro e confronto entre forças diferentes e abertas umas às outras. A segunda, encerrada num círculo constituído de forças basicamente iguais, tem vocação hegemonista, operando “para fora” com uma tática desleal de cooptação e decapitação.
Que não se trata só de fórmulas caducas, que conviria aposentar de vez, está demonstrado pelo fato de que as duas versões continuam a sustentar modalidades bem diferentes de esquerda, uma democrática, outra autoritária. Como numa encruzilhada, um dos caminhos sugere a incorporação plena das regras do jogo e das obrigações de quem percebe um terreno comum aos democratas de todas as orientações. Fora deste terreno, o mais provável é a destruição recíproca das forças em luta, para retomar o espírito de uma frase marxiana bem conhecida.
O outro caminho, radical na aparência, tem aspectos paradoxais. Na sua impaciência revolucionária, comete o erro fatal de dividir a sociedade em blocos antagônicos – “classe contra classe”, para lançar mão de outra expressão também de larga divulgação. Esquerda e direita duelariam à maneira do bem contra o mal, o que, entre outros resultados, não só paralisa a mudança social, como também replica e reforça a estratégia de polarização patológica, incessantemente produzida pelo nacionalismo populista que agora parece vir de todos os lados.
Luiz Sérgio Henriques
Tudo isso, em tese, poderia inserir-se entre as discussões fora de moda, atropeladas pelas novas agendas, como a globalização, a unificação dos espaços econômicos, a emergência de uma sociedade civil mundial permeada por valores liberais. Era então difícil ou impossível prever que pouco mais adiante, numa estranha dobra do tempo, o quadro viraria de ponta-cabeça. Uma crise generalizada de legitimidade nas “democracias burguesas”, a começar pela mais vistosa delas – a norte-americana –, iria repor, evidentemente sob roupagem nova, dramas e dilemas com a aparência de já vividos e, ao menos em parte, solucionados.
Um rápido exame das discussões neste segundo governo Trump mostra que está de volta o mau presságio, ou a realidade já em curso, da autocratização política e do acirramento das tensões sociais. A nação divide-se em metades inconciliáveis, o decantado mecanismo de freios e contrapesos parece derreter, o Executivo concentra poderes e cerceia liberdades tidas como inexpugnáveis. “Fascismo!” – diagnosticam alguns, ressuscitando a palavra terrível dos anos 1930. E não faltaria sequer o traço de mobilização autoritária de massas, típico daquela tirania, só que nas novas condições de uma sociedade simultaneamente atomizada e reunida pelas redes sociais.
O desconsolado historiador a que antes nos referimos talvez reencontrasse aqui espaço para intervenções com uso prático. Lembraria que a presente onda autocrática, capitaneada por uma direita de novo tipo, golpeia por igual tanto progressistas quanto liberais-democratas e até conservadores, incomodados, estes últimos, com o lado “revolucionário” e puramente destrutivo do programa do populismo radical à moda Trump e congêneres. Não aceitaria a repetição preguiçosa do rótulo “fascista”, mas perceberia o sinal de traços semelhantes nas duas épocas, a nossa e a transcorrida há cem anos.
Em ambas, por exemplo, a dissolução de classes em massas de indivíduos propensos a seguirem cegamente o chefe autoritário, porto supostamente seguro numa era de sujeitos solitários e intensas mudanças. O diagnóstico, feito a seu tempo, entre outros, por Hannah Arendt, tem a virtude adicional de apontar que tais processos não são atributo exclusivo da direita radicalizada. Se fossem, aliás, não teríamos a ditadura stalinista e as estruturas totais de partidoEstado que os desavisados entenderam, e alguns ainda entendem, como formas superiores de ordem política.
Os velhos comunistas – diria também o historiador-arqueólogo repentinamente loquaz e certo de ter redescoberto um “lugar de fala” – construíram realidades potentes e eficazes, como as chamadas frentes populares. Não por acaso, o termo também saiu dos dicionários e adquiriu vida nova, como na França e em outras partes. A exemplo da encarnação anterior, oscila por vezes incoerentemente entre uma versão democrática e outra esquerdista. A primeira é intrinsecamente plural, abraçando a ideia de hegemonia como encontro e confronto entre forças diferentes e abertas umas às outras. A segunda, encerrada num círculo constituído de forças basicamente iguais, tem vocação hegemonista, operando “para fora” com uma tática desleal de cooptação e decapitação.
Que não se trata só de fórmulas caducas, que conviria aposentar de vez, está demonstrado pelo fato de que as duas versões continuam a sustentar modalidades bem diferentes de esquerda, uma democrática, outra autoritária. Como numa encruzilhada, um dos caminhos sugere a incorporação plena das regras do jogo e das obrigações de quem percebe um terreno comum aos democratas de todas as orientações. Fora deste terreno, o mais provável é a destruição recíproca das forças em luta, para retomar o espírito de uma frase marxiana bem conhecida.
O outro caminho, radical na aparência, tem aspectos paradoxais. Na sua impaciência revolucionária, comete o erro fatal de dividir a sociedade em blocos antagônicos – “classe contra classe”, para lançar mão de outra expressão também de larga divulgação. Esquerda e direita duelariam à maneira do bem contra o mal, o que, entre outros resultados, não só paralisa a mudança social, como também replica e reforça a estratégia de polarização patológica, incessantemente produzida pelo nacionalismo populista que agora parece vir de todos os lados.
Luiz Sérgio Henriques
A algoritmização da morte e o paradigma da 'guerra' permanente
Os novos assassinatos de palestinos em Gaza ocorridos após o anúncio do cessar-fogo mediado por Donald Trump nos lembram da fragilidade extrema dos processos de paz na região. O mundo espera, com ceticismo, o desfecho de mais um capítulo desta guerra interminável que antecede, em muito, a violência do 7 de outubro de 2023 e que dificilmente terminará sem a concretização de um Estado Palestino livre e soberano. A cada trégua rompida, a cada vida interrompida, torna-se um imperativo moral fazermos um balanço destes dois anos de horror sistemático.
Desde os primeiros dias da ofensiva, o discurso oficial israelense sinalizou a natureza totalizante da operação. Embora o governo de Israel tenha declarado que o objetivo da operação era unicamente a destruição das capacidades militares do Hamas, a retórica e as ações sugeriram algo mais abrangente. Nas palavras do próprio ministro de defesa de Israel, Yoav Gallant, proferidas em 9 de outubro de 2023: “Estamos impondo um cerco total à Gaza. Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás, tudo bloqueado. Estamos lutando contra animais e agimos em conformidade”. A declaração, amplamente divulgada por veículos de imprensa internacionais, inaugurou uma política de cerco absoluto e de desumanização institucionalizada. Talvez a guerra nunca tenha sido uma resposta militar ao Hamas, mas sim um projeto de aniquilação coletiva, conduzido sob a lógica colonial de punição e erradicação.
Desde os primeiros dias da ofensiva, o discurso oficial israelense sinalizou a natureza totalizante da operação. Embora o governo de Israel tenha declarado que o objetivo da operação era unicamente a destruição das capacidades militares do Hamas, a retórica e as ações sugeriram algo mais abrangente. Nas palavras do próprio ministro de defesa de Israel, Yoav Gallant, proferidas em 9 de outubro de 2023: “Estamos impondo um cerco total à Gaza. Sem eletricidade, sem comida, sem água, sem gás, tudo bloqueado. Estamos lutando contra animais e agimos em conformidade”. A declaração, amplamente divulgada por veículos de imprensa internacionais, inaugurou uma política de cerco absoluto e de desumanização institucionalizada. Talvez a guerra nunca tenha sido uma resposta militar ao Hamas, mas sim um projeto de aniquilação coletiva, conduzido sob a lógica colonial de punição e erradicação.
Em outubro de 2025, o massacre na Faixa de Gaza completou dois anos. O conflito rapidamente transformou-se em um processo de devastação sem precedentes no século XXI. Em um território de apenas 365 km², habitado por cerca de 2,2 milhões de pessoas, foram lançadas quase 85 mil toneladas de explosivos. A intensidade dos ataques torna a região o território mais devastado per capita e por área de que se tem registro na era contemporânea.
Segundo o Ministério da Saúde local, 67 mil pessoas foram mortas desde o início da ofensiva, além de provavelmente uma dezena de milhares que estão sob os escombros. Entre as vítimas, 30 mil mulheres e meninas e 18 mil crianças e adolescentes. Outras 170 mil pessoas ficaram feridas, e o enclave registra hoje o maior número de crianças amputadas do mundo, com mais de 4 mil casos. Aproximadamente 80% dos edifícios e residências foram destruídos ou danificados. O volume de entulho de construção atinge 50 milhões de toneladas, ou cerca de 137 quilos por metro quadrado, número 14 vezes maior do que o total de detritos gerados por todos os conflitos armados do mundo desde 2008.
A dimensão humanitária da tragédia é igualmente alarmante. Estima-se que 500 mil pessoas, cerca de 22% da população, vivem em situação de fome extrema. A destruição de sistemas de água, energia e saúde, associada ao bloqueio quase total de insumos, agravou o colapso sanitário e empurrou a população para condições de sobrevivência precárias. Segundo a revista The Lancet (2025), a expectativa de vida dos homens caiu de 75,5 para 36 anos, e a das mulheres de 75,5 para 44 anos.
O genocídio em Gaza também nos apresentou a militarização da inteligência artificial e a algoritmização da morte (MAGALHÃES, 2025), processo pelo qual a decisão sobre quem vive e quem morre é mediada por sistemas automatizados de vigilância, cálculo e seleção de alvos. Drones, bancos de dados biométricos e softwares de rastreamento transformam a eliminação de corpos em uma operação estatística, esvaziada de responsabilidade moral. A “guerra”, nesse sentido, torna-se um exercício de administração tecnológica da vida, em que a morte é produzida com precisão matemática e legitimada pela linguagem da eficiência. A racionalidade algorítmica, ao reduzir a existência humana a parâmetros de risco e probabilidade, consolida a desumanização como política de Estado e insere o genocídio palestino na lógica mais ampla da governança automatizada da violência, típica do século XXI.
O colapso humanitário em Gaza manifesta-se também na experiência cotidiana da fome e do desespero. As longas filas por alimentos e água, muitas vezes sob bombardeios, transformaram o que deveria ser a busca por sobrevivência em um ato letal. Relatos de agências humanitárias descrevem pessoas mortas ao tentar alcançar caminhões de ajuda ou recolher grãos entre os escombros, enquanto outras percorrem quilômetros sob fogo cruzado em busca de um pedaço de pão. Cerca de 2.600 pessoas morreram e quase 20 mil foram feridas por disparos de arma de fogo efetuados por agentes de segurança da Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ou pelas tropas de Israel enquanto buscavam alimentos.
O sofrimento humano, nesse contexto, assume uma dimensão psicológica e coletiva: famílias inteiras vivem sob trauma permanente, marcadas pela perda e pelo medo constante. Crianças manifestam sintomas de colapso emocional, insônia, mutismo e crises de ansiedade em um ambiente onde o ruído das explosões substituiu o silêncio da noite. O cotidiano, esvaziado de qualquer segurança, tornou-se a própria coreografia da precariedade: existir passou a significar sobreviver entre ruínas.
A recente libertação de Omar Yahya Al-Qarinawi, adolescente palestino com autismo, provocou uma comoção internacional genuína, mas também revelou o abismo moral que estrutura o olhar do mundo sobre o conflito. A imagem de sua fragilidade exposta, após meses de encarceramento sem julgamento, deveria ter despertado uma reflexão sobre a violência sistêmica que sustenta o regime de ocupação. Contudo, a narrativa dominante limitou-se a tratar o episódio como exceção humanitária e não como sintoma de uma política de aprisionamento em massa.
Atualmente, milhares de palestinos encontram-se detidos em prisões israelenses, incluindo cerca de duzentas mulheres e seiscentas crianças e adolescentes, muitos submetidos a tortura, isolamento e privações sistemáticas. Essa prática, consolidada como técnica de governo, constitui uma das expressões mais perversas do controle colonial. Nesse contexto, é inevitável evocar Hannah Arendt, para quem o mal moderno se realiza na banalização da violência e na indiferença moral de seus executores. A libertação de Omar, ainda que celebrada, não interrompe o funcionamento dessa máquina desumanizadora, apenas a expõe.
O genocídio em Gaza, portanto, não é apenas um conflito regional, mas um reflexo moral e estrutural da política contemporânea. Ao fim de dois anos, o enclave tornou-se o epicentro visível da degradação ética e institucional do nosso tempo, revelando como a lógica da segurança e do poder tem suplantado a própria noção de humanidade. Gaza é hoje o espelho em que o sistema internacional se contempla e fracassa, incapaz de afirmar os princípios que fundaram o direito e a convivência global após 1945. Diante dessa barbárie, não há neutralidade possível: o modo como os Estados e as instituições internacionais têm atuado destrói não apenas o futuro da Palestina, mas o próprio sentido contemporâneo de humanidade.
Juan Filipe Loureiro Magalhães
Segundo o Ministério da Saúde local, 67 mil pessoas foram mortas desde o início da ofensiva, além de provavelmente uma dezena de milhares que estão sob os escombros. Entre as vítimas, 30 mil mulheres e meninas e 18 mil crianças e adolescentes. Outras 170 mil pessoas ficaram feridas, e o enclave registra hoje o maior número de crianças amputadas do mundo, com mais de 4 mil casos. Aproximadamente 80% dos edifícios e residências foram destruídos ou danificados. O volume de entulho de construção atinge 50 milhões de toneladas, ou cerca de 137 quilos por metro quadrado, número 14 vezes maior do que o total de detritos gerados por todos os conflitos armados do mundo desde 2008.
A dimensão humanitária da tragédia é igualmente alarmante. Estima-se que 500 mil pessoas, cerca de 22% da população, vivem em situação de fome extrema. A destruição de sistemas de água, energia e saúde, associada ao bloqueio quase total de insumos, agravou o colapso sanitário e empurrou a população para condições de sobrevivência precárias. Segundo a revista The Lancet (2025), a expectativa de vida dos homens caiu de 75,5 para 36 anos, e a das mulheres de 75,5 para 44 anos.
O genocídio em Gaza também nos apresentou a militarização da inteligência artificial e a algoritmização da morte (MAGALHÃES, 2025), processo pelo qual a decisão sobre quem vive e quem morre é mediada por sistemas automatizados de vigilância, cálculo e seleção de alvos. Drones, bancos de dados biométricos e softwares de rastreamento transformam a eliminação de corpos em uma operação estatística, esvaziada de responsabilidade moral. A “guerra”, nesse sentido, torna-se um exercício de administração tecnológica da vida, em que a morte é produzida com precisão matemática e legitimada pela linguagem da eficiência. A racionalidade algorítmica, ao reduzir a existência humana a parâmetros de risco e probabilidade, consolida a desumanização como política de Estado e insere o genocídio palestino na lógica mais ampla da governança automatizada da violência, típica do século XXI.
O colapso humanitário em Gaza manifesta-se também na experiência cotidiana da fome e do desespero. As longas filas por alimentos e água, muitas vezes sob bombardeios, transformaram o que deveria ser a busca por sobrevivência em um ato letal. Relatos de agências humanitárias descrevem pessoas mortas ao tentar alcançar caminhões de ajuda ou recolher grãos entre os escombros, enquanto outras percorrem quilômetros sob fogo cruzado em busca de um pedaço de pão. Cerca de 2.600 pessoas morreram e quase 20 mil foram feridas por disparos de arma de fogo efetuados por agentes de segurança da Gaza Humanitarian Foundation (GHF) ou pelas tropas de Israel enquanto buscavam alimentos.
O sofrimento humano, nesse contexto, assume uma dimensão psicológica e coletiva: famílias inteiras vivem sob trauma permanente, marcadas pela perda e pelo medo constante. Crianças manifestam sintomas de colapso emocional, insônia, mutismo e crises de ansiedade em um ambiente onde o ruído das explosões substituiu o silêncio da noite. O cotidiano, esvaziado de qualquer segurança, tornou-se a própria coreografia da precariedade: existir passou a significar sobreviver entre ruínas.
A recente libertação de Omar Yahya Al-Qarinawi, adolescente palestino com autismo, provocou uma comoção internacional genuína, mas também revelou o abismo moral que estrutura o olhar do mundo sobre o conflito. A imagem de sua fragilidade exposta, após meses de encarceramento sem julgamento, deveria ter despertado uma reflexão sobre a violência sistêmica que sustenta o regime de ocupação. Contudo, a narrativa dominante limitou-se a tratar o episódio como exceção humanitária e não como sintoma de uma política de aprisionamento em massa.
Atualmente, milhares de palestinos encontram-se detidos em prisões israelenses, incluindo cerca de duzentas mulheres e seiscentas crianças e adolescentes, muitos submetidos a tortura, isolamento e privações sistemáticas. Essa prática, consolidada como técnica de governo, constitui uma das expressões mais perversas do controle colonial. Nesse contexto, é inevitável evocar Hannah Arendt, para quem o mal moderno se realiza na banalização da violência e na indiferença moral de seus executores. A libertação de Omar, ainda que celebrada, não interrompe o funcionamento dessa máquina desumanizadora, apenas a expõe.
O genocídio em Gaza, portanto, não é apenas um conflito regional, mas um reflexo moral e estrutural da política contemporânea. Ao fim de dois anos, o enclave tornou-se o epicentro visível da degradação ética e institucional do nosso tempo, revelando como a lógica da segurança e do poder tem suplantado a própria noção de humanidade. Gaza é hoje o espelho em que o sistema internacional se contempla e fracassa, incapaz de afirmar os princípios que fundaram o direito e a convivência global após 1945. Diante dessa barbárie, não há neutralidade possível: o modo como os Estados e as instituições internacionais têm atuado destrói não apenas o futuro da Palestina, mas o próprio sentido contemporâneo de humanidade.
Juan Filipe Loureiro Magalhães
'Lawrence da Arábia' e Gaza: cem anos de areia, sangue e ilusões
Entre o mito britânico e o caos palestiniano, T. E. Lawrence – o protagonista do filme de David Lean – continua a cavalgar entre a História e a ficção. Cem anos depois, o deserto ainda é o mesmo. Só mudaram as armas, as fronteiras e os homens que prometem paz ou fazem guerra à frente das câmaras e dos microfones dos canais de televisão.
O deserto é um lugar ingrato para visionários. T. E. Lawrence percebeu isso tarde, mas Hollywood tratou de lhe dar uma eternidade dourada. Lawrence da Arábia (1962) é um daqueles filmes que envelhecem melhor do que as histórias que os inspiraram. Peter O’Toole brilha, as dunas cintilam e a epopeia parece quase espiritual.
Mas o verdadeiro Lawrence não era propriamente um poeta perdido na areia: era também um homem de gabinete, obcecado por mapas e fronteiras. O Império Britânico precisava de intérpretes e mediadores. Ele quis ser ambos. Falava árabe, mas pensava como um europeu do início do século XX, convicto de que podia corrigir um continente inteiro com boa vontade e engenharia.
Nos seus diários – ou melhor, em Os Sete Pilares da Sabedoria – há menos romantismo do que pragmatismo. Lawrence via o Médio Oriente como um corpo adormecido que precisava de um choque externo. E acreditava que esse choque seria judaico. Que o sionismo, recém-nascido, traria modernidade ao deserto e produtividade a uma terra onde, nas suas palavras, “o sol queima mais do que as ideias florescem”.
A lenda do “amigo dos árabes” é, no mínimo, uma meia verdade. Lawrence lutou ao lado das tribos árabes contra o Império Otomano, mas nunca deixou de ser um homem do Império Britânico. Via nos árabes coragem e fé, mas também desorganização e atraso. E via nos judeus, que começavam a regressar à Palestina, um modelo ocidental capaz de transformar ruínas em cidades.
A equação de Lawrence era simples e perigosa: o entusiasmo árabe com a disciplina judaica. “Arabia for the Arabs, Judea for the Jews”, escreveu. Um slogan que hoje faria tremer qualquer diplomata da ONU ou negociador de paz. Lawrence sonhava com fronteiras limpas, como linhas traçadas num papel. Mas o deserto nunca foi um mapa. É, na verdade, uma metáfora. E ele, com todo o seu fervor idealista, acabou engolido por ela.
Num hotel de Londres, em 1919, Lawrence sentou à mesma mesa o príncipe Faisal, representante dos árabes, e Chaim Weizmann, líder do movimento sionista. Serviu chá, traduziu, sorriu. Acreditava que aquele gesto simples podia mudar o curso da História.
Por alguns minutos, pareceu possível: os dois homens apertaram as mãos e assinaram um acordo que prometia colaboração entre árabes e judeus na futura Palestina. Chamaram-lhe Acordo Faisal-Weizmann. Só que durou o tempo de arrefecer a chávena e nem chegaram a beber o bule todo.
Lawrence, otimista incurável, achava que os povos podiam entender-se se partilhassem o mesmo dicionário. Descobriu tarde que a palavra “terra” (prometida) tem traduções incompatíveis.
Poucos meses depois, Lawrence visitou Gaza. Winston Churchill, então ministro das Colónias, também foi. O cenário parecia diplomático: multidões, bandeiras, discursos. Mas a rua gritava “morte aos judeus”, enquanto os ingleses pensavam que eram aplausos. Lawrence percebeu as manifestações hostis, mas calou-se. Aprendeu o que o Ocidente ainda hoje não entende: no Médio Oriente, o entusiasmo e o ódio soam quase iguais. A sua utopia multicultural derreteu-se como gelo no deserto. Cem anos depois, Gaza continua a repetir o mesmo coro, agora amplificado por megafones e drones. O idealismo europeu virou ruído de fundo num conflito sem data de validade. E se Lawrence pudesse ver o estado do mundo que quis reformar, talvez escrevesse o epitáfio que lhe faltou: “Aqui jaz a ingenuidade.”
David Lean pegou nessa tragédia política e transformou-a num épico existencial. O cinema fez o que sempre faz quando não sabe lidar com a política: filmou o deserto e calou as causas.
Em Lawrence da Arábia, não há judeus, nem Weizmann, nem acordos de paz. Há luz, poeira, vento e o olhar azul de Peter O’Toole. Lean filmou a solidão, não a diplomacia.
A areia tornou-se símbolo de pureza quando, na realidade, escondia cadáveres e ressentimentos. Foi um golpe de génio e de manipulação. A lenda venceu a História. Hollywood lavou o sangue com estética e deu-nos um herói trágico onde havia um burocrata sonhador.
Lawrence acreditava que os árabes precisavam dos judeus, e que os judeus precisavam da terra. Hoje, essa fórmula parece uma ironia cruel.
Israel floresceu – tecnológico, urbano, próspero, mas também violento. Gaza definhou, pobre, sitiada, furiosa, até ser dominada pelo Hamas.
A profecia cumpriu-se pela metade. Lawrence subestimou a força da humilhação. Pensou que o progresso económico traria paz espiritual. Esqueceu-se de que identidade não se compra com infraestrutura. A sua visão de “cooperação produtiva” morreu logo que o primeiro colono ergueu uma bandeira. Era um idealista em guerra com o realismo britânico e com o orgulho árabe. Um homem que acreditava em pontes, mas acabou apenas a construir metáforas.
Corta para 2025. Donald Trump, mediador de um novo acordo de paz entre Israel e o Hamas. O homem que já vendeu tudo – do casino ao patriotismo – decide vender também a paz. A diferença é que Trump acredita que ela se faz com assinaturas em direto e slogans em prime time. Até ver… Lawrence, pelo menos, acreditava em ideias. Trump acredita em manchetes.
Mas ambos partilham algo essencial: a mesma ilusão de que o deserto pode ser domesticado. Ver Trump a posar entre Netanyahu e líderes árabes para selfies históricas é ver a caricatura do sonho de Lawrence, a mesma encenação imperial, só com menos poeira e mais marketing.
Há algo profundamente literário neste ciclo de promessas e fracassos. Gaza é hoje o espelho daquilo que Lawrence não quis aceitar: o deserto nunca foi o problema, o homem é que é.
Os impérios mudaram, os mediadores mudaram, as armas modernizaram-se, mas o solo é o mesmo. E o silêncio entre duas orações continua a ser o verdadeiro campo de batalha. Lawrence da Arábia ensinou-nos que o deserto é belo de longe, mas impossível de habitar. O mesmo vale para a paz.
Se há lição a tirar de Lawrence e dos seus sucessores, é esta: o deserto nunca se engana. Ouve todas as promessas, vê todos os acordos e continua imóvel.
O deserto é um lugar ingrato para visionários. T. E. Lawrence percebeu isso tarde, mas Hollywood tratou de lhe dar uma eternidade dourada. Lawrence da Arábia (1962) é um daqueles filmes que envelhecem melhor do que as histórias que os inspiraram. Peter O’Toole brilha, as dunas cintilam e a epopeia parece quase espiritual.
Mas o verdadeiro Lawrence não era propriamente um poeta perdido na areia: era também um homem de gabinete, obcecado por mapas e fronteiras. O Império Britânico precisava de intérpretes e mediadores. Ele quis ser ambos. Falava árabe, mas pensava como um europeu do início do século XX, convicto de que podia corrigir um continente inteiro com boa vontade e engenharia.
Nos seus diários – ou melhor, em Os Sete Pilares da Sabedoria – há menos romantismo do que pragmatismo. Lawrence via o Médio Oriente como um corpo adormecido que precisava de um choque externo. E acreditava que esse choque seria judaico. Que o sionismo, recém-nascido, traria modernidade ao deserto e produtividade a uma terra onde, nas suas palavras, “o sol queima mais do que as ideias florescem”.
A lenda do “amigo dos árabes” é, no mínimo, uma meia verdade. Lawrence lutou ao lado das tribos árabes contra o Império Otomano, mas nunca deixou de ser um homem do Império Britânico. Via nos árabes coragem e fé, mas também desorganização e atraso. E via nos judeus, que começavam a regressar à Palestina, um modelo ocidental capaz de transformar ruínas em cidades.
A equação de Lawrence era simples e perigosa: o entusiasmo árabe com a disciplina judaica. “Arabia for the Arabs, Judea for the Jews”, escreveu. Um slogan que hoje faria tremer qualquer diplomata da ONU ou negociador de paz. Lawrence sonhava com fronteiras limpas, como linhas traçadas num papel. Mas o deserto nunca foi um mapa. É, na verdade, uma metáfora. E ele, com todo o seu fervor idealista, acabou engolido por ela.
Num hotel de Londres, em 1919, Lawrence sentou à mesma mesa o príncipe Faisal, representante dos árabes, e Chaim Weizmann, líder do movimento sionista. Serviu chá, traduziu, sorriu. Acreditava que aquele gesto simples podia mudar o curso da História.
Por alguns minutos, pareceu possível: os dois homens apertaram as mãos e assinaram um acordo que prometia colaboração entre árabes e judeus na futura Palestina. Chamaram-lhe Acordo Faisal-Weizmann. Só que durou o tempo de arrefecer a chávena e nem chegaram a beber o bule todo.
Lawrence, otimista incurável, achava que os povos podiam entender-se se partilhassem o mesmo dicionário. Descobriu tarde que a palavra “terra” (prometida) tem traduções incompatíveis.
Poucos meses depois, Lawrence visitou Gaza. Winston Churchill, então ministro das Colónias, também foi. O cenário parecia diplomático: multidões, bandeiras, discursos. Mas a rua gritava “morte aos judeus”, enquanto os ingleses pensavam que eram aplausos. Lawrence percebeu as manifestações hostis, mas calou-se. Aprendeu o que o Ocidente ainda hoje não entende: no Médio Oriente, o entusiasmo e o ódio soam quase iguais. A sua utopia multicultural derreteu-se como gelo no deserto. Cem anos depois, Gaza continua a repetir o mesmo coro, agora amplificado por megafones e drones. O idealismo europeu virou ruído de fundo num conflito sem data de validade. E se Lawrence pudesse ver o estado do mundo que quis reformar, talvez escrevesse o epitáfio que lhe faltou: “Aqui jaz a ingenuidade.”
David Lean pegou nessa tragédia política e transformou-a num épico existencial. O cinema fez o que sempre faz quando não sabe lidar com a política: filmou o deserto e calou as causas.
Em Lawrence da Arábia, não há judeus, nem Weizmann, nem acordos de paz. Há luz, poeira, vento e o olhar azul de Peter O’Toole. Lean filmou a solidão, não a diplomacia.
A areia tornou-se símbolo de pureza quando, na realidade, escondia cadáveres e ressentimentos. Foi um golpe de génio e de manipulação. A lenda venceu a História. Hollywood lavou o sangue com estética e deu-nos um herói trágico onde havia um burocrata sonhador.
Lawrence acreditava que os árabes precisavam dos judeus, e que os judeus precisavam da terra. Hoje, essa fórmula parece uma ironia cruel.
Israel floresceu – tecnológico, urbano, próspero, mas também violento. Gaza definhou, pobre, sitiada, furiosa, até ser dominada pelo Hamas.
A profecia cumpriu-se pela metade. Lawrence subestimou a força da humilhação. Pensou que o progresso económico traria paz espiritual. Esqueceu-se de que identidade não se compra com infraestrutura. A sua visão de “cooperação produtiva” morreu logo que o primeiro colono ergueu uma bandeira. Era um idealista em guerra com o realismo britânico e com o orgulho árabe. Um homem que acreditava em pontes, mas acabou apenas a construir metáforas.
Corta para 2025. Donald Trump, mediador de um novo acordo de paz entre Israel e o Hamas. O homem que já vendeu tudo – do casino ao patriotismo – decide vender também a paz. A diferença é que Trump acredita que ela se faz com assinaturas em direto e slogans em prime time. Até ver… Lawrence, pelo menos, acreditava em ideias. Trump acredita em manchetes.
Mas ambos partilham algo essencial: a mesma ilusão de que o deserto pode ser domesticado. Ver Trump a posar entre Netanyahu e líderes árabes para selfies históricas é ver a caricatura do sonho de Lawrence, a mesma encenação imperial, só com menos poeira e mais marketing.
Há algo profundamente literário neste ciclo de promessas e fracassos. Gaza é hoje o espelho daquilo que Lawrence não quis aceitar: o deserto nunca foi o problema, o homem é que é.
Os impérios mudaram, os mediadores mudaram, as armas modernizaram-se, mas o solo é o mesmo. E o silêncio entre duas orações continua a ser o verdadeiro campo de batalha. Lawrence da Arábia ensinou-nos que o deserto é belo de longe, mas impossível de habitar. O mesmo vale para a paz.
Se há lição a tirar de Lawrence e dos seus sucessores, é esta: o deserto nunca se engana. Ouve todas as promessas, vê todos os acordos e continua imóvel.
Lawrence acreditava que podia desenhar um mundo melhor com régua e tinta. Trump acredita que pode fazê-lo com um tweet e depois com uma “Gaza Riviera”. Nenhum deles percebeu que o deserto não lê comunicados. E enquanto o Ocidente insiste em “resolver o Médio Oriente” como quem resolve um sudoku diplomático, o deserto continua a observar, paciente, sarcástico, eterno. As praias de Gaza, antes refúgios de lazer, transformaram-se com o conflito. São agora apenas lugares de sobrevivência e memória.
A seca na seara dos valores
O processo civilizatório se assemelha a uma régua que mede a evolução de costumes, princípios e valores, avanços e retrocessos. A régua está a mostrar, hoje, uma era de retrocessos, com a decadência moral (a libertinagem), a regressão social (as novas gerações são menos respeitosas ou educadas do que as anteriores), a perda de valores e a crença de que princípios como família, autoridade e religião estão sendo enfraquecidos.
Nem sempre ocorrem mudanças que emolduram a grandeza do Homem, principalmente ante a paisagem de devastação que flagra a crescente litigiosidade entre seres e Nações, a desvairada competividade no campo dos negócios e empreendimentos, a luta acirrada entre grupos, alas e até credos religiosos, cada qual com a ambição de brilhar na galeria dos maiores e melhores. O evangelismo subiu ao palco do espetáculo. A política acende a chama da polarização, sob a velha bandeira da luta de classes, como se constata na peroração eleitoral do presidente Luiz Inácio, que volta a bater no surrado refrão do “nós contra eles”.
Apesar de certos avanços fluírem sob a teia de pesquisas científicas em muitas áreas, como as ciências biomédicas, a inteligência artificial, a agricultura, a maquinaria produtiva, é inegável que, no sagrado nicho dos valores, a Humanidade vê arrefecido seu ideário de valores éticos.
A ambição, a luta do poder pelo poder, a inveja, a mentira, as falsidades que campeiam e impregnam a interlocução entre as pessoas, enfim, a ideia de que se deve tirar proveito de tudo constituem, entre outros, os braços que puxam o planeta para o seio de nossa ancestralidade. Olhe-se para esse mundo que dá adeus à ética. Olhe-se para a ética do governo de Donald Trump, amplamente debatida e criticada por especialistas, órgãos de fiscalização e opositores. O império Trump – pasmem! – cobra do governo Trump compensação equivalente a R$ 1,2 bilhão por investigações contra ele. Segundo o ‘New York Times’, a situação não tem paralelo na história dos EUA. Muitos dos funcionários do Departamento de Justiça responsáveis por aprovar os pagamentos foram indicados pelo republicano e atuaram como seus advogados. O caso envolve conflito de interesses, o uso da presidência para ganho pessoal e o enfraquecimento de normas e instituições éticas.
O nosso passado foi marcado pela valorização do compromisso. Os nossos pais e avós, ao firmarem negócios, garantiam pela palavra dada ao seu parceiro, o fechamento do acordo. Vi meu pai vendendo ou comprando terras e gado sob a força da palavra e do aperto de mão. Os papéis no cartório apenas finalizavam uma liturgia sagrada: a força da palavra. O débito, o crédito, a crença, a aceitação, a rejeição de alguma coisa tinham por trás o compromisso explícito pela palavra. A identidade das pessoas era ancorada na palavra e nos princípios que regiam a vida do cotidiano. Claro, havia desavenças. E até mortes no universo de famílias que lutavam entre si pelo poder. Mas um certo respeito se via até entre rivais.
A educação era um monumento de grandeza. Os pais lutavam, suavam, apuravam seus recursos para formar os filhos. Os recursos não eram investidos em bolsas de valores. Eram guardados em velhos e pesados cofres ou sob o colchão. Formar um filho, dar a ele a educação para enfrentar os desafios do futuro, compunha o sonho dos chefes e família. Orgulhavam-se de sua família bem-educada, bem instruída.
O educador era uma referência. De saber, de grandeza, de boa orientação, de conjunção de valores. Os professores realizavam seu labor com grande senso de responsabilidade, cobrando dos discentes disciplina e rigor no cumprimento das tarefas.
À propósito, pinço a lição da palestra de um rabino por ocasião de um casamento. A historinha se alastra num vídeo que circula nas redes sociais. Um ex-aluno encontra seu professor, aproxima-se dele e pergunta: “lembra de mim”? Responde o rabino: “Não, quem é você? Ah, você deve ter sido meu aluno”. O rapaz relembra a história, quando na escola, viu um colega com um lindo e caro relógio. Surripiou o relógio do amigo. Que, ao constatar o roubou, abriu o bico. Quem foi, quem não foi? Balbúrdia. O professor fechou a porta e pediu que todos formassem uma fila. O raptor ficou desesperado. Iria ser flagrado pois o professor iria procurar o relógio em todos os bolsos. Pediu para todos fecharem os olhos. E assim conseguiu recuperar o roubo. O ex-aluno: “professor, o senhor salvou minha alma, minha dignidade. O senhor sabe que fui eu”. O mestre: “mas eu nunca soube que foi você. Eu também estava de olhos fechados”.
Belo exemplo de educador. Que não tinha intenção de punir, mas a de transmitir o legado de consideração pelo outro. Uma aula de Dignidade. Que cai bem nesses tempos de acusações recíprocas, de falsidades, de ódio, de guerras fratricidas. Somos um mundo cheio de carências materiais. A fome ataca e ainda mata milhões. Mas a fome espiritual, essa que esvazia nossos sentimentos, destrói nossa seara de valores, ataca grupos e classes, com foco mais forte nos habitantes de cima da pirâmide social, movidos pelo impulso da ambição. Qual a razão? A vontade de poder. Nietzsche escreveu sobre “A vontade de poder”. Após sua morte, a irmã Elizabeth publicou uma coletânea de notas inéditas. Ali se lê: “Você quer um nome para este mundo? Uma solução para todos os seus enigmas? Este mundo é a vontade de poder – e nada além disso! E vocês também são essa vontade de poder – e nada além disso”.
Essa vontade, no meio da crise que a democracia vive na contemporaneidade, expande a era dos extremos, dos conflitos e da radicalização.
Nem sempre ocorrem mudanças que emolduram a grandeza do Homem, principalmente ante a paisagem de devastação que flagra a crescente litigiosidade entre seres e Nações, a desvairada competividade no campo dos negócios e empreendimentos, a luta acirrada entre grupos, alas e até credos religiosos, cada qual com a ambição de brilhar na galeria dos maiores e melhores. O evangelismo subiu ao palco do espetáculo. A política acende a chama da polarização, sob a velha bandeira da luta de classes, como se constata na peroração eleitoral do presidente Luiz Inácio, que volta a bater no surrado refrão do “nós contra eles”.
Apesar de certos avanços fluírem sob a teia de pesquisas científicas em muitas áreas, como as ciências biomédicas, a inteligência artificial, a agricultura, a maquinaria produtiva, é inegável que, no sagrado nicho dos valores, a Humanidade vê arrefecido seu ideário de valores éticos.
A ambição, a luta do poder pelo poder, a inveja, a mentira, as falsidades que campeiam e impregnam a interlocução entre as pessoas, enfim, a ideia de que se deve tirar proveito de tudo constituem, entre outros, os braços que puxam o planeta para o seio de nossa ancestralidade. Olhe-se para esse mundo que dá adeus à ética. Olhe-se para a ética do governo de Donald Trump, amplamente debatida e criticada por especialistas, órgãos de fiscalização e opositores. O império Trump – pasmem! – cobra do governo Trump compensação equivalente a R$ 1,2 bilhão por investigações contra ele. Segundo o ‘New York Times’, a situação não tem paralelo na história dos EUA. Muitos dos funcionários do Departamento de Justiça responsáveis por aprovar os pagamentos foram indicados pelo republicano e atuaram como seus advogados. O caso envolve conflito de interesses, o uso da presidência para ganho pessoal e o enfraquecimento de normas e instituições éticas.
O nosso passado foi marcado pela valorização do compromisso. Os nossos pais e avós, ao firmarem negócios, garantiam pela palavra dada ao seu parceiro, o fechamento do acordo. Vi meu pai vendendo ou comprando terras e gado sob a força da palavra e do aperto de mão. Os papéis no cartório apenas finalizavam uma liturgia sagrada: a força da palavra. O débito, o crédito, a crença, a aceitação, a rejeição de alguma coisa tinham por trás o compromisso explícito pela palavra. A identidade das pessoas era ancorada na palavra e nos princípios que regiam a vida do cotidiano. Claro, havia desavenças. E até mortes no universo de famílias que lutavam entre si pelo poder. Mas um certo respeito se via até entre rivais.
A educação era um monumento de grandeza. Os pais lutavam, suavam, apuravam seus recursos para formar os filhos. Os recursos não eram investidos em bolsas de valores. Eram guardados em velhos e pesados cofres ou sob o colchão. Formar um filho, dar a ele a educação para enfrentar os desafios do futuro, compunha o sonho dos chefes e família. Orgulhavam-se de sua família bem-educada, bem instruída.
O educador era uma referência. De saber, de grandeza, de boa orientação, de conjunção de valores. Os professores realizavam seu labor com grande senso de responsabilidade, cobrando dos discentes disciplina e rigor no cumprimento das tarefas.
À propósito, pinço a lição da palestra de um rabino por ocasião de um casamento. A historinha se alastra num vídeo que circula nas redes sociais. Um ex-aluno encontra seu professor, aproxima-se dele e pergunta: “lembra de mim”? Responde o rabino: “Não, quem é você? Ah, você deve ter sido meu aluno”. O rapaz relembra a história, quando na escola, viu um colega com um lindo e caro relógio. Surripiou o relógio do amigo. Que, ao constatar o roubou, abriu o bico. Quem foi, quem não foi? Balbúrdia. O professor fechou a porta e pediu que todos formassem uma fila. O raptor ficou desesperado. Iria ser flagrado pois o professor iria procurar o relógio em todos os bolsos. Pediu para todos fecharem os olhos. E assim conseguiu recuperar o roubo. O ex-aluno: “professor, o senhor salvou minha alma, minha dignidade. O senhor sabe que fui eu”. O mestre: “mas eu nunca soube que foi você. Eu também estava de olhos fechados”.
Belo exemplo de educador. Que não tinha intenção de punir, mas a de transmitir o legado de consideração pelo outro. Uma aula de Dignidade. Que cai bem nesses tempos de acusações recíprocas, de falsidades, de ódio, de guerras fratricidas. Somos um mundo cheio de carências materiais. A fome ataca e ainda mata milhões. Mas a fome espiritual, essa que esvazia nossos sentimentos, destrói nossa seara de valores, ataca grupos e classes, com foco mais forte nos habitantes de cima da pirâmide social, movidos pelo impulso da ambição. Qual a razão? A vontade de poder. Nietzsche escreveu sobre “A vontade de poder”. Após sua morte, a irmã Elizabeth publicou uma coletânea de notas inéditas. Ali se lê: “Você quer um nome para este mundo? Uma solução para todos os seus enigmas? Este mundo é a vontade de poder – e nada além disso! E vocês também são essa vontade de poder – e nada além disso”.
Essa vontade, no meio da crise que a democracia vive na contemporaneidade, expande a era dos extremos, dos conflitos e da radicalização.
sábado, 25 de outubro de 2025
Um país que parece não querer existir
Euclides da Cunha foi não apenas o grande ensaísta de Os Sertões; foi também um exímio analista político e um pensador que enxergava longe. É dele esta expressiva reflexão: “Somos um caso único de um país formado por uma teoria política. Estávamos destinados a formar uma raça histórica, através de um longo curso de existência política autônoma. Violada a ordem natural dos fatos, a nossa integridade étnica teria de constituir-se e manter-se garantida pela evolução social. Condenávamos à civilização. Ou progredir ou desaparecer”. Atualmente, só meia dúzia de obtusos ignoram que “nossa integridade étnica” está constituída. A maioria de nossa população é miscigenada. Nem pretos nem brancos. Pardos, na terminologia do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Cabe, no entanto, a dúvida: queremos mesmo formar uma “raça histórica”, ou seja, um país de verdade, uma civilização? Muitos fatos levam-nos a cogitar a hipótese contrária. Às vezes penso que não temos uma identidade nacional e não queremos ser um país com consistência própria. Que nosso desejo mais profundo seria afundar no mar.
Considerando que a nação mais rica do mundo, sob Donald Trump, desandou a flertar com o declínio, a hipótese nada tem de absurda. Menos absurda ainda se deitarmos uma vista d’olhos à Argentina, que chegou a ultrapassar vários países da Europa e atualmente se arrasta, como nós, numa “apagada e vil tristeza”.
Relembremos outros fatos internacionais pertinentes. Setenta anos atrás, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a China continental era um país atrasado. Fizera sua revolução, rompera relações com a URSS, mas ainda não projetara um futuro de grande potência. Poucos dias atrás, anunciou um feito tecnológico extraordinário. Testou um engenho ferroviário – um trem – que corre sobre trilhos, mas sem tocá-los. Uma camada magnética o mantém sobre trilhos, mas suspenso, o que lhe permite atingir a velocidade de 600 quilômetros por hora. Como não sentir uma ponta de tristeza ao ler tal notícia e lembrar que a ligação São Paulo-Rio de Janeiro pelo trem-bala da “presidenta” Dilma Rousseff nunca saiu do papel? Dito de outro modo, acabamos com o pouco que tínhamos e nada fizemos de novo. Entupimos as grandes cidades de automóveis, já antevendo um dia em que as ruas se tornarão intransitáveis.
Vejamos outro aspecto: a educação. Despreocupe-se o prezado leitor, não vou insistir no fato de não termos uma universidade entre as cem melhores do mundo. Volto a 1944, a Reforma Capanema, uma das falcatruas da era Vargas. Foi por meio daquela reforma que se criaram as Escolas Técnicas de Comércio, com a função de conferir às famílias daquilo que chamamos de “baixa classe média” diplomas supostamente equiparáveis aos dos “ginásios”, cujas anuidades não estavam ao alcance de suas magras bolsas. Além de distribuir diplomas, o que essas escolas fizeram foi petrificar a distância entre a classe média “alta” e as “baixas”. Os despojados da vida tinham a vantagem adicional de poderem estudar à noite e trabalhar durante o dia. Batiam o ponto de entrada às 8 horas da manhã, o de saída às 18 horas, comiam uma rápida empada na esquina e tratavam de chegar a tempo à aula das 19 horas. Em outras áreas, os governos que temos tido talvez sejam razoáveis, mas confio em que os especialistas em educação me farão a gentileza de corrigir e atualizar o que acima se expôs.
A questão que tão cedo não se calará é quem, afinal, manda neste país. Sim, somos uma democracia, as instituições parecem funcionar. Temos há dois séculos a divisão entre Três Poderes recomendada por Montesquieu. Mas instituições, como sabemos, são uma superestrutura que pode ou não ser efetiva, dependendo de como são insculpidas no arcabouço constitucional e do comportamento dos titulares que se revezam em sua titularidade. Dia sim e outro também, os jornais nos informam que centenas de juízes e procuradores auferem salários vastamente superiores ao teto estipulado em lei. Na magna questão da desigualdade de renda e riqueza, o que vemos é menos do que pouco, nem poderia ser diferente, considerando que nossa renda per capita permanece estagnada naqueles aviltantes 2,5% anuais.
Qual é, então, a “teoria política” que nos plasmou, segundo o enunciado de Euclides da Cunha? A de uma “classe média” que mal se preocupa em perscrutar seus interesses de médio prazo, se no curto consegue se aboletar em cargos públicos? A de um “Centrão” que não é um partido político, mas é forte o suficiente para impedir a formação de partidos confiáveis e consistentes? O nome desse quadro só pode ser estagnação, retrocesso. Desde o movimento armado que desfechou o movimento denominado Revolução de 1930 e deu continuidade a uma industrialização razoável, mas não espetacular, como volta e meia se apregoa, o resultado é o que salta aos olhos: uma minúscula elite garroteando a riqueza nacional; uma classe média esquálida, devidamente incrustada na máquina do Estado, eis que desprovida de bases para crescer, e um amazonas de miseráveis, ex-escravos, desempregados e analfabetos.
Considerando que a nação mais rica do mundo, sob Donald Trump, desandou a flertar com o declínio, a hipótese nada tem de absurda. Menos absurda ainda se deitarmos uma vista d’olhos à Argentina, que chegou a ultrapassar vários países da Europa e atualmente se arrasta, como nós, numa “apagada e vil tristeza”.
Relembremos outros fatos internacionais pertinentes. Setenta anos atrás, ao fim da Segunda Guerra Mundial, a China continental era um país atrasado. Fizera sua revolução, rompera relações com a URSS, mas ainda não projetara um futuro de grande potência. Poucos dias atrás, anunciou um feito tecnológico extraordinário. Testou um engenho ferroviário – um trem – que corre sobre trilhos, mas sem tocá-los. Uma camada magnética o mantém sobre trilhos, mas suspenso, o que lhe permite atingir a velocidade de 600 quilômetros por hora. Como não sentir uma ponta de tristeza ao ler tal notícia e lembrar que a ligação São Paulo-Rio de Janeiro pelo trem-bala da “presidenta” Dilma Rousseff nunca saiu do papel? Dito de outro modo, acabamos com o pouco que tínhamos e nada fizemos de novo. Entupimos as grandes cidades de automóveis, já antevendo um dia em que as ruas se tornarão intransitáveis.
Vejamos outro aspecto: a educação. Despreocupe-se o prezado leitor, não vou insistir no fato de não termos uma universidade entre as cem melhores do mundo. Volto a 1944, a Reforma Capanema, uma das falcatruas da era Vargas. Foi por meio daquela reforma que se criaram as Escolas Técnicas de Comércio, com a função de conferir às famílias daquilo que chamamos de “baixa classe média” diplomas supostamente equiparáveis aos dos “ginásios”, cujas anuidades não estavam ao alcance de suas magras bolsas. Além de distribuir diplomas, o que essas escolas fizeram foi petrificar a distância entre a classe média “alta” e as “baixas”. Os despojados da vida tinham a vantagem adicional de poderem estudar à noite e trabalhar durante o dia. Batiam o ponto de entrada às 8 horas da manhã, o de saída às 18 horas, comiam uma rápida empada na esquina e tratavam de chegar a tempo à aula das 19 horas. Em outras áreas, os governos que temos tido talvez sejam razoáveis, mas confio em que os especialistas em educação me farão a gentileza de corrigir e atualizar o que acima se expôs.
A questão que tão cedo não se calará é quem, afinal, manda neste país. Sim, somos uma democracia, as instituições parecem funcionar. Temos há dois séculos a divisão entre Três Poderes recomendada por Montesquieu. Mas instituições, como sabemos, são uma superestrutura que pode ou não ser efetiva, dependendo de como são insculpidas no arcabouço constitucional e do comportamento dos titulares que se revezam em sua titularidade. Dia sim e outro também, os jornais nos informam que centenas de juízes e procuradores auferem salários vastamente superiores ao teto estipulado em lei. Na magna questão da desigualdade de renda e riqueza, o que vemos é menos do que pouco, nem poderia ser diferente, considerando que nossa renda per capita permanece estagnada naqueles aviltantes 2,5% anuais.
Qual é, então, a “teoria política” que nos plasmou, segundo o enunciado de Euclides da Cunha? A de uma “classe média” que mal se preocupa em perscrutar seus interesses de médio prazo, se no curto consegue se aboletar em cargos públicos? A de um “Centrão” que não é um partido político, mas é forte o suficiente para impedir a formação de partidos confiáveis e consistentes? O nome desse quadro só pode ser estagnação, retrocesso. Desde o movimento armado que desfechou o movimento denominado Revolução de 1930 e deu continuidade a uma industrialização razoável, mas não espetacular, como volta e meia se apregoa, o resultado é o que salta aos olhos: uma minúscula elite garroteando a riqueza nacional; uma classe média esquálida, devidamente incrustada na máquina do Estado, eis que desprovida de bases para crescer, e um amazonas de miseráveis, ex-escravos, desempregados e analfabetos.
Proselitismo eletrônico
Mesmo com o inquestionável avanço da internet, podemos afirmar que a televisão aberta continua sendo um dos meios de informação e entretenimento mais democráticos e acessíveis à população brasileira. Democrático em essência, dado que as emissoras atuam mediante concessão de um serviço público. Não por acaso, precisam seguir regras e determinações condizentes com um Estado Democrático de Direito e de sua Constituição Federal, que o caracteriza como laico.
A prerrogativa da liberdade que define o regime de governo brasileiro se estende ao campo religioso. Dessa maneira, é contraditório que emissoras sigam operando mesmo depois de vender grande parte de seu tempo de programação para igrejas de uma mesma vertente de crença. Essa apropriação do conteúdo televisivo torna-se ainda mais problemática quando notadamente percebemos que aquilo que seria, a princípio, uma questão de fé, se transfigura em influência política.
Na esteira dessas distorções, foi aprovado, em 2022, o Projeto de Lei nº 5479/2019, que resultou na Lei nº 14.408/2022. Ela assegura às emissoras a possibilidade de vender até a totalidade de sua programação para a produção independente, desde que mantenham o controle sobre a qualidade do que é veiculado. Antes havia a instrução do Ministério Público de que conteúdos como o religioso se enquadravam como publicitários, o que os limitava a até 25% do espaço passível de ser comercializado pelos canais. A nova lei restringe o conceito de publicidade à promoção de produtos e serviços e de marca e imagem de empresas. Com isso, a venda de tempo televisivo para instituições religiosas, ironicamente, tornou-se ilimitada.
Antes dessa virada de mesa, algumas emissoras se viam ameaçadas de perder suas concessões por descumprir o teor da legislação então vigente, ultrapassando o teto na cessão de tempo de veiculação para igrejas. Os canais já argumentavam que não se tratava de venda de espaço para publicidade comercial, pleiteando que programas religiosos não poderiam ser comparados a um conteúdo de cunho mercadológico. Muitas decisões judiciais embarcaram nessa tese e, assim, deixaram de punir as emissoras por descumprimento das regras. A Lei nº 14.408/2022 chancelou, portanto, esse entendimento.
Vamos, então, retomar alguns aspectos cruciais para compreender as violações implicadas nessa trama. Já chamei a atenção para o caráter laico do Estado, que é corrompido quando um dos serviços prestados à população se destina, em sua grande maioria, a uma mesma vertente religiosa, subvertendo o princípio da laicidade.
É preciso destacar também que, em alguns casos, a receita proveniente desses programas religiosos consiste no grosso substancial de arrecadação da emissora, o que, em grande medida, torna nebulosa a justificativa de que não se trata de conteúdo comercial. Se não o é estritamente em natureza conteudística, não o deixa de ser em finalidade orçamentária.
Há, também, uma questão bastante delicada nesse imbróglio, que transcende a esfera do propósito espiritual ou de crença – o qual seria ou deveria ser o intento último de um programa de tevê dessa natureza. Levantamento recente do UOL puxou o fio de interferências de parlamentares diretamente interessados na aprovação do Projeto de Lei que passou a permitir maiores porcentuais de cessão de espaços televisivos para programas religiosos. Trata-se de um lobby no Congresso que, segundo a reportagem do portal, envolveu políticos ligados a igrejas e contou até mesmo com o apoio da Associação Brasileira de Rádio e Televisão.
Quando o discurso da fé deliberadamente invade o terreno dos ideais e interesses políticos, sem contar os econômicos, o golpe imposto aos preceitos de um Estado Democrático de Direito é ainda mais profundo.
Esse balaio de conveniências ganha novos contornos ardilosos com as recentes aproximações de pregadores evangélicos norte-americanos com pastores brasileiros. A ideologia do trumpismo busca, assim, avançar pelos flancos da fé. Nessa empreitada, pode congregar aliados que tenham, a seu dispor, um espaço televisivo privilegiado, que nunca deveria ser destinado à pregação política.
Para os que creem, legitimamente, em alguma vertente de evolução espiritual, trata-se de um mau uso da palavra. Para todos os brasileiros, indistintamente, significa mais uma afronta ao Estado Democrático de Direito.
A prerrogativa da liberdade que define o regime de governo brasileiro se estende ao campo religioso. Dessa maneira, é contraditório que emissoras sigam operando mesmo depois de vender grande parte de seu tempo de programação para igrejas de uma mesma vertente de crença. Essa apropriação do conteúdo televisivo torna-se ainda mais problemática quando notadamente percebemos que aquilo que seria, a princípio, uma questão de fé, se transfigura em influência política.
Na esteira dessas distorções, foi aprovado, em 2022, o Projeto de Lei nº 5479/2019, que resultou na Lei nº 14.408/2022. Ela assegura às emissoras a possibilidade de vender até a totalidade de sua programação para a produção independente, desde que mantenham o controle sobre a qualidade do que é veiculado. Antes havia a instrução do Ministério Público de que conteúdos como o religioso se enquadravam como publicitários, o que os limitava a até 25% do espaço passível de ser comercializado pelos canais. A nova lei restringe o conceito de publicidade à promoção de produtos e serviços e de marca e imagem de empresas. Com isso, a venda de tempo televisivo para instituições religiosas, ironicamente, tornou-se ilimitada.
Antes dessa virada de mesa, algumas emissoras se viam ameaçadas de perder suas concessões por descumprir o teor da legislação então vigente, ultrapassando o teto na cessão de tempo de veiculação para igrejas. Os canais já argumentavam que não se tratava de venda de espaço para publicidade comercial, pleiteando que programas religiosos não poderiam ser comparados a um conteúdo de cunho mercadológico. Muitas decisões judiciais embarcaram nessa tese e, assim, deixaram de punir as emissoras por descumprimento das regras. A Lei nº 14.408/2022 chancelou, portanto, esse entendimento.
Vamos, então, retomar alguns aspectos cruciais para compreender as violações implicadas nessa trama. Já chamei a atenção para o caráter laico do Estado, que é corrompido quando um dos serviços prestados à população se destina, em sua grande maioria, a uma mesma vertente religiosa, subvertendo o princípio da laicidade.
É preciso destacar também que, em alguns casos, a receita proveniente desses programas religiosos consiste no grosso substancial de arrecadação da emissora, o que, em grande medida, torna nebulosa a justificativa de que não se trata de conteúdo comercial. Se não o é estritamente em natureza conteudística, não o deixa de ser em finalidade orçamentária.
Há, também, uma questão bastante delicada nesse imbróglio, que transcende a esfera do propósito espiritual ou de crença – o qual seria ou deveria ser o intento último de um programa de tevê dessa natureza. Levantamento recente do UOL puxou o fio de interferências de parlamentares diretamente interessados na aprovação do Projeto de Lei que passou a permitir maiores porcentuais de cessão de espaços televisivos para programas religiosos. Trata-se de um lobby no Congresso que, segundo a reportagem do portal, envolveu políticos ligados a igrejas e contou até mesmo com o apoio da Associação Brasileira de Rádio e Televisão.
Quando o discurso da fé deliberadamente invade o terreno dos ideais e interesses políticos, sem contar os econômicos, o golpe imposto aos preceitos de um Estado Democrático de Direito é ainda mais profundo.
Esse balaio de conveniências ganha novos contornos ardilosos com as recentes aproximações de pregadores evangélicos norte-americanos com pastores brasileiros. A ideologia do trumpismo busca, assim, avançar pelos flancos da fé. Nessa empreitada, pode congregar aliados que tenham, a seu dispor, um espaço televisivo privilegiado, que nunca deveria ser destinado à pregação política.
Para os que creem, legitimamente, em alguma vertente de evolução espiritual, trata-se de um mau uso da palavra. Para todos os brasileiros, indistintamente, significa mais uma afronta ao Estado Democrático de Direito.
Assinar:
Comentários (Atom)




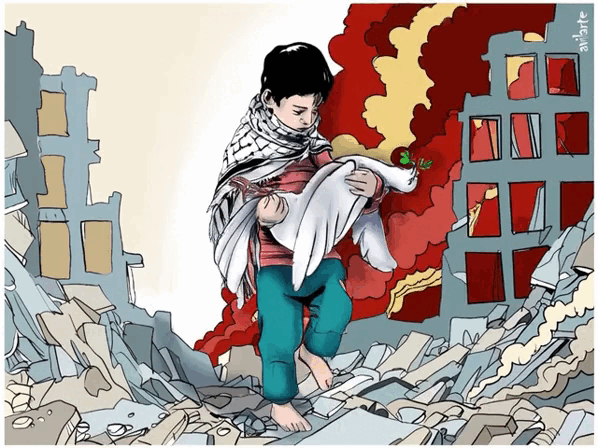



%20BECS.jpg?itok=s-16NIKq)