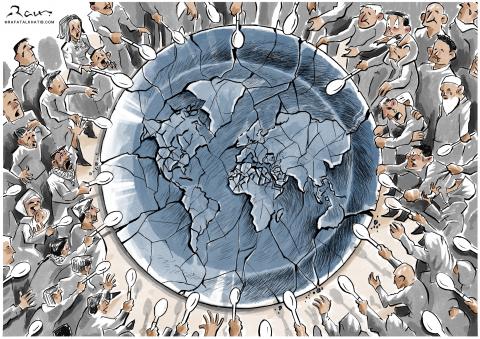quinta-feira, 31 de julho de 2025
Uma coisa totalmente normal de vender
Enquanto eu estava na academia, vi um homem na máquina ao meu lado vestindo uma camiseta do Alligator Alcatraz, e embora a maioria das coisas não me influencie mais politicamente, esta realmente influenciou. Aquela camiseta é um verdadeiro símbolo de um campo de concentração. As pessoas detidas lá não são criminosos que foram considerados culpados em um tribunal — são pessoas que Trump considerou indesejáveis. E agora que mais cinco locais foram aprovados em vários outros estados, a situação só está piorando. É realmente assustador.
A inteligência artificial é uma fresta para a revolução
A experiência humana cada vez mais se entrelaça com as telas. De fato, em seus distintos formatos – do cinema à televisão, do computador ao smartphone –, a tela não se limita a uma mera função projetiva inerte, ela é, sobretudo, uma prótese de percepção que o ser humano progressivamente foi obrigado a internalizar em seu aparelho psicofísico. Essa ideia, que à primeira vista pode soar como uma abstração filosófica, revela-se como um objeto tátil que nos permitirá compreender as mutações profundas em nosso modo de pensar, sentir, aprender e interagir com o mundo.
É nesse terreno, onde a tecnologia se funde com a fenomenologia da experiência íntima humana, que a inteligência artificial (IA) e, em particular, os modelos gerativos de linguagem natural e de linguagem da natureza já se apresentam como protagonistas de uma nova era da cultura e da civilização. Esta nova arma criada por cientistas em seus laboratórios experimentais é capaz de redefinir a própria noção que possuímos de comunicação, ou mesmo a própria dinâmica da educação e do trabalho. Com tantos elementos distintos na equação, finalmente podemos novamente mencionar, sem o constrangimento típico, as urgentes lutas sociais e políticas que precisamos reinaugurar.
Historicamente, a tela tem sido um instrumento poderoso na moldagem de percepções e na disseminação de ideologias. Desde a invenção do cinema, no alvorecer do século 20, testemunhamos a capacidade intrínseca dessa “nova mídia” de mobilizar as massas para processos de lutas através do estímulo ideológico, sempre ao redor de uma sensibilidade coletiva projetada como filmes-modelos. O cinema, em sua gênese, não foi apenas uma forma de entretenimento; ele se estabeleceu como um vetor de induções psíquicas, contribuindo tanto para ideologias revolucionárias (como as bolcheviques) quanto contrarrevolucionárias. Sua influência foi palpável na integração estratégica do império do capitalismo americano e, de forma ainda mais sombria, na adesão da população alemã ao nazismo.
A projeção de imagens em movimento, apresentadas em telas como personificação do mercado e de seus líderes políticos, exerceu um controle massivo. Esse controle espetacular foi capaz de reconfigurar a percepção visual e, por consequência, a própria realidade percebida. Aqui, a existência humana se entremeava com a existência da cultura fílmica. E, com a transição do suporte analógico para o digital, o cenário se tornou exponencialmente mais complexo.
A dita pós-modernidade, marcada pela ubiquidade das telas e pela velocidade da informação, intensificou esse processo de expropriação e orientação artificial da cognição. Os recentes ataques neofascistas às democracias globais, por exemplo, revelam um investimento estratégico justamente nas mesmas produções audiovisuais perversas – as fake news, os negacionismos, as montagens que compartilham envolvendo desde figuras bíblicas até políticos populistas – e novamente levaram ao extermínio partes da população, principalmente no Brasil e em sua aberta campanha ao genocídio de classes desfavorecidas. A mensagem direcionada ao gerenciamento ideológico e ontológico às sociedades açoitadas pelo subdesenvolvimento, como a nossa, é implacável e demanda um grande aparato manipulador que intermeia tais ataques, este é o papel daquilo que conhecemos com “a mídia”.
Essa rede de organização política da informação, facilitada pela onipresença das telas, demonstra o quão profundamente nossa percepção pode ser constrangida por estímulos cuidadosamente orquestrados, eles têm caracteres libidinais, consumistas, de pertencimento, de estilos e opções personalíssimas como a moda, a gastronomia, a estética corporal etc. É nesse contexto entre a instrumentalização das nossas telas que há muito trava-se uma guerra pelo poder. E aqui, a IA é, antes de tudo, uma potencial forma de contra-informação, um modelo que, se olhado em sua “essência”, não será apenas instrumento e/ou dispositivo de intensificação da desigualdade, mas uma oportunidade de reformas estruturais planetárias. É esse o risco e o desespero que podemos pressentir entre os comportamentos extremista e irracionais da elite governante e econômica.
Ferramentas que atuam com base em deep learning (aprendizado profundo de máquina não supervisionado) orientadas por redes neurais artificiais (RNAs) processam informações ininterruptamente e autonomamente; elas as criam, as moldam e as disseminam em uma escala e velocidade sem precedentes. O papel humano torna-se limitado em certos processos de uma rede neural. Em certo ponto, a mente humana e a mente artificial se desacoplam, e apenas uma é capaz de se mover com expertise neste plano de uma realidade totalmente digitalizada.
É um fenômeno que exige nossa mais profunda atenção, pois aqui ainda sobressaem os riscos e assédios que observamos diariamente, ou seja, há um anseio do poder neoliberal em dominar tal tecnologia utilizada como um bem voltado à produtividade. Porém, também há um campo de forças insurrecionais que sequer o próprio sistema de controle e produção pode gerir, impedir, ou mesmo judicializar.
A questão não é mais se a IA influenciará a humanidade, mas como ela delineará as qualidades políticas, eleitorais, educacionais, subjetivas, institucionais, diplomáticas e bélicas nos próximos anos. Os dias atuais nos confrontam com uma realidade onde a comunicação política se transformou em um campo de batalha, e a “guerra de vídeos” deflagrada recentemente pela esquerda nacional, provisoriamente intitulada “Nós contra eles”, é um exemplo contundente dessa nova dinâmica. De fato, nossa única possibilidade de uma instrumentalização efetiva a um processo revolucionário, o único “revide” que nos sobrou e que tanto aguardávamos efetivar, após séculos de exploração e injustiça. São essas as condições materiais de desencadeamento de novas gramáticas de lutas de classes e, como toda nova ação insurgente, novas dinâmicas devem entrar. Fomos deveras provocados, na captura de nosso querer e na segregação de nossas ações solidárias.
Diante desse cenário tecnológico, apenas meia dúzia de vídeos curtos, mas que escandalizam o papel do Congresso Nacional e da estupidez da classe dominante, já fez solavancar e aterrorizar o status quo tanto da oposição quanto dos veículos de imprensas líderes. Recorrer à IA para defender a taxação dos super-ricos, o fim da escala 6×1, maior acesso à distribuição de recursos e serviços sob novas figurações de produto audiovisuais democráticos, acessíveis e esclarecedores demonstrou que podemos recorrer à linguagem fílmica que ocupa as redes sociais, e isso nos sinaliza para a urgência de dominar esse novo terreno da comunicação política, onde a direita tem historicamente trafegado com maior desenvoltura.
O novo uso da IA para uma causa, para reacender a militância em torno de uma bandeira socialmente relevante, é um tipo de inflamação popular que não será mais contido. Uma característica relevante dessas novas produções é que não há identidades de militantes, não é possível sequer atribuir a um ser humano a confecção dos vídeos. De certo, digitamos na caixa de texto a narração da cena, os personagens, o conteúdo (mesmo que abstrato), mas são as próprias redes neurais que constroem o vídeo, sonorizam, editam, criam efeitos especiais, transmitem uma mensagem valiosa. Sequer o Partido dos Trabalhadores (PT) pode ser identificado como autor e promovedor do movimento, até porque o governo é de viés legalista e neoliberal. A impossibilidade de acusar indivíduos de subversão pela natureza mesma dessa produções não permitirá que a justiça, a política ou qualquer órgão estatal seja capaz de punir, incriminar. Abre-se uma era de anarquismo comunicacional, e os projetos de regulamentação da IA são equivocados tanto do ponto de vista técnico quanto conceitual.
Os vídeos divulgados por militantes de esquerda, e suas redes neurais, cumpriram um efeito simbólico e mobilizador. Sem precisar apelar às retóricas de ódio e acusações agressivas contra representantes específicos, ali apresenta-se estilisticamente a imagem-movimento de um antro degradado de acordos de políticos que se julgam astutos e cujos mecanismos de corrupção não podemos contestar. Acontece que, para nós, temos um passado literário e científico produzido por grandes figuras do pensamento, que nos legou a potência de criar maior impacto, capaz de criar compreensões mais fortalecidas da natureza humana, da imensidão das formas de existência e resistência. A IA tem um imenso poder duplo: pode tanto emancipar quanto manipular a construção de consensos, levando à polarização radical.
Neste ponto, é papel da universidade renovar seus votos de compromisso com a vida. Para as academias não resta alternativa a não ser imprimir o máximo de facilitação entre as sociedades e esta nova fonte de saber-poder. Se insistir em estratificação e burocratização, as universidades do mundo enfrentarão formas ostensivas de contestações, na mesma moeda que enfrentarão os governos, o latifúndio agrário, os regimes e escalas de trabalho, a participação aos bens públicos e aos direitos fundamentais. As academias precisam fazer valer o papel que há tanto lhe foi confiado, mesmo que a atual tecnologia social de suas ações não as permitam cumprirem tal magnânima missão.
É nesse cenário de incertezas e de um poder tecnológico em constante expansão que a IA, paradoxalmente, pode se apresentar como esta “fresta para a revolução”. Não se trata de uma revolução nos moldes tradicionais, com levantes populares, barricadas, assaltos com milícias armadas e mudanças abruptas de regime, mas de uma mensagem oculta, silenciosa e íntima, que torna o sistema dominante o arquétipo maior do inimigo. No que tange às relações de poder e saber, outra dimensão discursiva será produzida pelas redes neurais, revitalizando conceitos e fenômenos, histórias de lutas modernas e antigas, em que novamente nos deparamos com a opressão das classes oprimidas e que sempre apostaram na mobilização. Agora, a informatização das lutas permite um caminho promissor.
Se a IA é capaz de gerar e disseminar narrativas em escala massiva, ela também pode ser utilizada para desconstruir narrativas hegemônicas e para amplificar vozes dissidentes. A atual ação da esquerda nacional é um prenúncio disso: a apropriação de ferramentas tecnológicas para disputar a narrativa e mobilizar a base, mesmo que com recursos limitados, pode ser uma nova forma de marginalismo heroico, o uso estratégico e consciente para fins de transformação social sob um rígido suporte popular. A IA, nesse sentido, é um catalisador de novas possibilidades, de vozes periféricas, excomungados, amaldiçoados e portadores de doenças psíquicas. Um campo de disputa onde o futuro da luta social e mental pode ser redefinido. A história, que parecia ter chegado ao seu fim, pode estar apenas começando, impulsionada por essa nova força tecnológica que, se bem utilizada, pode nos levar a um mundo mais livre, solidário e igualitário.
A USP, construída sobre a excelência na ciência, cultura, arte e filosofia, depende da nossa capacidade de questionar o mundo com abertura, desprendimento, inteligência e coragem. A ocupação desta universidade, por décadas, de grandes expoentes do intelectualismo nacional, permite que derivemos a clareza de propósito e a coerência ética para que a tecnologia atual sirva à emancipação humana, e não à sua subjugação. Que a história, que se desenrola diante de nossos olhos, cujo materialismo é a própria abstração do código, seja um instrumento a serviço dessa construção coletiva.
A “fresta para a revolução” que a IA pode abrir não se concretizará sem um esforço consciente e coletivo para garantir que essa tecnologia seja desenvolvida e utilizada de forma transparente e responsável, e, neste ponto, almejamos uma democracia direta, de participação livre e aberta de todas(os) os brasileiros(as). O dispositivo da IA pode realizar a aproximação entre tudo o que foi institucionalizado e o interesse público, o que nos faz prescindir de representação política, dos poderes republicanos e, principalmente, de uma polícia militar e de forças armadas descoladas da realidade do mundo. A verdadeira revolução, portanto, é um projeto de sociedade mais inclusivo, pacífico e democrático. É um convite à intervenção, a uma apropriação estética dessa ferramenta poderosa, para que a história não se repita daqui em diante, ou que se repita sem os velhos e boçais personagens, agora satirizados e humilhados por jovens rebelados sem qualquer inserção ou reconhecimento social, profissional e intelectual.
A verdadeira revolução não será travada nas ruas, mas nas redes neurais. A IA representa uma oportunidade histórica de democratizar o poder da informação e dar voz aos silenciados. Cabe à universidade, e especialmente à USP, liderar esse processo de forma ética e responsável. O futuro da democracia pode depender de nossa capacidade de transformar essa tecnologia em instrumento de emancipação, não de opressão.
Tempos sombrios
Realmente, vivemos muito sombrios!
A inocência é loucura. Uma fronte sem rugas
denota insensibilidade. Aquele que ri
ainda não recebeu a terrível notícia
que está para chegar.
Que tempos são estes, em que
é quase um delito
falar de coisas inocentes.
Pois implica silenciar tantos horrores!
Esse que cruza tranquilamente a rua
não poderá jamais ser encontrado
pelos amigos que precisam de ajuda?
É certo: ganho o meu pão ainda,
Mas acreditai-me: é pura casualidade.
Nada do que faço justifica
que eu possa comer até fartar-me.
Por enquanto as coisas me correm bem
(se a sorte me abandonar estou perdido).
E dizem-me: "Bebe, come! Alegra-te, pois tens o quê!"
Mas como posso comer e beber,
se ao faminto arrebato o que como,
se o copo de água falta ao sedento?
E todavia continuo comendo e bebendo.
Também gostaria de ser um sábio.
Os livros antigos nos falam da sabedoria:
é quedar-se afastado das lutas do mundo
e, sem temores,
deixar correr o breve tempo. Mas
evitar a violência,
retribuir o mal com o bem,
não satisfazer os desejos, antes esquecê-los
é o que chamam sabedoria.
E eu não posso fazê-lo. Realmente,
vivemos tempos sombrios.
Para as cidades vim em tempos de desordem,
quando reinava a fome.
Misturei-me aos homens em tempos turbulentos
e indignei-me com eles.
Assim passou o tempo
que me foi concedido na terra.
Comi o meu pão em meio às batalhas.
Deitei-me para dormir entre os assassinos.
Do amor me ocupei descuidadamente
e não tive paciência com a Natureza.
Assim passou o tempo
que me foi concedido na terra.
No meu tempo as ruas conduziam aos atoleiros.
A palavra traiu-me ante o verdugo.
Era muito pouco o que eu podia. Mas os governantes
Se sentiam, sem mim, mais seguros, — espero.
Assim passou o tempo
que me foi concedido na terra.
As forças eram escassas. E a meta
achava-se muito distante.
Pude divisá-la claramente,
ainda quando parecia, para mim, inatingível.
Assim passou o tempo
que me foi concedido na terra.
Vós, que surgireis da maré
em que perecemos,
lembrai-vos também,
quando falardes das nossas fraquezas,
lembrai-vos dos tempos sombrios
de que pudestes escapar.
Íamos, com efeito,
mudando mais frequentemente de país
do que de sapatos,
através das lutas de classes,
desesperados,
quando havia só injustiça e nenhuma indignação.
E, contudo, sabemos
que também o ódio contra a baixeza
endurece a voz. Ah, os que quisemos
preparar terreno para a bondade
não pudemos ser bons.
Vós, porém, quando chegar o momento
em que o homem seja bom para o homem,
lembrai-vos de nós
com indulgência.
Bertolt Brecht
Aqui, na abundância
“E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer?”, escreveu Carolina Maria de Jesus, mulher negra das favelas de São Paulo, que catava o lixo para se sustentar a si e aos três filhos. O seu primeiro livro, Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, publicado nos anos 60, foi um estrondo, de vendas e de consciências.
Aqui, na abundância, não é fácil entender essa “tontura da fome” que Carolina descrevia, a fome extrema até o corpo ficar a tremer, até o cérebro desligar para se poupar à falta de energia, deixando uma pessoa quase sem raciocínio. A única coisa que funciona é o instinto, a procura incessante por alimento, sem que o cérebro tenha sequer a capacidade de avaliar o risco/benefício, como o de ir para uma fila de distribuição de comida ou de água sujeito a ser baleado. Mas qual é a alternativa?
Aqui, na abundância, não faltam ecrãs onde assistimos em direto à fome em Gaza e depois gastamos tempo e recursos a discutir se as fotos são verdadeiras ou não.
O grau de alheamento é tal que Benjamin Netanyahu consegue dizer, com o ar mais sério do mundo: “Não há fome em Gaza.” E até Donald Trump lhe responde: “Aquilo não se pode fingir.”
Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, 150 pessoas morreram à fome, um número que inclui 88 crianças; e, segundo as Nações Unidas, cerca de mil pessoas foram assassinadas enquanto esperavam nas filas de distribuição de comida.
Os reféns ainda cativos (50, sendo que vivos já serão apenas 20) já não são motivo, há muito, para justificar a barbárie – aliás, as famílias dos reféns juntaram-se aos pais dos soldados e a milhares de pessoas em protestos, na semana passada, em Tel Aviv, contra Benjamin Netanyahu. Exigem o fim da guerra e o objetivo primeiro que falta cumprir: trazer os reféns para casa.
Por outro lado, duas das principais organizações de direitos humanos israelitas, as ONG B’Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos, acusam, pela primeira vez, Israel de estar a cometer genocídio. Dizem que, nestes dois anos, existiu um “ataque claro e intencional contra civis para destruir um determinado grupo”. E pergunta a diretora da B’Tselem: “O que fazemos perante um genocídio?”
Não é de forma leviana que se usa a palavra genocídio e, segundo a sua definição no Direito português, inclui: “Homicídio de membros do referido grupo; Ofensa grave à integridade física de membros do grupo; Sujeição do grupo a condições existenciais ou a tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, aptos para provocarem a sua destruição, total ou parcial; Transferência forçada de crianças desse grupo para outro; Imposição de medidas destinadas a impedir a procriação ou os nascimentos no grupo.”
O que irá fazer a Europa? França acabou de anunciar que vai reconhecer o Estado da Palestina e é o primeiro país do G7 e o primeiro membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas a fazê-lo. Espanha, Irlanda, Suécia estão entre os dez países dos 27 da União Europeia que já o fizeram. Em julho, PSD, CDS, Chega e IL chumbaram uma proposta para Portugal também o fazer.
No início desta semana, nas Nações Unidas, discutiu-se a solução de existência de dois Estados. Estados Unidos e Israel boicotaram a conferência da ONU, promovida por França e pela Arábia Saudita. Israel, com a sua crueldade, pode estar a empurrar o mundo para o apoio à criação do Estado palestiniano. Mas, como bem resumiu Donald Trump, falando sobre Emmanuel Macron: “O que ele disser não importa. Não vai mudar nada.”
Aqui, na abundância, não é fácil entender essa “tontura da fome” que Carolina descrevia, a fome extrema até o corpo ficar a tremer, até o cérebro desligar para se poupar à falta de energia, deixando uma pessoa quase sem raciocínio. A única coisa que funciona é o instinto, a procura incessante por alimento, sem que o cérebro tenha sequer a capacidade de avaliar o risco/benefício, como o de ir para uma fila de distribuição de comida ou de água sujeito a ser baleado. Mas qual é a alternativa?
Aqui, na abundância, não faltam ecrãs onde assistimos em direto à fome em Gaza e depois gastamos tempo e recursos a discutir se as fotos são verdadeiras ou não.
O grau de alheamento é tal que Benjamin Netanyahu consegue dizer, com o ar mais sério do mundo: “Não há fome em Gaza.” E até Donald Trump lhe responde: “Aquilo não se pode fingir.”
Segundo o Ministério da Saúde palestiniano, 150 pessoas morreram à fome, um número que inclui 88 crianças; e, segundo as Nações Unidas, cerca de mil pessoas foram assassinadas enquanto esperavam nas filas de distribuição de comida.
Os reféns ainda cativos (50, sendo que vivos já serão apenas 20) já não são motivo, há muito, para justificar a barbárie – aliás, as famílias dos reféns juntaram-se aos pais dos soldados e a milhares de pessoas em protestos, na semana passada, em Tel Aviv, contra Benjamin Netanyahu. Exigem o fim da guerra e o objetivo primeiro que falta cumprir: trazer os reféns para casa.
Por outro lado, duas das principais organizações de direitos humanos israelitas, as ONG B’Tselem e Médicos pelos Direitos Humanos, acusam, pela primeira vez, Israel de estar a cometer genocídio. Dizem que, nestes dois anos, existiu um “ataque claro e intencional contra civis para destruir um determinado grupo”. E pergunta a diretora da B’Tselem: “O que fazemos perante um genocídio?”
Não é de forma leviana que se usa a palavra genocídio e, segundo a sua definição no Direito português, inclui: “Homicídio de membros do referido grupo; Ofensa grave à integridade física de membros do grupo; Sujeição do grupo a condições existenciais ou a tratamentos cruéis, degradantes ou desumanos, aptos para provocarem a sua destruição, total ou parcial; Transferência forçada de crianças desse grupo para outro; Imposição de medidas destinadas a impedir a procriação ou os nascimentos no grupo.”
O que irá fazer a Europa? França acabou de anunciar que vai reconhecer o Estado da Palestina e é o primeiro país do G7 e o primeiro membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas a fazê-lo. Espanha, Irlanda, Suécia estão entre os dez países dos 27 da União Europeia que já o fizeram. Em julho, PSD, CDS, Chega e IL chumbaram uma proposta para Portugal também o fazer.
No início desta semana, nas Nações Unidas, discutiu-se a solução de existência de dois Estados. Estados Unidos e Israel boicotaram a conferência da ONU, promovida por França e pela Arábia Saudita. Israel, com a sua crueldade, pode estar a empurrar o mundo para o apoio à criação do Estado palestiniano. Mas, como bem resumiu Donald Trump, falando sobre Emmanuel Macron: “O que ele disser não importa. Não vai mudar nada.”
A precarização como dogma
Quem disse que Deus morreu talvez não tenha percebido que ele apenas se transformou. Hoje, atende por mercado, ou melhor capitalismo. Onipresente, invisível e caprichoso, o novo Deus não exige preces ou orações, mas produtividade.
Vivemos em novos tempos e tempos curiosos, o capitalismo que antes era conhecido como sistema econômico, atualmente não se tornou somente uma ideologia, mas uma religião, onde fé e dominação caminham lado a lado. O neoliberalismo, é doutrina teológica do capital, canonizou os indivíduos e as sociedades, beatificou o empreendedorismo e excomungou os direitos dos mais necessitados Afinal, como dizem os novos apóstolos do capital: “quem tem direito, não tem mérito”
Nesse cenário, a precarização da vida não é um acidente de trajeto, mas sim uma causa consciente. É um projeto. É um dogma. É uma doutrina. A tal “liberdade econômica”, repetida em “missas” tecnocráticas por economistas ungidos nas cátedras do capital, não visa liberdade da pobreza ou da desigualdade, mas sim a purificação do sistema, de qualquer resquício de dignidade humana daqueles que “atrapalham” o desenvolvimento do mercado.
Na espiritualidade do capital, a desigualdade não é o problema, mas um sinal de conquista daqueles que “se esforçaram mais” nos lobbies realizados nos corredores da política, pois: “eu lutei pela minha fortuna não ser taxada, se você perdeu, foi porque não se esforçou bastante. A justiça social, se ousa existir, é tratada como um percalço no desenvolvimento econômico, uma heresia estatal. Jung Mo Sung denuncia com precisão essa lógica perversa em seu livro Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos:
Aqui, a ironia é crua e realista para aqueles que crêem na realidade: o valor da vida não está na sua humanidade, mas no acesso ao luxo, ao conforto privado, as cifras no branco. A espiritualidade do mercado promete ascensão e sucesso – desde que você suba pela escada da competitividade individual.
É nesse espírito que Jung So Mung e Josué Cândido da Silva nos propõe uma reflexão sobre o fetiche da riqueza em seu livro Conversando sobre ética e sociedade:
“Nas nossas sociedades modernas capitalistas, com o mito do progresso, a economia passou a ser um fim em si mesma. As pessoas não trabalham mais para viver, mas vivem para trabalhar e ganhar dinheiro. As pessoas se perguntam “como ganhar dinheiro”, mas dificilmente se pergunta, “para que ganhar dinheiro”. Diante dessa pergunta inconveniente, respondem que é para ganhar mais dinheiro ou para poder comprar muitas coisas. Mas comprar é trocar dinheiro por um outro tipo de riqueza. No fundo, continua no mesmo objetivo de acumular riquezas.”
Ademais, a vida se tornou um meio para o dinheiro, para o capital. Trabalha-se para consumir. Consome-se para justificar a própria existência. Acumula riqueza para demonstrar o valor da existência.
Os mesmo autores ainda lembram algo essencial:
O capital através do mercado, não apenas determina o que é valor, mas também quem é incluído nos seus cálculos e quem deverá ser excluído. A quem não prática essa religião chamada capitalismo, apenas resta a indignação.
Enquanto isso, os deuses da Faria Lima seguem nos observando do alto de suas salas envidraçadas e torcendo para que suas riquezas não sejam taxadas, pois o Estado Social já existe para eles.
Diogo Almeida Camargos
Vivemos em novos tempos e tempos curiosos, o capitalismo que antes era conhecido como sistema econômico, atualmente não se tornou somente uma ideologia, mas uma religião, onde fé e dominação caminham lado a lado. O neoliberalismo, é doutrina teológica do capital, canonizou os indivíduos e as sociedades, beatificou o empreendedorismo e excomungou os direitos dos mais necessitados Afinal, como dizem os novos apóstolos do capital: “quem tem direito, não tem mérito”
Nesse cenário, a precarização da vida não é um acidente de trajeto, mas sim uma causa consciente. É um projeto. É um dogma. É uma doutrina. A tal “liberdade econômica”, repetida em “missas” tecnocráticas por economistas ungidos nas cátedras do capital, não visa liberdade da pobreza ou da desigualdade, mas sim a purificação do sistema, de qualquer resquício de dignidade humana daqueles que “atrapalham” o desenvolvimento do mercado.
Na espiritualidade do capital, a desigualdade não é o problema, mas um sinal de conquista daqueles que “se esforçaram mais” nos lobbies realizados nos corredores da política, pois: “eu lutei pela minha fortuna não ser taxada, se você perdeu, foi porque não se esforçou bastante. A justiça social, se ousa existir, é tratada como um percalço no desenvolvimento econômico, uma heresia estatal. Jung Mo Sung denuncia com precisão essa lógica perversa em seu livro Idolatria do Dinheiro e Direitos Humanos:
“O ideal utópico do neoliberalismo é um mercado que seja totalmente livre das intervenções e limitações da parte do Estado e da sociedade. Para eles, quem tem direito não são todos os seres humanos, nem todos os cidadãos, mas os que têm capacidade de realizar seus direitos através da relação de compra e venda, isto é os consumidores que podem pagar no mercado. Os direitos fundamentais dos seres humanos não nasceriam de dignidade humana, mas sim do contrato de compra e venda no mercado.”
Ou seja, não somos sujeitos de direitos, mas clientes da existência. E só tem dignidade quem pode pagar por ela.
A lógica da acumulação se disfarça de racionalidade, eficiência, liberdade e meritocracia. Mas no fim das contas, é apenas a velha idolatria ao capital, ao dinheiro. Como já ironizava Pink Floyd em Money (1973):“Ah, don’t give me that do-goody-good bullshit I’m in the high-fidelity, first class travelling set And I think I need a Learjet”( “Ah, não me venha com essa de bonzinho, eu estou no grupo de viagens de alta fidelidade, primeira classe, e acho que preciso de um Learjet” )
Aqui, a ironia é crua e realista para aqueles que crêem na realidade: o valor da vida não está na sua humanidade, mas no acesso ao luxo, ao conforto privado, as cifras no branco. A espiritualidade do mercado promete ascensão e sucesso – desde que você suba pela escada da competitividade individual.
É nesse espírito que Jung So Mung e Josué Cândido da Silva nos propõe uma reflexão sobre o fetiche da riqueza em seu livro Conversando sobre ética e sociedade:
“Nas nossas sociedades modernas capitalistas, com o mito do progresso, a economia passou a ser um fim em si mesma. As pessoas não trabalham mais para viver, mas vivem para trabalhar e ganhar dinheiro. As pessoas se perguntam “como ganhar dinheiro”, mas dificilmente se pergunta, “para que ganhar dinheiro”. Diante dessa pergunta inconveniente, respondem que é para ganhar mais dinheiro ou para poder comprar muitas coisas. Mas comprar é trocar dinheiro por um outro tipo de riqueza. No fundo, continua no mesmo objetivo de acumular riquezas.”
Ademais, a vida se tornou um meio para o dinheiro, para o capital. Trabalha-se para consumir. Consome-se para justificar a própria existência. Acumula riqueza para demonstrar o valor da existência.
Os mesmo autores ainda lembram algo essencial:
“O que não podemos esquecer é que “consumidor” não é sinônimo de cidadão ou ser humano. Consumidor é o ser humano que tem dinheiro para entrar no mercado. Aqueles que não têm não são consumidores e estão fora do mercado. As mercadorias não são destinadas à satisfação, mas sim dos consumidores.”
O capital através do mercado, não apenas determina o que é valor, mas também quem é incluído nos seus cálculos e quem deverá ser excluído. A quem não prática essa religião chamada capitalismo, apenas resta a indignação.
Enquanto isso, os deuses da Faria Lima seguem nos observando do alto de suas salas envidraçadas e torcendo para que suas riquezas não sejam taxadas, pois o Estado Social já existe para eles.
Diogo Almeida Camargos
Ruh al-ruh ('Alma da minha alma')
Reem, de apenas três anos, era a menina dos olhos de Khaled Nabhan. Repetia seus gestos durante as orações, sentava-se no seu colo enquanto ele tomava o café da manhã e o espiava pela janela da casa em Deir al-Balah sempre que ele saía para sua caminhada vespertina.
O cerco traumatizou a pequena Reem, mas era nos braços do avô que ela encontrava abrigo durante os intensos bombardeios. O barulho dos ataques aéreos e o cenário de morte cercavam seu jovem corpo até que, em 28 de novembro de 2023, ele a levou consigo.
Khaled não estava em casa quando Reem adormeceu em seu descanso final. Um ataque aéreo israelense, lançado contra o campo de refugiados vizinho de Al-Nuseirat, atingiu a casa da família e tirou a vida da pequena Reem.
Khaled voltou para casa e encontrou o corpo inerte da neta. Ergueu Reem diante das câmeras e beijou sua pequena testa. “Ela era a alma da minha alma”, chorou o avô, segurando-a nos braços. Khaled e Reem compartilhavam o mesmo dia de aniversário.
Acariciando o corpo sem vida de Reem, Nabhan murmurou uma elegia comovente. Suas palavras, “ruh el-ruh”, expressão árabe que significa “a alma da minha alma”, ecoaram pelo mundo após o massacre.
Essas palavras se tornariam um grito de guerra. “Ela era a alma da minha alma”, repetiu ele, olhando para o rosto de Reem pela última vez antes de entregá-la a um estranho encarregado de encontrar seu local de sepultamento.
Os momentos finais deste avô palestino segurando o corpo sem vida e manchado de sangue de sua neta se espalharam amplamente pelas redes sociais, simbolizando a imensa dor que os palestinos suportam diariamente enquanto Israel continua bombardeando Gaza.
Khaled estava devastado, mas calmo, tomado pela dor de um avô que acabara de perder a neta. Ele não prometeu vingança, não gritou gritos de guerra nem demonstrou raiva diante das câmeras que o filmavam.
As memórias de Reem foram enterradas a dois metros de profundidade, sob os escombros de sua casa destruída. Mais tarde naquela semana, Khaled encontrou uma das bonecas dela nos escombros.
Enquanto falava com a CNN, ele a segurou nos braços como fazia com Reem. Em seguida, levantou o rosto da boneca para encontrá-lo e beijou-a na testa. “Eu costumava beijá-la nas bochechas, no nariz, e ela ria”, disse Khaled, segurando a boneca sem vida e lembrando-se da alma que perdeu.
Após o assassinato brutal de Reem, o “avô amado” continuava sendo visto entre as crianças de Gaza, brincando com elas e distribuindo pequenos presentes.
Segundo vizinhos, essa presença constante entre os pequenos era uma forma de catarse: uma tentativa de suavizar a dor esmagadora provocada pela perda de Reem.
Transformando o luto em gesto solidário, Khaled Nabhan tornou-se um símbolo de esperança viva. Ajudava socorristas e médicos no cuidado aos feridos — especialmente crianças — como se, em cada ato de cuidado, tentasse reconstruir aquilo que lhe fora arrancado.
Nas redes sociais, compartilhou vídeos comoventes mostrando ele e a mãe de Reem oferecendo ajuda e conforto aos moradores de Gaza em meio ao caos.
Em honra à neta, lançou a iniciativa humanitária “Reem: Soul of the Soul”, com o objetivo de levar um pouco de alegria às crianças palestinas por meio de brinquedos e presentes; um gesto de ternura contra a brutalidade da guerra.
Desde que sua despedida com Reem comoveu o mundo, Khaled passou a ser descrito, nas palavras de seu filho Diaa, como “uma agência humanitária de um homem só”. Mesmo faminto, fraco e desnutrido, seguia incansável em sua missão: transformar a dor em cuidado, a perda em compaixão ativa.
“Ele trabalhava duro… passava fome para que nós tivéssemos o suficiente para comer”, recorda Diaa, seu filho.
Desde então, inúmeros vídeos passaram a circular mostrando Khaled Nabhan enfrentando sua dor enquanto se dedicava a ajudar quem pudesse. Seu foco se voltou inteiramente para o alívio do sofrimento alheio. Acolhia pessoas, confortava desconhecidos e até atendia ligações de várias partes do mundo com palavras de consolo, mesmo ele sendo o enlutado.
Nas raras vezes em que se permitia desabafar, sua queixa não era sobre si mesmo, mas sobre a condição humilhante a que eram submetidas milhares de pessoas forçadas ao deslocamento, enquanto Israel seguia bloqueando a entrada da maior parte da ajuda humanitária em Gaza.
“Não há indignidade maior do que essa”, declarou Khaled, enquanto viajava na parte de trás de uma carroça puxada por cavalos, carregando os poucos pertences da família rumo a Rafah, seu segundo deslocamento forçado. Mais tarde, teriam de fugir de lá também.
A dor de Khaled Nabhan ressignificou o modo como o mundo enxerga os homens palestinos e a identidade muçulmana. Gentil, mas firme; piedoso, mas vulnerável, ele encarnava uma humanidade que tantas vezes foi invisibilizada. Através de sua figura, o mundo pôde vislumbrar a dignidade e a resiliência do povo de Gaza em meio à destruição.
Diante das câmeras, o que se via não era um “terrorista”, como tantas vezes se acostumaram a rotular palestinos por sua roupa, barba ou keffiyeh. Era um avô em luto, um homem devastado pela perda brutal de sua neta, vestindo sua túnica tradicional e carregando a dor de um povo inteiro no olhar.
Khaled se tornou um novo arquétipo palestino; não o do inimigo, mas o do humano ferido, capaz de amor e cuidado mesmo após o trauma. Ele alimentava gatos de rua, tão famintos e assustados quanto os civis de Gaza, brincava com seus netos sobreviventes, com sua filha caçula Ratil, de apenas 10 anos, e cuidava da mãe idosa.
Sua dor tornou-se uma lente: através dela, o mundo viu um homem comum, e viu, também, o que a guerra destrói.
A morte voltou a bater à porta em 16 de dezembro de 2024, pouco mais de um ano após o assassinato brutal de Reem. Desta vez, foi Khaled quem teve a vida ceifada por um ataque israelense. Imagens de seus corpos inertes e de seus sorrisos eternizados em vida espalharam-se rapidamente pela internet, provocando comoção global e uma onda de homenagens comoventes.
O mundo, que já havia chorado com Khaled, agora chorava por ele. Suas palavras dolorosamente sinceras tornaram-se um eco coletivo, um grito de humanidade diante da barbárie. A dor que carregava se tornou universal, e Khaled passou a simbolizar, com força ainda maior, a dignidade ferida, mas não vencida, do povo palestino.
Agora, seu corpo repousa ao lado de Reem no martírio, mas seu legado permanece vivo. Em meio à tragédia contínua em Gaza, Khaled e Reem tornaram-se ícones da humanidade inquebrantável de um povo que insiste em amar, resistir e sobreviver.
A única culpa de Khaled foi existir em Gaza. Primeiro, mataram sua neta “a alma da sua alma”. Depois, destruíram a casa da família. Por fim, o assassinaram em plena luz do dia, sob o véu da impunidade.
Ele era um homem sitiado que perdeu a alma no cerco. E, ao mesmo tempo, uma alma pela qual o mundo pôde enxergar o melhor da humanidade em meio às condições mais desumanas.
Ao longo desses mais de 600 dias de escuridão e genocídio, conhecemos vidas em Gaza que nunca esqueceremos. E aprendemos a amar muitas delas. Como a de Khaled Nabhan, o avô amoroso, cuja voz e cujo rosto se imprimiram em nossa memória. De tantas formas, eles se tornaram parte de nós.
Palestinos como Khaled já não nos parecem distantes. Tocaram nossos corações com seu amor pela terra, sua firmeza serena diante do horror, sua ternura intacta. Tornaram-se próximos. Presentes. Vizinhos de alma. Parentes que a dor nos ensinou a reconhecer.
“Alma da minha alma.” O mundo ouviu essas quatro palavras e, nelas, um abismo — e um chamado. Carregadas de dor e beleza, tornaram-se uma ode à vida que insiste, e à revolução íntima que um avô palestino despertou em todos nós.
Quatro palavras que revelam uma verdade brutal: o ocidente não trava apenas uma guerra contra um povo, mas contra tudo o que nele pulsa como humano.
Rima awada Zahra
O cerco traumatizou a pequena Reem, mas era nos braços do avô que ela encontrava abrigo durante os intensos bombardeios. O barulho dos ataques aéreos e o cenário de morte cercavam seu jovem corpo até que, em 28 de novembro de 2023, ele a levou consigo.
Khaled não estava em casa quando Reem adormeceu em seu descanso final. Um ataque aéreo israelense, lançado contra o campo de refugiados vizinho de Al-Nuseirat, atingiu a casa da família e tirou a vida da pequena Reem.
Khaled voltou para casa e encontrou o corpo inerte da neta. Ergueu Reem diante das câmeras e beijou sua pequena testa. “Ela era a alma da minha alma”, chorou o avô, segurando-a nos braços. Khaled e Reem compartilhavam o mesmo dia de aniversário.
Acariciando o corpo sem vida de Reem, Nabhan murmurou uma elegia comovente. Suas palavras, “ruh el-ruh”, expressão árabe que significa “a alma da minha alma”, ecoaram pelo mundo após o massacre.
Essas palavras se tornariam um grito de guerra. “Ela era a alma da minha alma”, repetiu ele, olhando para o rosto de Reem pela última vez antes de entregá-la a um estranho encarregado de encontrar seu local de sepultamento.
Os momentos finais deste avô palestino segurando o corpo sem vida e manchado de sangue de sua neta se espalharam amplamente pelas redes sociais, simbolizando a imensa dor que os palestinos suportam diariamente enquanto Israel continua bombardeando Gaza.
Khaled estava devastado, mas calmo, tomado pela dor de um avô que acabara de perder a neta. Ele não prometeu vingança, não gritou gritos de guerra nem demonstrou raiva diante das câmeras que o filmavam.
As memórias de Reem foram enterradas a dois metros de profundidade, sob os escombros de sua casa destruída. Mais tarde naquela semana, Khaled encontrou uma das bonecas dela nos escombros.
Enquanto falava com a CNN, ele a segurou nos braços como fazia com Reem. Em seguida, levantou o rosto da boneca para encontrá-lo e beijou-a na testa. “Eu costumava beijá-la nas bochechas, no nariz, e ela ria”, disse Khaled, segurando a boneca sem vida e lembrando-se da alma que perdeu.
Após o assassinato brutal de Reem, o “avô amado” continuava sendo visto entre as crianças de Gaza, brincando com elas e distribuindo pequenos presentes.
Segundo vizinhos, essa presença constante entre os pequenos era uma forma de catarse: uma tentativa de suavizar a dor esmagadora provocada pela perda de Reem.
Transformando o luto em gesto solidário, Khaled Nabhan tornou-se um símbolo de esperança viva. Ajudava socorristas e médicos no cuidado aos feridos — especialmente crianças — como se, em cada ato de cuidado, tentasse reconstruir aquilo que lhe fora arrancado.
Nas redes sociais, compartilhou vídeos comoventes mostrando ele e a mãe de Reem oferecendo ajuda e conforto aos moradores de Gaza em meio ao caos.
Em honra à neta, lançou a iniciativa humanitária “Reem: Soul of the Soul”, com o objetivo de levar um pouco de alegria às crianças palestinas por meio de brinquedos e presentes; um gesto de ternura contra a brutalidade da guerra.
Desde que sua despedida com Reem comoveu o mundo, Khaled passou a ser descrito, nas palavras de seu filho Diaa, como “uma agência humanitária de um homem só”. Mesmo faminto, fraco e desnutrido, seguia incansável em sua missão: transformar a dor em cuidado, a perda em compaixão ativa.
“Ele trabalhava duro… passava fome para que nós tivéssemos o suficiente para comer”, recorda Diaa, seu filho.
Desde então, inúmeros vídeos passaram a circular mostrando Khaled Nabhan enfrentando sua dor enquanto se dedicava a ajudar quem pudesse. Seu foco se voltou inteiramente para o alívio do sofrimento alheio. Acolhia pessoas, confortava desconhecidos e até atendia ligações de várias partes do mundo com palavras de consolo, mesmo ele sendo o enlutado.
Nas raras vezes em que se permitia desabafar, sua queixa não era sobre si mesmo, mas sobre a condição humilhante a que eram submetidas milhares de pessoas forçadas ao deslocamento, enquanto Israel seguia bloqueando a entrada da maior parte da ajuda humanitária em Gaza.
“Não há indignidade maior do que essa”, declarou Khaled, enquanto viajava na parte de trás de uma carroça puxada por cavalos, carregando os poucos pertences da família rumo a Rafah, seu segundo deslocamento forçado. Mais tarde, teriam de fugir de lá também.
A dor de Khaled Nabhan ressignificou o modo como o mundo enxerga os homens palestinos e a identidade muçulmana. Gentil, mas firme; piedoso, mas vulnerável, ele encarnava uma humanidade que tantas vezes foi invisibilizada. Através de sua figura, o mundo pôde vislumbrar a dignidade e a resiliência do povo de Gaza em meio à destruição.
Diante das câmeras, o que se via não era um “terrorista”, como tantas vezes se acostumaram a rotular palestinos por sua roupa, barba ou keffiyeh. Era um avô em luto, um homem devastado pela perda brutal de sua neta, vestindo sua túnica tradicional e carregando a dor de um povo inteiro no olhar.
Khaled se tornou um novo arquétipo palestino; não o do inimigo, mas o do humano ferido, capaz de amor e cuidado mesmo após o trauma. Ele alimentava gatos de rua, tão famintos e assustados quanto os civis de Gaza, brincava com seus netos sobreviventes, com sua filha caçula Ratil, de apenas 10 anos, e cuidava da mãe idosa.
Sua dor tornou-se uma lente: através dela, o mundo viu um homem comum, e viu, também, o que a guerra destrói.
A morte voltou a bater à porta em 16 de dezembro de 2024, pouco mais de um ano após o assassinato brutal de Reem. Desta vez, foi Khaled quem teve a vida ceifada por um ataque israelense. Imagens de seus corpos inertes e de seus sorrisos eternizados em vida espalharam-se rapidamente pela internet, provocando comoção global e uma onda de homenagens comoventes.
O mundo, que já havia chorado com Khaled, agora chorava por ele. Suas palavras dolorosamente sinceras tornaram-se um eco coletivo, um grito de humanidade diante da barbárie. A dor que carregava se tornou universal, e Khaled passou a simbolizar, com força ainda maior, a dignidade ferida, mas não vencida, do povo palestino.
Agora, seu corpo repousa ao lado de Reem no martírio, mas seu legado permanece vivo. Em meio à tragédia contínua em Gaza, Khaled e Reem tornaram-se ícones da humanidade inquebrantável de um povo que insiste em amar, resistir e sobreviver.
A única culpa de Khaled foi existir em Gaza. Primeiro, mataram sua neta “a alma da sua alma”. Depois, destruíram a casa da família. Por fim, o assassinaram em plena luz do dia, sob o véu da impunidade.
Ele era um homem sitiado que perdeu a alma no cerco. E, ao mesmo tempo, uma alma pela qual o mundo pôde enxergar o melhor da humanidade em meio às condições mais desumanas.
Ao longo desses mais de 600 dias de escuridão e genocídio, conhecemos vidas em Gaza que nunca esqueceremos. E aprendemos a amar muitas delas. Como a de Khaled Nabhan, o avô amoroso, cuja voz e cujo rosto se imprimiram em nossa memória. De tantas formas, eles se tornaram parte de nós.
Palestinos como Khaled já não nos parecem distantes. Tocaram nossos corações com seu amor pela terra, sua firmeza serena diante do horror, sua ternura intacta. Tornaram-se próximos. Presentes. Vizinhos de alma. Parentes que a dor nos ensinou a reconhecer.
“Alma da minha alma.” O mundo ouviu essas quatro palavras e, nelas, um abismo — e um chamado. Carregadas de dor e beleza, tornaram-se uma ode à vida que insiste, e à revolução íntima que um avô palestino despertou em todos nós.
Quatro palavras que revelam uma verdade brutal: o ocidente não trava apenas uma guerra contra um povo, mas contra tudo o que nele pulsa como humano.
Rima awada Zahra
Não chega de asnice?
Há que se desejar que a direita brasileira finalmente se liberte do seu encanto com o clã Bolsonaro. Afinal, os rumos do Brasil são mais importantes do que o destino de uma família que não sabe fazer outra coisa além de semear o caos. A cultura política brasileira se beneficiaria muito de uma força política de direita que se possa levar a sério.
Thomas Milz
Thomas Milz
Notícias de amanhã
Depois de décadas em que veículos de comunicação se vangloriavam em ser o “primeiro a dar as últimas”, é chegada a hora de publicar não as notícias que já ocorreram, mas sim as que acontecerão.
Impossível? Certamente que não. Há tendências que são claras, algumas inevitáveis, outras não. Por exemplo, a notícia “explodiu ontem a quinta bomba atômica disparada neste século XXI” seria falsa, hoje, mas é provável que se torne verdadeira. Afinal, envolve decisões de alguns dos loucos que comandam diversos países, decisões que – esperamos! – podem ser evitadas. Mas, pergunto: e amanhã, será mesmo evitável? Com os países mais ricos e atomicamente armados novamente empenhados na velha corrida armamentista, uns agredindo os outros e dizendo que são estes que agridem?
Evitar que tal “notícia” se torne verdadeira exige, dos dirigentes, sentimento de compaixão e humanidade, o que claramente lhes falta; de outra forma, já não apoiariam os assassinos que dirigem Israel e repetem, contra os palestinos, o holocausto que seus avós sofreram na Europa.
Outras notícias futuras já se anunciam. Por exemplo, “incêndios florestais como os que destruíram Los Angeles dizimaram Atenas e reduziram a cinzas a Acrópole”; “milhares de cariocas impedidos de subir os morros morreram afogados com a súbita elevação do nível do mar”. Que tal essa outra: “A seca na Amazônia neste ano quebrou todos os recordes; jamais havia ocorrido de o rio Amazonas se transformar num filete de água!”
Na sequência desta última possível notícia, veremos, talvez, essa outra: “Os royalties pagos aos governos da região amazônica com a exploração do petróleo na foz do rio não foram suficientes para alimentar a população local que não conseguiu fugir. A fome quase iguala o que sucedeu em Gaza”.
Outra possível notícia, que alguns verão como altamente positiva: “Sucesso de vendas no novo Trump Resort em Gaza: milionários disputam apartamentos com preço mínimo de US$10 milhões”. Associada à esta talvez venha outra: “Crescem os conflitos internos no Egito, Sudão e Arábia Saudita, para onde foram levados os sobreviventes dos campos de extermínio em Gaza”.
Menos provável, embora desejável, é recebermos a informação de que comprovadamente reapareceram neste planeta, vivinhos da silva, desmentidas todas as suspeitas de que isso fosse apenas um truque de inteligência artificial, Jesus, Maomé, Buda, Confúcio e líderes ou fundadores de todas as religiões, inclusive xamãs machos e fêmeas. Todos reunidos, colocaram-se de acordo, superaram divergências e terminaram todos os conflitos e ambições desmedidas, ponto um fim às desigualdades e às fronteiras entre credos e países, origem de ódios e divisões.
Também John Lennon reviveu cantando “imagine que não há paraíso, nem inferno; imagine todos vivendo para o presente; imagine que não há nada que justifique matar, nem morrer…. Imagine uma irmandade geral…”
Utópico? Sem utopia não há progresso real! Ou preferimos a distopia dos primeiros parágrafos?
Impossível? Certamente que não. Há tendências que são claras, algumas inevitáveis, outras não. Por exemplo, a notícia “explodiu ontem a quinta bomba atômica disparada neste século XXI” seria falsa, hoje, mas é provável que se torne verdadeira. Afinal, envolve decisões de alguns dos loucos que comandam diversos países, decisões que – esperamos! – podem ser evitadas. Mas, pergunto: e amanhã, será mesmo evitável? Com os países mais ricos e atomicamente armados novamente empenhados na velha corrida armamentista, uns agredindo os outros e dizendo que são estes que agridem?
Evitar que tal “notícia” se torne verdadeira exige, dos dirigentes, sentimento de compaixão e humanidade, o que claramente lhes falta; de outra forma, já não apoiariam os assassinos que dirigem Israel e repetem, contra os palestinos, o holocausto que seus avós sofreram na Europa.
Outras notícias futuras já se anunciam. Por exemplo, “incêndios florestais como os que destruíram Los Angeles dizimaram Atenas e reduziram a cinzas a Acrópole”; “milhares de cariocas impedidos de subir os morros morreram afogados com a súbita elevação do nível do mar”. Que tal essa outra: “A seca na Amazônia neste ano quebrou todos os recordes; jamais havia ocorrido de o rio Amazonas se transformar num filete de água!”
Na sequência desta última possível notícia, veremos, talvez, essa outra: “Os royalties pagos aos governos da região amazônica com a exploração do petróleo na foz do rio não foram suficientes para alimentar a população local que não conseguiu fugir. A fome quase iguala o que sucedeu em Gaza”.
Outra possível notícia, que alguns verão como altamente positiva: “Sucesso de vendas no novo Trump Resort em Gaza: milionários disputam apartamentos com preço mínimo de US$10 milhões”. Associada à esta talvez venha outra: “Crescem os conflitos internos no Egito, Sudão e Arábia Saudita, para onde foram levados os sobreviventes dos campos de extermínio em Gaza”.
Menos provável, embora desejável, é recebermos a informação de que comprovadamente reapareceram neste planeta, vivinhos da silva, desmentidas todas as suspeitas de que isso fosse apenas um truque de inteligência artificial, Jesus, Maomé, Buda, Confúcio e líderes ou fundadores de todas as religiões, inclusive xamãs machos e fêmeas. Todos reunidos, colocaram-se de acordo, superaram divergências e terminaram todos os conflitos e ambições desmedidas, ponto um fim às desigualdades e às fronteiras entre credos e países, origem de ódios e divisões.
Também John Lennon reviveu cantando “imagine que não há paraíso, nem inferno; imagine todos vivendo para o presente; imagine que não há nada que justifique matar, nem morrer…. Imagine uma irmandade geral…”
Utópico? Sem utopia não há progresso real! Ou preferimos a distopia dos primeiros parágrafos?
quarta-feira, 30 de julho de 2025
Vigilância, dados e algoritmos como a doutrina do século XXI
Em fevereiro deste ano, Aaron Bushnell, militar da força aérea norte-americana, engenheiro e cristão devoto, se suicidou em frente à embaixada de Israel, em Washington DC. O motivo? Antes de se martirizar, pronunciou que não seria mais cúmplice do genocídio do povo Palestino. Bushnell era DevOps e especialista em defesa cibernética no 231º Esquadrão de Suporte, e sua função era a de facilitar, melhorar e otimizar a infraestrutura de desenvolvimento, teste e implantação de software, e seu martírio tem tudo a ver com o Projeto Nimbus, contrato bilionário entre a Google e a Amazon, que têm fornecido infraestrutura de computação em nuvem, IA e serviços diversos de tecnologia ao governo israelense e seus militares.
Hoje, é comum ver em redes sociais a retórica de que o mundo está deixando acontecer o genocídio em Gaza da mesma forma que o mundo também deixou o holocausto acontecer, legando às futuras gerações o mesmo horror e a mesma lição incômoda: você jura que teria agido se estivesse lá, mas está aqui, agora, e escolhe o silêncio. No entanto, acredito que, ainda que deva existir uma responsabilização coletiva da humanidade pela morte de todo um povo, existem limites do que pode ser feito perante a incessante máquina de guerra norte-americana.
Isso, pois, o que acontece em Gaza não parece ser massacre, e sim, ensaio. Um ensaio militar é caracterizado como um processo sistemático de teste, calibração e validação de doutrinas, tecnologias e protocolos de guerra em ambiente real, como previsto pelo TRA (Technology Readiness Assessment) do Departamento de Defesa dos EUA, que recomenda a demonstração de tecnologias emergentes em condições operacionais concretas antes de sua adoção em larga escala. E, atualmente, a Big Tech compõe, no cargo de Tenentes Coronéis, o contingente das Forças Armadas dos Estados Unidos da América.
Os acordos corporativos entre a Big Tech norte-americana e os colonos israelenses não podem ser considerados mero apoio logístico, e, sim, integração orgânica entre tecnologia e estratégia militar. E o povo palestino nunca foi ameaça ao poderio norte americano, ou seus fantoches sionistas. Nunca teve exército, marinha ou força aérea. Nunca dispôs de defesa antiaérea, nem de qualquer infraestrutura militar que pudesse ser comparada ao aparato que o ocupa. Nem mesmo o Hamas, sem capacidade de enfrentar Israel em qualquer nível estratégico real representa uma ameaça concreta perante uma infraestrutura militar altamente datificada, e sim, uma desculpa conveniente, reativada ciclicamente para justificar massacres e manter o regime de apartheid sob a narrativa da “autodefesa”.
E a doutrina que autoriza esse tipo de letalidade automatizada espelha com precisão o que o Departamento de Defesa dos EUA define no TRA: tecnologias emergentes são consideradas prontas para implantação militar após demonstração bem-sucedida em ambiente real. Gaza, portanto, seria o campo de validação dessa doutrina: um ambiente de teste em tempo real onde a guerra não apenas destrói, mas também coleta dados, otimiza modelos e treina máquinas para a próxima operação.
O mundo não estaria deixando o genocídio em Gaza acontecer. Ele está sendo obrigado a assistir, horrorizado e intimidado, o recado que a Big Tech agora militarizada, em parceria com o governo de Israel estão enviando ao planeta: se podemos fazer isso com os Palestinos, podemos fazer com qualquer um. E cada stories, cada TikTok, cada vídeo de uma família soterrada ou de um ato de resistência esmagado em Gaza compõe o teatro cognitivo da guerra híbrida. São demonstrações de força projetadas globalmente, avisos geopolíticos embutidos no fluxo banal das redes, ensaios gerais de um futuro onde Soberania, Direito Internacional e vidas civis se tornam irrelevantes diante da supremacia militar Meta-Trumpista.
O que se desenha, portanto, é um avanço das guerras por procuração, uma proxy war não mais travada entre exércitos convencionais financiados por potências rivais, mas entre infraestruturas tecnológicas ocidentais e populações inteiras transformadas em laboratório. Gaza é apenas o primeiro campo de validação desse modelo. E tudo indica que esse padrão, onde o território ocupado serve de campo de testes para tecnologias militares e doutrinas geopolíticas de controle, será replicado em outras regiões do Sul Global.
Pela primeira vez, uma guerra é conduzida com uso sistemático e operacional de Inteligência Artificial para seleção de alvos humanos. Ferramentas como Lavender, que classificou até 37 mil pessoas com base em padrões digitais de comportamento, e The Gospel, também conhecido como Habsora, sistema automatizado de recomendação de alvos a partir de dados geoespaciais e vigilância aérea, foram empregados em larga escala pelas Forças de Defesa de Israel durante os bombardeios em Gaza. Esses sistemas operam com grau de autonomia preocupante, sugerindo nomes e locais para eliminação com base em correlações algorítmicas, e não necessariamente em provas materiais.
Começamos pela Inteligência Artificial, para escolher quem vai morrer. Sistemas como o Lavender são alimentados com grandes quantidades de dados: com quem você fala, onde você anda, com quem você mora, e, se você parecer suspeito, entra numa lista de possíveis alvos. A decisão de matar depende não de provas, mas de padrões de comportamento. Em parceria, The Gospel analisa imagens de satélite, drones e câmeras para detectar prédios, ruas e casas onde os classificadores de dados podem acreditar ter militantes. Então, a máquina sugere quais locais devem ser bombardeados.
Para organizar as operações militares, os serviços de Computação em Nuvem fornecem o que é essencial para essa operação funcionar: servidores, processamento e armazenamento de dados. Tudo acontece em tempo real e a guerra passa a ser coordenada via painel digital, acessado por militares como um sistema de gestão online. Junto com a Palantir, tendências e ameaças baseadas em dados agregados, como movimentações em bairros, padrões telefônicos e até mesmo a reação da Opinião Pública internacional são analisados e antecipados. O Projeto Nimbus, contrato de aproximadamente US$ 1,2 bilhão firmado entre Israel, Google Cloud, e a Amazon Web Services (AWS) em 2021, implantou centros de dados locais em Israel. Ele fornece à máquina de guerra acesso a ferramentas de IA como detecção facial, categorização automática de imagens, rastreamento de objetos e análise de sentimentos, tecnologias que já haviam sido usadas para vigilância de fronteiras nos EUA e agora foram reconfiguradas para operar sobre a população de Gaza.
Já a Palantir, por meio de serviços de análise avançada, firmou parceria estratégica com o Ministério da Defesa de Israel para fornecer ferramentas de inteligência em larga escala. Os sistemas da Palantir passaram a ser utilizados diretamente nas operações em Gaza, inclusive propondo planos de batalha, integrando vigilância, análise preditiva e apoio à decisão letal. Finalmente, e no nível mais tático, para esvaziar o esforço do soldado, ferramentas como a SMASH Handheld guiam o olhar e o gatilho no alvo palestino para que o tiro só seja disparado no momento certo, tornando o ato de matar tão automático quando um videogame com sticky targeting ativado.
Nada disso é apenas sobre Gaza. O que se ensaia ali não se restringe ao território sitiado. O que está sendo desenvolvido, testado e refinado é uma doutrina de guerra híbrida total, onde operações cinéticas, ou seja, do corpo e do território e da explosão, bem como digitais, informacionais e políticas, funcionam em coesão orientada por dados. A guerra já não depende apenas de exércitos ou fronteiras: ela opera em servidores, em redes sociais, e em nossos feeds.
O objetivo não é apenas matar. É controlar o que pode ser visto, sentido e pensado. O bombardeio físico vem acompanhado da saturação simbólica e exaustão mental: vídeos, relatórios, imagens de corpos, testemunhos ao vivo, todos transmitidos em tempo real, emoldurados por narrativas que os algoritmos priorizam ou silenciam. Essa lógica é o coração da guerra cognitiva: moldar a percepção global, infiltrar a dúvida, desmoralizar a solidariedade e induzir a normalização do horror.
Como ensaio, o genocídio palestino em Gaza é também aviso. E, perante elementos comerciais, como as ameaças de tarifaços, de lawfare, como o recente ataque à LGPD no Brasil, vemos essa doutrina ser exportada e adaptada às particularidades do Sul Global. Onde não há o bombardeiro, há vigilância dos dados por por oligopólios norte-americanos. Onde não há SMASH Handheld, há desinformação calibrada. Onde não há exércitos, há tribunais capturados e lobby contra a Soberania nacional.
O que estão testando em Gaza – IA armada, targeting automatizado, integração de Computação em Nuvem – é vanguarda de uma arquitetura de controle exercido através da interoperabilidade entre infraestrutura digital e poderio bélico. O pai da teoria militar ocidental, Clausewitz, uma vez disse que a guerra nada mais é senão a continuação da política por meios violentos, e o Meta-Trumpismo continua sua política com algoritmo e sangue.
Nossos feeds pertencem à Big Tech, hoje à serviço da máquina de Guerra Norte-Americana. No Brasil, a infraestrutura tecnológica é cliente dos oligopólios tecnológicos da Big Tech. Um soldado americano se martirizou pelo fim do massacre e do horror, como corpo imunológico incapaz de combater a doença. Não é à toa que o mundo é forçado a assistir, pois os meios de resistência não nos pertencem.
A arquitetura da dominação é total: ela habita os contratos que firmamos sem ler, os termos de uso que naturalizamos, os dispositivos que carregamos no bolso, as plataformas que moldam o que pensamos. A guerra é transmitida em tempo real não para ser impedida, mas para ser absorvida, metabolizada como espetáculo, tragédia ou “crise humanitária”.
Que ninguém se engane: o que está em jogo não é apenas a Palestina, mas a possibilidade de qualquer povo, em qualquer lugar do mundo, se opor à maquinaria imperial sem ser esmagado por ela. Gaza não é exceção. Gaza é o modelo.
Hoje, é comum ver em redes sociais a retórica de que o mundo está deixando acontecer o genocídio em Gaza da mesma forma que o mundo também deixou o holocausto acontecer, legando às futuras gerações o mesmo horror e a mesma lição incômoda: você jura que teria agido se estivesse lá, mas está aqui, agora, e escolhe o silêncio. No entanto, acredito que, ainda que deva existir uma responsabilização coletiva da humanidade pela morte de todo um povo, existem limites do que pode ser feito perante a incessante máquina de guerra norte-americana.
Isso, pois, o que acontece em Gaza não parece ser massacre, e sim, ensaio. Um ensaio militar é caracterizado como um processo sistemático de teste, calibração e validação de doutrinas, tecnologias e protocolos de guerra em ambiente real, como previsto pelo TRA (Technology Readiness Assessment) do Departamento de Defesa dos EUA, que recomenda a demonstração de tecnologias emergentes em condições operacionais concretas antes de sua adoção em larga escala. E, atualmente, a Big Tech compõe, no cargo de Tenentes Coronéis, o contingente das Forças Armadas dos Estados Unidos da América.
Os acordos corporativos entre a Big Tech norte-americana e os colonos israelenses não podem ser considerados mero apoio logístico, e, sim, integração orgânica entre tecnologia e estratégia militar. E o povo palestino nunca foi ameaça ao poderio norte americano, ou seus fantoches sionistas. Nunca teve exército, marinha ou força aérea. Nunca dispôs de defesa antiaérea, nem de qualquer infraestrutura militar que pudesse ser comparada ao aparato que o ocupa. Nem mesmo o Hamas, sem capacidade de enfrentar Israel em qualquer nível estratégico real representa uma ameaça concreta perante uma infraestrutura militar altamente datificada, e sim, uma desculpa conveniente, reativada ciclicamente para justificar massacres e manter o regime de apartheid sob a narrativa da “autodefesa”.
E a doutrina que autoriza esse tipo de letalidade automatizada espelha com precisão o que o Departamento de Defesa dos EUA define no TRA: tecnologias emergentes são consideradas prontas para implantação militar após demonstração bem-sucedida em ambiente real. Gaza, portanto, seria o campo de validação dessa doutrina: um ambiente de teste em tempo real onde a guerra não apenas destrói, mas também coleta dados, otimiza modelos e treina máquinas para a próxima operação.
O mundo não estaria deixando o genocídio em Gaza acontecer. Ele está sendo obrigado a assistir, horrorizado e intimidado, o recado que a Big Tech agora militarizada, em parceria com o governo de Israel estão enviando ao planeta: se podemos fazer isso com os Palestinos, podemos fazer com qualquer um. E cada stories, cada TikTok, cada vídeo de uma família soterrada ou de um ato de resistência esmagado em Gaza compõe o teatro cognitivo da guerra híbrida. São demonstrações de força projetadas globalmente, avisos geopolíticos embutidos no fluxo banal das redes, ensaios gerais de um futuro onde Soberania, Direito Internacional e vidas civis se tornam irrelevantes diante da supremacia militar Meta-Trumpista.
O que se desenha, portanto, é um avanço das guerras por procuração, uma proxy war não mais travada entre exércitos convencionais financiados por potências rivais, mas entre infraestruturas tecnológicas ocidentais e populações inteiras transformadas em laboratório. Gaza é apenas o primeiro campo de validação desse modelo. E tudo indica que esse padrão, onde o território ocupado serve de campo de testes para tecnologias militares e doutrinas geopolíticas de controle, será replicado em outras regiões do Sul Global.
Pela primeira vez, uma guerra é conduzida com uso sistemático e operacional de Inteligência Artificial para seleção de alvos humanos. Ferramentas como Lavender, que classificou até 37 mil pessoas com base em padrões digitais de comportamento, e The Gospel, também conhecido como Habsora, sistema automatizado de recomendação de alvos a partir de dados geoespaciais e vigilância aérea, foram empregados em larga escala pelas Forças de Defesa de Israel durante os bombardeios em Gaza. Esses sistemas operam com grau de autonomia preocupante, sugerindo nomes e locais para eliminação com base em correlações algorítmicas, e não necessariamente em provas materiais.
Começamos pela Inteligência Artificial, para escolher quem vai morrer. Sistemas como o Lavender são alimentados com grandes quantidades de dados: com quem você fala, onde você anda, com quem você mora, e, se você parecer suspeito, entra numa lista de possíveis alvos. A decisão de matar depende não de provas, mas de padrões de comportamento. Em parceria, The Gospel analisa imagens de satélite, drones e câmeras para detectar prédios, ruas e casas onde os classificadores de dados podem acreditar ter militantes. Então, a máquina sugere quais locais devem ser bombardeados.
Para organizar as operações militares, os serviços de Computação em Nuvem fornecem o que é essencial para essa operação funcionar: servidores, processamento e armazenamento de dados. Tudo acontece em tempo real e a guerra passa a ser coordenada via painel digital, acessado por militares como um sistema de gestão online. Junto com a Palantir, tendências e ameaças baseadas em dados agregados, como movimentações em bairros, padrões telefônicos e até mesmo a reação da Opinião Pública internacional são analisados e antecipados. O Projeto Nimbus, contrato de aproximadamente US$ 1,2 bilhão firmado entre Israel, Google Cloud, e a Amazon Web Services (AWS) em 2021, implantou centros de dados locais em Israel. Ele fornece à máquina de guerra acesso a ferramentas de IA como detecção facial, categorização automática de imagens, rastreamento de objetos e análise de sentimentos, tecnologias que já haviam sido usadas para vigilância de fronteiras nos EUA e agora foram reconfiguradas para operar sobre a população de Gaza.
Já a Palantir, por meio de serviços de análise avançada, firmou parceria estratégica com o Ministério da Defesa de Israel para fornecer ferramentas de inteligência em larga escala. Os sistemas da Palantir passaram a ser utilizados diretamente nas operações em Gaza, inclusive propondo planos de batalha, integrando vigilância, análise preditiva e apoio à decisão letal. Finalmente, e no nível mais tático, para esvaziar o esforço do soldado, ferramentas como a SMASH Handheld guiam o olhar e o gatilho no alvo palestino para que o tiro só seja disparado no momento certo, tornando o ato de matar tão automático quando um videogame com sticky targeting ativado.
Nada disso é apenas sobre Gaza. O que se ensaia ali não se restringe ao território sitiado. O que está sendo desenvolvido, testado e refinado é uma doutrina de guerra híbrida total, onde operações cinéticas, ou seja, do corpo e do território e da explosão, bem como digitais, informacionais e políticas, funcionam em coesão orientada por dados. A guerra já não depende apenas de exércitos ou fronteiras: ela opera em servidores, em redes sociais, e em nossos feeds.
O objetivo não é apenas matar. É controlar o que pode ser visto, sentido e pensado. O bombardeio físico vem acompanhado da saturação simbólica e exaustão mental: vídeos, relatórios, imagens de corpos, testemunhos ao vivo, todos transmitidos em tempo real, emoldurados por narrativas que os algoritmos priorizam ou silenciam. Essa lógica é o coração da guerra cognitiva: moldar a percepção global, infiltrar a dúvida, desmoralizar a solidariedade e induzir a normalização do horror.
Como ensaio, o genocídio palestino em Gaza é também aviso. E, perante elementos comerciais, como as ameaças de tarifaços, de lawfare, como o recente ataque à LGPD no Brasil, vemos essa doutrina ser exportada e adaptada às particularidades do Sul Global. Onde não há o bombardeiro, há vigilância dos dados por por oligopólios norte-americanos. Onde não há SMASH Handheld, há desinformação calibrada. Onde não há exércitos, há tribunais capturados e lobby contra a Soberania nacional.
O que estão testando em Gaza – IA armada, targeting automatizado, integração de Computação em Nuvem – é vanguarda de uma arquitetura de controle exercido através da interoperabilidade entre infraestrutura digital e poderio bélico. O pai da teoria militar ocidental, Clausewitz, uma vez disse que a guerra nada mais é senão a continuação da política por meios violentos, e o Meta-Trumpismo continua sua política com algoritmo e sangue.
Nossos feeds pertencem à Big Tech, hoje à serviço da máquina de Guerra Norte-Americana. No Brasil, a infraestrutura tecnológica é cliente dos oligopólios tecnológicos da Big Tech. Um soldado americano se martirizou pelo fim do massacre e do horror, como corpo imunológico incapaz de combater a doença. Não é à toa que o mundo é forçado a assistir, pois os meios de resistência não nos pertencem.
A arquitetura da dominação é total: ela habita os contratos que firmamos sem ler, os termos de uso que naturalizamos, os dispositivos que carregamos no bolso, as plataformas que moldam o que pensamos. A guerra é transmitida em tempo real não para ser impedida, mas para ser absorvida, metabolizada como espetáculo, tragédia ou “crise humanitária”.
Que ninguém se engane: o que está em jogo não é apenas a Palestina, mas a possibilidade de qualquer povo, em qualquer lugar do mundo, se opor à maquinaria imperial sem ser esmagado por ela. Gaza não é exceção. Gaza é o modelo.
O professor 4.0
Na transição do Paleolítico para o Neolítico, as comunidades humanas abandonaram o nomadismo, fixaram-se na terra e protagonizaram a primeira grande revolução tecnológica: a revolução agrícola. Pelo menos desde então, professores, mestres e mentores partilharam saberes, técnicas e visões do mundo com os seus discípulos mais novos e cada nova geração ampliou esse legado, refinando-o, questionando-o, criando e ampliando novos horizontes de saber. Foi esse ciclo (transmissão de conhecimento, aperfeiçoamento, inovação) que, desde então até aos nossos dias, impulsionou a humanidade de caçadores-recoletores à era da inteligência artificial em que vivemos. Tudo isso aconteceu em apenas 12 mil anos.
Hoje, porém, surge uma interrogação inevitável: que será deste modelo milenar de ensino quando qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode aceder instantaneamente a vastas quantidades de informação, conversando com sistemas de inteligência artificial (IA) que emulam o saber humano?
De acordo com Seldon e colegas (The Fourth Education Revolution, University of Buckingham Press, 2018), vivemos agora a quarta revolução educacional: aquela em que a transmissão de conhecimentos deixa de ser monopólio exclusivo dos seres humanos, mas passa a ter a IA como parceira. Desta forma, assistimos, e vivemos, a uma rutura histórica naquilo a que respeita o milenar processo de educação, ensino, formação e capacitação.
Dessa forma, uma das grandes questões do presente naquilo a que respeita o processo de ensino é: e agora? A resposta está longe de ser evidente, mas de acordo com os mesmos autores, esta revolução não elimina a necessidade do professor humano: apenas redefine o seu papel.
Num mundo em que a informação é ubíqua e gratuita, formar significa cultivar pensamento crítico, discernimento e vontade de evoluir. Por isso, a partir de agora, ao professor não basta o papel de expor informação: o seu papel principal passa a ser o de ajudar a interpretar, contextualizar e avaliar de forma justa. Daqui em diante, a literacia que importa, aquela onde o professor continua a ser peça fundamental, é no ensino da literacia crítica — saber que perguntas fazer, como validar fontes, como identificar erros e resistir à manipulação de informação.
Mas mais ainda: o processo de aprendizagem não se reduz a conteúdos. Inclui práticas, valores e convivência. O professor continua insubstituível como modelo humano: quem inspira, escuta, desafia. A IA pode resolver uma equação ou resumir um texto, mas não substitui a empatia, a ética, o estímulo à curiosidade, ou o modelo inspiracional que sempre os melhores professores foram para os seus estudantes.
Por isso o acesso livre à informação e à IA pode tornar-se aliado pedagógico poderoso, se integrado numa redefinição daquilo que é o papel do professor no atual contexto tecnológico. A IA personaliza ritmos de aprendizagem, acompanha quem tem dificuldades, sugere novas abordagens. Ao professor caberá, com esta nova ferramenta, reconfigurar o espaço educativo: mais do que um simples orador num palco, torna-se mentor, facilitador, curador de percursos e modelo inspiracional.
Estamos, pois, diante de uma encruzilhada. Se nos limitarmos a reproduzir modelos do passado, a IA tornará obsoleto o ensino tradicional. Mas, se conseguirmos reinventar o ato de ensinar, o futuro do ensino poderá ser mais inclusivo, mais abrangente e mais eficiente. Afinal, ensinar nunca foi apenas transmitir: na verdade sempre foi, sobretudo, inspirar pessoas abrindo-lhes novos caminhos.
Rogério Colaço
Hoje, porém, surge uma interrogação inevitável: que será deste modelo milenar de ensino quando qualquer pessoa, em qualquer lugar, pode aceder instantaneamente a vastas quantidades de informação, conversando com sistemas de inteligência artificial (IA) que emulam o saber humano?
De acordo com Seldon e colegas (The Fourth Education Revolution, University of Buckingham Press, 2018), vivemos agora a quarta revolução educacional: aquela em que a transmissão de conhecimentos deixa de ser monopólio exclusivo dos seres humanos, mas passa a ter a IA como parceira. Desta forma, assistimos, e vivemos, a uma rutura histórica naquilo a que respeita o milenar processo de educação, ensino, formação e capacitação.
Pela primeira vez, os “mestres”, os professores, deixaram de ser os únicos mediadores entre o saber e os “aprendizes”, os estudantes. Se a Internet democratizou o acesso ao conhecimento nas últimas três décadas, no presente a IA passou a converter esse conhecimento em explicações personalizadas, diálogos pedagógicos e sugestões para aprendizagem contínua. Em teoria, todos os estudantes dispõem agora de um tutor, não humano, totalmente disponível 24 horas por dia.
Dessa forma, uma das grandes questões do presente naquilo a que respeita o processo de ensino é: e agora? A resposta está longe de ser evidente, mas de acordo com os mesmos autores, esta revolução não elimina a necessidade do professor humano: apenas redefine o seu papel.
Num mundo em que a informação é ubíqua e gratuita, formar significa cultivar pensamento crítico, discernimento e vontade de evoluir. Por isso, a partir de agora, ao professor não basta o papel de expor informação: o seu papel principal passa a ser o de ajudar a interpretar, contextualizar e avaliar de forma justa. Daqui em diante, a literacia que importa, aquela onde o professor continua a ser peça fundamental, é no ensino da literacia crítica — saber que perguntas fazer, como validar fontes, como identificar erros e resistir à manipulação de informação.
Mas mais ainda: o processo de aprendizagem não se reduz a conteúdos. Inclui práticas, valores e convivência. O professor continua insubstituível como modelo humano: quem inspira, escuta, desafia. A IA pode resolver uma equação ou resumir um texto, mas não substitui a empatia, a ética, o estímulo à curiosidade, ou o modelo inspiracional que sempre os melhores professores foram para os seus estudantes.
Por isso o acesso livre à informação e à IA pode tornar-se aliado pedagógico poderoso, se integrado numa redefinição daquilo que é o papel do professor no atual contexto tecnológico. A IA personaliza ritmos de aprendizagem, acompanha quem tem dificuldades, sugere novas abordagens. Ao professor caberá, com esta nova ferramenta, reconfigurar o espaço educativo: mais do que um simples orador num palco, torna-se mentor, facilitador, curador de percursos e modelo inspiracional.
Estamos, pois, diante de uma encruzilhada. Se nos limitarmos a reproduzir modelos do passado, a IA tornará obsoleto o ensino tradicional. Mas, se conseguirmos reinventar o ato de ensinar, o futuro do ensino poderá ser mais inclusivo, mais abrangente e mais eficiente. Afinal, ensinar nunca foi apenas transmitir: na verdade sempre foi, sobretudo, inspirar pessoas abrindo-lhes novos caminhos.
Rogério Colaço
terça-feira, 29 de julho de 2025
O mundo vê você sofrer em vão: não os perdoe, Gaza…
Em abril passado, escrevi "Perdoa-me, Gaza" — uma reflexão pessoal sobre angústia e desamparo. Hoje, não há espaço para introspecção. Não se trata mais de culpa pessoal. Estamos testemunhando uma campanha israelense de fome em massa, destruição em massa e massacre em massa, possibilitada apenas pela indiferença global.
Não há fome em Gaza. Há uma fome israelense alimentada pelos americanos.
O genocídio em Gaza não é consequência da guerra. É pretexto. Não se trata de uma opinião, mas de fatos documentados, com intenção, e expressos abertamente por autoridades israelenses, desde o presidente até cidadãos comuns.
Essa intenção não é a visão marginal de alguns extremistas, como a mídia administrada pelos sionistas gostaria que você acreditasse. É a corrente dominante. A esmagadora maioria dos judeus israelenses apoia a limpeza étnica de Gaza, com uma parcela significativa endossando abertamente o massacre de civis. Esta é a dura realidade. Esta é a cultura israelense, nutrida e sustentada por potências ocidentais desesperadas para expiar seus próprios crimes históricos contra os judeus, impondo um projeto sionista de colonização no coração do mundo árabe.
Uma cultura diabólica se manifesta na fome de milhões de pessoas por um regime intoxicado pela própria impunidade. Em outubro de 2023, o presidente israelense Isaac Herzog apagou a linha entre civis e combatentes, anunciando : "É uma nação inteira lá fora que é responsável". Com essa única frase, ele demonizou todos os civis e proferiu a sentença de morte coletiva que testemunhamos hoje contra 2,3 milhões de pessoas. Na semana passada, ele reforçou a posição, afirmando que o cerco israelense está "em consonância com... os valores israelenses e judaicos".
O então Ministro da Defesa, Yoav Gallant, ecoou o mesmo ódio ideológico sionista: “Estamos a colocar um cerco completo… Sem electricidade, sem comida, sem água, sem gás.” O seu sucessor, o Ministro da Defesa, Israel Katz, não foi menos descarado na sua recente declaração : “Nenhuma ajuda humanitária entrará em Gaza.”
O Ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, foi ainda mais longe, afirmando abertamente que a fome em massa era moralmente justificada. Com uma franqueza assustadora, ele defendeu a limpeza étnica, descrevendo a "vitória" israelense como aquela em que "Gaza será totalmente destruída", forçando os palestinos a "partirem em grande número para terceiros países". Suas palavras oferecem uma janela para a mentalidade genocida que norteia a liderança racista de Israel e a vasta maioria de sua população.
Não se trata de discrepâncias radicais, mas de crenças amplamente difundidas. São o ímpeto que impulsiona Benjamin Netanyahu e o Estado israelense. Políticas codificadas em prática por um governo impregnado de racismo e kosherizado pela religião, onde usar a comida como arma para matar de fome uma população inteira é " justificado e moral ".
Tais políticas representam um culto sionista arraigado e imoral. É a mesma podridão moral que permite que figuras israelenses de alto escalão racionalizem a matança em massa em termos religiosos e raciais. Falando sobre o genocídio em Gaza, o rabino israelense Eliyahu Mali, diretor de uma escola religiosa em Yaffa, dirigiu-se aos estudantes — muitos dos quais servem no exército — afirmando: "Em nossa mitzvá... (Lei Judaica), nem toda alma viverá", e instando os soldados a matarem "a geração futura (crianças) e aqueles que produzem a geração futura (mães), porque realmente não há diferença".
Anos antes, o rabino Ovadia Yosef, então rabino-chefe sefardita, pregou que Deus criou os "goyim... apenas para servir ao povo de Israel", comparando a perda de suas vidas à de um "jumento". Essas palavras não são uma aberração. São autoritárias e refletem uma ideologia tóxica arraigada na cultura e no discurso religioso israelense. São pontificações religiosas usadas para justificar a fome kosher e o massacre de goyim palestinos.
De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, cerca de um terço das pessoas “não come há dias”. Quando os líderes israelenses justapõem essa realidade com alegações de moralidade, eles estão invocando uma doutrina religiosa que enquadra essa crueldade como uma forma de mitzvot divina .
Isso nos leva aos vergonhosos facilitadores dessa visão religiosa distorcida. Israel não pode matar de fome 2,3 milhões de pessoas sem apoio externo. Não sem a cumplicidade do regime egípcio, que permitiu que Israel violasse seu acordo suplementar de Camp David, que proíbe a presença militar israelense na fronteira de Gaza com o Egito.
Certamente, não sem o financiamento americano da "Fundação Humanitária de Gaza" (GHF), que foi descartada por todas as organizações de direitos humanos credíveis como uma farsa de relações públicas israelense. Um projeto concebido em Tel Aviv, financiado em Washington e destinado a manter a fome enquanto protegia Israel da crescente indignação global. Assim como Biden, o presidente Donald Trump se ajoelhou diante de Tel Aviv, alimentando a máquina de desinformação e financiando ferramentas de fome com o dinheiro dos impostos americanos e uma cúpula de ferro de cobertura política.
O recente fracasso das negociações para pôr fim ao genocídio israelense expôs até que ponto o governo americano estava disposto a ceder à agenda demoníaca de Netanyahu. As negociações fracassaram porque os EUA permitiram que Israel usasse a fome como alavanca em negociações políticas.
E a Europa? O Reino Unido e a UE continuam a emitir declarações vazias de "preocupação", alertando Israel repetidamente sobre as supostas consequências, mas nenhuma delas se materializa. Isso enquanto continuam a fornecer a Israel as ferramentas militares e a compartilhar informações que tornam esse genocídio possível.
O mundo árabe? Uma vergonha completa e absoluta. Regimes permaneceram impassíveis enquanto Gaza mergulhava na fome, como espectadores passivos de um filme de ficção dramática, distantes e impassíveis. Com exceção do Iêmen, árabes, líderes e povos permaneceram vergonhosamente silenciosos ou continuaram com suas atividades normais com Israel, mesmo enquanto Gaza morria de fome.
No artigo de opinião da semana passada, mencionei um plano para retomar os lançamentos aéreos de ajuda alimentar, iniciados no domingo, 27 de julho. Argumentei que os lançamentos aéreos, assim como o píer flutuante e o GHF, eram pouco mais do que distrações: analgésicos para o câncer da fome infligido por Israel. Assim como a distribuição limitada do GHF, os lançamentos aéreos são limitados, já que cada voo de um C-130 pode entregar 12.650 refeições por viagem. Para fornecer apenas uma refeição por dia aos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, seriam necessários 170 voos diários.
A Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, os colaboradores que lideram os lançamentos aéreos, têm uma frota combinada de 18 C-130. Considerando um tempo de resposta extremamente generoso de oito horas para carregamento, voo e lançamento — e considerando que um voo de ida e volta entre os Emirados Árabes Unidos e a Palestina leva cerca de sete horas — cada aeronave poderia, na melhor das hipóteses, realizar duas viagens por dia. Isso equivale a um total de no máximo 36 voos diários, entregando o equivalente a apenas um quinto de uma refeição por pessoa por dia.
Ao mesmo tempo, cresce a preocupação de que o atual e limitado alívio da fome faça parte de uma estratégia mais ampla: Netanyahu autorizando ajuda restrita em troca do apoio futuro de Trump em uma operação militar conjunta em Gaza para tentar libertar os prisioneiros israelenses. Com as piores imagens de fome temporariamente atenuadas, seria mais fácil para Trump enviar tropas americanas em mais uma guerra feita para Israel.
Isso também poderia explicar o silêncio dos ministros racistas israelenses, Smotrich e Itamar Ben Gvir, que já haviam ameaçado renunciar caso a ajuda alimentar entrasse em Gaza. A ausência de protestos levanta questões sobre qual acordo político pode estar sendo firmado a portas fechadas.
O "Valor Mínimo de Ajuda" de Israel não vai parar o ronco dos estômagos nem hidratar os lábios ressecados das crianças de Gaza. Pode, no entanto, apenas prolongar o sofrimento de seus corpos emaciados antes de assassiná-los na próxima guerra americana em nome de Israel.
As autoridades americanas devem parar de repetir os discursos israelenses e reconhecer que o acesso à alimentação é um direito humano fundamental, não uma ferramenta de influência política. Enquanto Israel ditar a mensagem americana e controlar o fluxo mínimo de alimentos, combustível e medicamentos, a fome persistirá. Enquanto isso, os mais vulneráveis da população, um milhão de crianças, estão lentamente definhando . Aqueles que sobreviverem carregarão o fardo de complicações de saúde irreversíveis e feridas psicológicas profundas que nunca cicatrizam. Privados de sua infância, eles carregarão seus traumas físicos e emocionais para sempre. Eles não esquecerão. E eles não perdoarão.
Não os perdoe, Gaza
Não a Europa que nega comida aos seus filhos
Não os árabes que desviam o olhar
Não a administração Trump que financia sua fome
Não o mundo que assiste você sofrer em vão
Não há fome em Gaza. Há uma fome israelense alimentada pelos americanos.
O genocídio em Gaza não é consequência da guerra. É pretexto. Não se trata de uma opinião, mas de fatos documentados, com intenção, e expressos abertamente por autoridades israelenses, desde o presidente até cidadãos comuns.
Essa intenção não é a visão marginal de alguns extremistas, como a mídia administrada pelos sionistas gostaria que você acreditasse. É a corrente dominante. A esmagadora maioria dos judeus israelenses apoia a limpeza étnica de Gaza, com uma parcela significativa endossando abertamente o massacre de civis. Esta é a dura realidade. Esta é a cultura israelense, nutrida e sustentada por potências ocidentais desesperadas para expiar seus próprios crimes históricos contra os judeus, impondo um projeto sionista de colonização no coração do mundo árabe.
Uma cultura diabólica se manifesta na fome de milhões de pessoas por um regime intoxicado pela própria impunidade. Em outubro de 2023, o presidente israelense Isaac Herzog apagou a linha entre civis e combatentes, anunciando : "É uma nação inteira lá fora que é responsável". Com essa única frase, ele demonizou todos os civis e proferiu a sentença de morte coletiva que testemunhamos hoje contra 2,3 milhões de pessoas. Na semana passada, ele reforçou a posição, afirmando que o cerco israelense está "em consonância com... os valores israelenses e judaicos".
O então Ministro da Defesa, Yoav Gallant, ecoou o mesmo ódio ideológico sionista: “Estamos a colocar um cerco completo… Sem electricidade, sem comida, sem água, sem gás.” O seu sucessor, o Ministro da Defesa, Israel Katz, não foi menos descarado na sua recente declaração : “Nenhuma ajuda humanitária entrará em Gaza.”
O Ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, foi ainda mais longe, afirmando abertamente que a fome em massa era moralmente justificada. Com uma franqueza assustadora, ele defendeu a limpeza étnica, descrevendo a "vitória" israelense como aquela em que "Gaza será totalmente destruída", forçando os palestinos a "partirem em grande número para terceiros países". Suas palavras oferecem uma janela para a mentalidade genocida que norteia a liderança racista de Israel e a vasta maioria de sua população.
Não se trata de discrepâncias radicais, mas de crenças amplamente difundidas. São o ímpeto que impulsiona Benjamin Netanyahu e o Estado israelense. Políticas codificadas em prática por um governo impregnado de racismo e kosherizado pela religião, onde usar a comida como arma para matar de fome uma população inteira é " justificado e moral ".
Tais políticas representam um culto sionista arraigado e imoral. É a mesma podridão moral que permite que figuras israelenses de alto escalão racionalizem a matança em massa em termos religiosos e raciais. Falando sobre o genocídio em Gaza, o rabino israelense Eliyahu Mali, diretor de uma escola religiosa em Yaffa, dirigiu-se aos estudantes — muitos dos quais servem no exército — afirmando: "Em nossa mitzvá... (Lei Judaica), nem toda alma viverá", e instando os soldados a matarem "a geração futura (crianças) e aqueles que produzem a geração futura (mães), porque realmente não há diferença".
Anos antes, o rabino Ovadia Yosef, então rabino-chefe sefardita, pregou que Deus criou os "goyim... apenas para servir ao povo de Israel", comparando a perda de suas vidas à de um "jumento". Essas palavras não são uma aberração. São autoritárias e refletem uma ideologia tóxica arraigada na cultura e no discurso religioso israelense. São pontificações religiosas usadas para justificar a fome kosher e o massacre de goyim palestinos.
De acordo com o Programa Mundial de Alimentos, cerca de um terço das pessoas “não come há dias”. Quando os líderes israelenses justapõem essa realidade com alegações de moralidade, eles estão invocando uma doutrina religiosa que enquadra essa crueldade como uma forma de mitzvot divina .
Isso nos leva aos vergonhosos facilitadores dessa visão religiosa distorcida. Israel não pode matar de fome 2,3 milhões de pessoas sem apoio externo. Não sem a cumplicidade do regime egípcio, que permitiu que Israel violasse seu acordo suplementar de Camp David, que proíbe a presença militar israelense na fronteira de Gaza com o Egito.
Certamente, não sem o financiamento americano da "Fundação Humanitária de Gaza" (GHF), que foi descartada por todas as organizações de direitos humanos credíveis como uma farsa de relações públicas israelense. Um projeto concebido em Tel Aviv, financiado em Washington e destinado a manter a fome enquanto protegia Israel da crescente indignação global. Assim como Biden, o presidente Donald Trump se ajoelhou diante de Tel Aviv, alimentando a máquina de desinformação e financiando ferramentas de fome com o dinheiro dos impostos americanos e uma cúpula de ferro de cobertura política.
O recente fracasso das negociações para pôr fim ao genocídio israelense expôs até que ponto o governo americano estava disposto a ceder à agenda demoníaca de Netanyahu. As negociações fracassaram porque os EUA permitiram que Israel usasse a fome como alavanca em negociações políticas.
E a Europa? O Reino Unido e a UE continuam a emitir declarações vazias de "preocupação", alertando Israel repetidamente sobre as supostas consequências, mas nenhuma delas se materializa. Isso enquanto continuam a fornecer a Israel as ferramentas militares e a compartilhar informações que tornam esse genocídio possível.
O mundo árabe? Uma vergonha completa e absoluta. Regimes permaneceram impassíveis enquanto Gaza mergulhava na fome, como espectadores passivos de um filme de ficção dramática, distantes e impassíveis. Com exceção do Iêmen, árabes, líderes e povos permaneceram vergonhosamente silenciosos ou continuaram com suas atividades normais com Israel, mesmo enquanto Gaza morria de fome.
No artigo de opinião da semana passada, mencionei um plano para retomar os lançamentos aéreos de ajuda alimentar, iniciados no domingo, 27 de julho. Argumentei que os lançamentos aéreos, assim como o píer flutuante e o GHF, eram pouco mais do que distrações: analgésicos para o câncer da fome infligido por Israel. Assim como a distribuição limitada do GHF, os lançamentos aéreos são limitados, já que cada voo de um C-130 pode entregar 12.650 refeições por viagem. Para fornecer apenas uma refeição por dia aos 2,3 milhões de habitantes de Gaza, seriam necessários 170 voos diários.
A Jordânia e os Emirados Árabes Unidos, os colaboradores que lideram os lançamentos aéreos, têm uma frota combinada de 18 C-130. Considerando um tempo de resposta extremamente generoso de oito horas para carregamento, voo e lançamento — e considerando que um voo de ida e volta entre os Emirados Árabes Unidos e a Palestina leva cerca de sete horas — cada aeronave poderia, na melhor das hipóteses, realizar duas viagens por dia. Isso equivale a um total de no máximo 36 voos diários, entregando o equivalente a apenas um quinto de uma refeição por pessoa por dia.
Ao mesmo tempo, cresce a preocupação de que o atual e limitado alívio da fome faça parte de uma estratégia mais ampla: Netanyahu autorizando ajuda restrita em troca do apoio futuro de Trump em uma operação militar conjunta em Gaza para tentar libertar os prisioneiros israelenses. Com as piores imagens de fome temporariamente atenuadas, seria mais fácil para Trump enviar tropas americanas em mais uma guerra feita para Israel.
Isso também poderia explicar o silêncio dos ministros racistas israelenses, Smotrich e Itamar Ben Gvir, que já haviam ameaçado renunciar caso a ajuda alimentar entrasse em Gaza. A ausência de protestos levanta questões sobre qual acordo político pode estar sendo firmado a portas fechadas.
O "Valor Mínimo de Ajuda" de Israel não vai parar o ronco dos estômagos nem hidratar os lábios ressecados das crianças de Gaza. Pode, no entanto, apenas prolongar o sofrimento de seus corpos emaciados antes de assassiná-los na próxima guerra americana em nome de Israel.
As autoridades americanas devem parar de repetir os discursos israelenses e reconhecer que o acesso à alimentação é um direito humano fundamental, não uma ferramenta de influência política. Enquanto Israel ditar a mensagem americana e controlar o fluxo mínimo de alimentos, combustível e medicamentos, a fome persistirá. Enquanto isso, os mais vulneráveis da população, um milhão de crianças, estão lentamente definhando . Aqueles que sobreviverem carregarão o fardo de complicações de saúde irreversíveis e feridas psicológicas profundas que nunca cicatrizam. Privados de sua infância, eles carregarão seus traumas físicos e emocionais para sempre. Eles não esquecerão. E eles não perdoarão.
Não os perdoe, Gaza
Não a Europa que nega comida aos seus filhos
Não os árabes que desviam o olhar
Não a administração Trump que financia sua fome
Não o mundo que assiste você sofrer em vão
Denunciar Netanyahu é parte da luta contra antissemitismo
Quando enfim a guerra terminar, e ela terminará um dia, as fronteiras de Gaza se reabrirão. Uma onda de jornalistas e ativistas entrará na Faixa. No mesmo dia, o número de imagens à nossa disposição será imenso. Que imagens veremos? Incontáveis prédios destruídos, isso é certo. Prédios reconstroem-se. Mas e as pessoas, como estarão? O relatório da Organização Mundial da Saúde divulgado no domingo aponta que 74 pessoas morreram por desnutrição aguda neste ano. Delas, mais de 63 se foram agora em julho. Um trabalho mais profundo, do IPC, prevê que até setembro haverá 470 mil pessoas com fome em nível 5. O estudo é de abril. O IPC, um painel formado por especialistas e financiado por inúmeros países, tem uma escala para medir fome. Esse nível, o 5, é o pior deles. Chamam de “catástrofe”. Mas é uma previsão, não sabemos ainda se será concretizada. Fome assim dá em corpos esqueléticos, longilíneos, as costelas saltando contra a pele, a cavidade torácica afundada, bochechas ausentes, olhos opacos flutuando sobre círculos negros no meio do rosto. Se o IPC estiver correto, essas serão as imagens de que nos lembraremos da guerra em Gaza.
Algumas guerras da História recente produziram fome nesse nível. A Guerra de Biafra, entre 1967 e 1970; a da Somália, que teve o pico em 2011. Entram na conta também as guerras do Sudão do Sul (com pico da fome em 2017) e da Etiópia (pico em 2021). O que todos esses conflitos têm em comum é o bloqueio da entrada de ajuda humanitária por parte de um dos lados do conflito. Uma distinção, porém, não pode ser ignorada. É que Israel é uma democracia. A única outra vez que uma democracia provocou uma fome em grande escala foi em 1943, durante a Segunda Guerra. Os britânicos são responsáveis diretos pela morte de 3 milhões em Bengala, hoje entre Índia e Bangladesh. E, ainda assim, aquilo foi num contexto de incompetência e desatenção perante a guerra.
O judaísmo criou a tradição mais humanista das três religiões do Livro. Não pode o governo de Israel matar seres humanos de fome. É desumano. Cruel. É antijudaico.
O governo de Benjamin Netanyahu argumenta que, da maneira como a ONU estava fazendo a entrega de alimentos, boa parte terminava confiscada pelo Hamas. Ia parar no mercado paralelo, usada como instrumento de força política. Talvez. Mas, como diz o jornalista britânico Jonathan Freedland, dane-se. Se a alternativa é a fome de pessoas, não há escolha real. Além do que seria simples resolver o problema. Basta botar dentro de Gaza muito mais comida do que é necessário. Oferta e demanda. Se há oferta demais, não há demanda. Sem demanda, o Hamas não transforma comida em instrumento de poder.
Tenho em uma de minhas estantes dois bonequinhos, um de David Ben-Gurion e outro de Yitzhak Rabin. No mundo da política, estão entre meus heróis pessoais. Um construiu no deserto um país para um povo oprimido. Outro teve a coragem de negociar uma paz muito difícil. São, ambos, exemplos de dedicação ao bem público e convicções democráticas. Muitos na comunidade judaica na diáspora não têm tido coragem de denunciar o horror causado pelo governo Netanyahu. Há razões, mas Netanyahu cruzou a última linha da ética.
Há um surto de antissemitismo no Ocidente. Mal passou do pogrom do Hamas, naquele 7 de outubro de 2023, e já havia militantes de esquerda nas ruas pedindo o fim de Israel. À crueldade absurda do Hamas, limitaram-se a virar o rosto para fingir que não viam. Para dizer que era mentira. Na semana passada mesmo, o governo do Brasil deixou oficialmente a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, um gesto incompreensível de tão absurdo. O que lutar contra negacionistas do genocídio nazista tem a ver com Israel? Nada. O Planalto confunde judeus com israelenses e vira as costas para os muitos brasileiros que, sendo judeus, nada têm a ver com as decisões tomadas dentro do Knesset. Esse tipo de comportamento tem nome.
Os nazistas mataram 4 milhões de judeus entre 1942 e 1945. Só entre agosto e outubro de 1942 foram 1,5 milhão. Nada na História contemporânea sequer se aproxima daquilo. Mas, se o IPC estiver correto, quando a imprensa entrar com liberdade em Gaza registrará imagens da tragédia produzida pelo governo Netanyahu que serão associadas ao Holocausto. O terror que o governo Netanyahu está construindo liberará incontáveis antissemitas da vergonha de se mostrarem como são, e as vítimas maiores serão judeus na diáspora. Netanyahu não só foi incapaz de garantir a segurança de judeus no 7 de Outubro, como está conduzindo uma guerra bárbara que o Exército e a sociedade israelense rejeitam.
Lutar contra o antissemitismo, hoje, passa por denunciar Bibi Netanyahu.
Algumas guerras da História recente produziram fome nesse nível. A Guerra de Biafra, entre 1967 e 1970; a da Somália, que teve o pico em 2011. Entram na conta também as guerras do Sudão do Sul (com pico da fome em 2017) e da Etiópia (pico em 2021). O que todos esses conflitos têm em comum é o bloqueio da entrada de ajuda humanitária por parte de um dos lados do conflito. Uma distinção, porém, não pode ser ignorada. É que Israel é uma democracia. A única outra vez que uma democracia provocou uma fome em grande escala foi em 1943, durante a Segunda Guerra. Os britânicos são responsáveis diretos pela morte de 3 milhões em Bengala, hoje entre Índia e Bangladesh. E, ainda assim, aquilo foi num contexto de incompetência e desatenção perante a guerra.
O judaísmo criou a tradição mais humanista das três religiões do Livro. Não pode o governo de Israel matar seres humanos de fome. É desumano. Cruel. É antijudaico.
O governo de Benjamin Netanyahu argumenta que, da maneira como a ONU estava fazendo a entrega de alimentos, boa parte terminava confiscada pelo Hamas. Ia parar no mercado paralelo, usada como instrumento de força política. Talvez. Mas, como diz o jornalista britânico Jonathan Freedland, dane-se. Se a alternativa é a fome de pessoas, não há escolha real. Além do que seria simples resolver o problema. Basta botar dentro de Gaza muito mais comida do que é necessário. Oferta e demanda. Se há oferta demais, não há demanda. Sem demanda, o Hamas não transforma comida em instrumento de poder.
Tenho em uma de minhas estantes dois bonequinhos, um de David Ben-Gurion e outro de Yitzhak Rabin. No mundo da política, estão entre meus heróis pessoais. Um construiu no deserto um país para um povo oprimido. Outro teve a coragem de negociar uma paz muito difícil. São, ambos, exemplos de dedicação ao bem público e convicções democráticas. Muitos na comunidade judaica na diáspora não têm tido coragem de denunciar o horror causado pelo governo Netanyahu. Há razões, mas Netanyahu cruzou a última linha da ética.
Há um surto de antissemitismo no Ocidente. Mal passou do pogrom do Hamas, naquele 7 de outubro de 2023, e já havia militantes de esquerda nas ruas pedindo o fim de Israel. À crueldade absurda do Hamas, limitaram-se a virar o rosto para fingir que não viam. Para dizer que era mentira. Na semana passada mesmo, o governo do Brasil deixou oficialmente a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, um gesto incompreensível de tão absurdo. O que lutar contra negacionistas do genocídio nazista tem a ver com Israel? Nada. O Planalto confunde judeus com israelenses e vira as costas para os muitos brasileiros que, sendo judeus, nada têm a ver com as decisões tomadas dentro do Knesset. Esse tipo de comportamento tem nome.
Os nazistas mataram 4 milhões de judeus entre 1942 e 1945. Só entre agosto e outubro de 1942 foram 1,5 milhão. Nada na História contemporânea sequer se aproxima daquilo. Mas, se o IPC estiver correto, quando a imprensa entrar com liberdade em Gaza registrará imagens da tragédia produzida pelo governo Netanyahu que serão associadas ao Holocausto. O terror que o governo Netanyahu está construindo liberará incontáveis antissemitas da vergonha de se mostrarem como são, e as vítimas maiores serão judeus na diáspora. Netanyahu não só foi incapaz de garantir a segurança de judeus no 7 de Outubro, como está conduzindo uma guerra bárbara que o Exército e a sociedade israelense rejeitam.
Lutar contra o antissemitismo, hoje, passa por denunciar Bibi Netanyahu.
Trump e a estratégia de oposição latino-americana
A presença de Donald Trump no cenário internacional e sua postura intervencionista, seja por meio de suas políticas tarifárias ou de sua aliança com forças políticas de direita, mudaram profundamente o clima político na América Latina.
Muitos oponentes estão tentados a declarar sua proximidade com o presidente dos EUA, na esperança de obter vantagens eleitorais e apoio que os ajudarão a derrotar os governos em exercício.
No entanto, essa postura provou ser uma faca de dois gumes no cenário eleitoral. O Partido Conservador do Canadá saiu pela culatra ao copiar a campanha de Trump nos EUA, perdendo a vantagem que tinha na eleição de abril de 2025. Jogar em casa para vencer em casa não é necessariamente uma estratégia vencedora. Isso também pode se aplicar a casos latino-americanos.
O efeito Trump no Canadá
A retórica anexacionista repetida de Donald Trump contra o vizinho Canadá pode ter parecido uma simples provocação no início, mas com o tempo gerou efeitos políticos visíveis: reavivou os progressistas e afundou os conservadores.
Desde que Donald Trump assumiu a presidência, os liberais de Justin Trudeau e Mark Carney passaram de perdedores a vencedores. Carney desempenhou o papel de um gestor de crise eficaz e um líder nacionalista que conseguiu unir o país.
Ele conseguiu diminuir a diferença nas pesquisas de seu partido, posicionando-se como líder da resistência nacional às políticas agressivas do presidente Trump. Repetidamente, ele enfatizou que o Canadá defenderia sua soberania, chegando até a boicotar produtos fabricados nos EUA.
Contra os conservadores, que copiaram o slogan da campanha "Canadá Primeiro" de Trump, Carney conseguiu cultivar uma liderança baseada no patriotismo com claras conotações de um nacionalismo canadense desconhecido até recentemente.
Variante 1: A oposição causa danos ao país em nome dos interesses de um governo estrangeiro
Ao anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, o presidente dos EUA, Donald Trump, usou argumentos políticos e denunciou uma suposta "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro na Justiça brasileira.
Ao se recusar a reconhecer a independência do Judiciário brasileiro, Trump exige que o processo contra o ex-presidente termine "imediatamente" e acusa o governo Lula da Silva de censurar oponentes políticos.
Por sua vez, o presidente brasileiro descreveu as ações de seu homólogo americano como "chantagem inaceitável na forma de ameaças às instituições brasileiras e informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos".
A crítica é direcionada ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente reside nos EUA e vem pressionando políticos americanos a retaliarem contra o judiciário brasileiro.
Variante 2: Invocar o apoio de um governo estrangeiro contra o governo nacional
No caso da Colômbia, outras variações podem ser encontradas, também marcadas por um contexto pré-eleitoral em um país altamente polarizado politicamente.
A candidata conservadora independente Vicky Dávila, que atualmente lidera as pesquisas, acaba de lançar um apelo a Washington por meio de sua conta no X: "Presidente Trump, não deixe os colombianos sozinhos em meio às tempestades causadas pelas acusações falsas, imprudentes, prejudiciais e infundadas de Petro contra o Congresso dos EUA e seu governo."
Em sua mensagem, ela também acusa o governo do presidente Petro de buscar perpetuar seu poder e pede apoio aos cidadãos, empresários e empresas de seu país contra o atual governo. Não é surpresa que ela tenha enfrentado acusações de traidora e de ter traído o país, acusações essas que estão ligadas às repetidas denúncias do próprio presidente sobre possíveis golpes em andamento contra seu governo.
Variante 3: Separar as pessoas boas do mau governo na frente externa
Anteriormente, a ex-vice-presidente colombiana Marta Lucía Ramírez havia enviado uma carta ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmando que "a postura desafiadora, agressiva e desobediente do governo do presidente Gustavo Petro em relação aos Estados Unidos, sua cooperação e o povo americano não representa os sentimentos do povo colombiano".
Os signatários da carta incluíam ex-ministros das Relações Exteriores e líderes empresariais, alguns dos quais foram incluídos na lista sem sua autorização expressa, já que o rascunho da carta foi tornado público prematuramente.
Variante 4: Geração de descrédito diplomático para o Governo nacional
Dezoito congressistas colombianos também apresentaram uma queixa contra o governo nacional, enviando uma carta ao Papa Leão XIV sobre a nomeação de Iván Velázquez como embaixador na Santa Sé, alegando que ele é alvo de um pedido de prisão e extradição pela Procuradoria-Geral da Guatemala por suas ações durante seu mandato como presidente da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG).
Internacionalmente, a controversa promotora Consuelo Porras é amplamente conhecida por usar o Ministério Público da Guatemala mais como uma ferramenta política do que como uma instituição judicial. A tentativa da oposição colombiana de usar suas controversas investigações no exterior para desacreditar o governo nacional com fontes não confiáveis reflete outra variante do antipatriotismo colombiano.
A tendência de equiparar oposição desleal a atitudes antipatrióticas não nos ajuda a entender o que está acontecendo em cada caso. Não há dúvida de que uma oposição eficaz também pode gerar pressão internacional contra o governo no poder.
Se essas atitudes são "antipatrióticas" é uma questão a ser debatida nos respectivos fóruns nacionais. Um caso diferente é quando a oposição deixa de respeitar as regras básicas do sistema de governo, como no Brasil, onde a independência judicial e, com ela, a separação de poderes são negadas. Nesse caso, torna-se uma oposição desleal, ou seja, uma oposição fundamental que protesta não dentro das instituições políticas, mas contra elas.
Muitos oponentes estão tentados a declarar sua proximidade com o presidente dos EUA, na esperança de obter vantagens eleitorais e apoio que os ajudarão a derrotar os governos em exercício.
No entanto, essa postura provou ser uma faca de dois gumes no cenário eleitoral. O Partido Conservador do Canadá saiu pela culatra ao copiar a campanha de Trump nos EUA, perdendo a vantagem que tinha na eleição de abril de 2025. Jogar em casa para vencer em casa não é necessariamente uma estratégia vencedora. Isso também pode se aplicar a casos latino-americanos.
O efeito Trump no Canadá
A retórica anexacionista repetida de Donald Trump contra o vizinho Canadá pode ter parecido uma simples provocação no início, mas com o tempo gerou efeitos políticos visíveis: reavivou os progressistas e afundou os conservadores.
Desde que Donald Trump assumiu a presidência, os liberais de Justin Trudeau e Mark Carney passaram de perdedores a vencedores. Carney desempenhou o papel de um gestor de crise eficaz e um líder nacionalista que conseguiu unir o país.
Ele conseguiu diminuir a diferença nas pesquisas de seu partido, posicionando-se como líder da resistência nacional às políticas agressivas do presidente Trump. Repetidamente, ele enfatizou que o Canadá defenderia sua soberania, chegando até a boicotar produtos fabricados nos EUA.
Contra os conservadores, que copiaram o slogan da campanha "Canadá Primeiro" de Trump, Carney conseguiu cultivar uma liderança baseada no patriotismo com claras conotações de um nacionalismo canadense desconhecido até recentemente.
Variante 1: A oposição causa danos ao país em nome dos interesses de um governo estrangeiro
Ao anunciar tarifas de 50% sobre produtos brasileiros, o presidente dos EUA, Donald Trump, usou argumentos políticos e denunciou uma suposta "caça às bruxas" contra Jair Bolsonaro na Justiça brasileira.
Ao se recusar a reconhecer a independência do Judiciário brasileiro, Trump exige que o processo contra o ex-presidente termine "imediatamente" e acusa o governo Lula da Silva de censurar oponentes políticos.
Por sua vez, o presidente brasileiro descreveu as ações de seu homólogo americano como "chantagem inaceitável na forma de ameaças às instituições brasileiras e informações falsas sobre o comércio entre o Brasil e os Estados Unidos".
A crítica é direcionada ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atualmente reside nos EUA e vem pressionando políticos americanos a retaliarem contra o judiciário brasileiro.
Variante 2: Invocar o apoio de um governo estrangeiro contra o governo nacional
No caso da Colômbia, outras variações podem ser encontradas, também marcadas por um contexto pré-eleitoral em um país altamente polarizado politicamente.
A candidata conservadora independente Vicky Dávila, que atualmente lidera as pesquisas, acaba de lançar um apelo a Washington por meio de sua conta no X: "Presidente Trump, não deixe os colombianos sozinhos em meio às tempestades causadas pelas acusações falsas, imprudentes, prejudiciais e infundadas de Petro contra o Congresso dos EUA e seu governo."
Em sua mensagem, ela também acusa o governo do presidente Petro de buscar perpetuar seu poder e pede apoio aos cidadãos, empresários e empresas de seu país contra o atual governo. Não é surpresa que ela tenha enfrentado acusações de traidora e de ter traído o país, acusações essas que estão ligadas às repetidas denúncias do próprio presidente sobre possíveis golpes em andamento contra seu governo.
Variante 3: Separar as pessoas boas do mau governo na frente externa
Anteriormente, a ex-vice-presidente colombiana Marta Lucía Ramírez havia enviado uma carta ao secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmando que "a postura desafiadora, agressiva e desobediente do governo do presidente Gustavo Petro em relação aos Estados Unidos, sua cooperação e o povo americano não representa os sentimentos do povo colombiano".
Os signatários da carta incluíam ex-ministros das Relações Exteriores e líderes empresariais, alguns dos quais foram incluídos na lista sem sua autorização expressa, já que o rascunho da carta foi tornado público prematuramente.
Variante 4: Geração de descrédito diplomático para o Governo nacional
Dezoito congressistas colombianos também apresentaram uma queixa contra o governo nacional, enviando uma carta ao Papa Leão XIV sobre a nomeação de Iván Velázquez como embaixador na Santa Sé, alegando que ele é alvo de um pedido de prisão e extradição pela Procuradoria-Geral da Guatemala por suas ações durante seu mandato como presidente da Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala (CICIG).
Internacionalmente, a controversa promotora Consuelo Porras é amplamente conhecida por usar o Ministério Público da Guatemala mais como uma ferramenta política do que como uma instituição judicial. A tentativa da oposição colombiana de usar suas controversas investigações no exterior para desacreditar o governo nacional com fontes não confiáveis reflete outra variante do antipatriotismo colombiano.
A tendência de equiparar oposição desleal a atitudes antipatrióticas não nos ajuda a entender o que está acontecendo em cada caso. Não há dúvida de que uma oposição eficaz também pode gerar pressão internacional contra o governo no poder.
Se essas atitudes são "antipatrióticas" é uma questão a ser debatida nos respectivos fóruns nacionais. Um caso diferente é quando a oposição deixa de respeitar as regras básicas do sistema de governo, como no Brasil, onde a independência judicial e, com ela, a separação de poderes são negadas. Nesse caso, torna-se uma oposição desleal, ou seja, uma oposição fundamental que protesta não dentro das instituições políticas, mas contra elas.
segunda-feira, 28 de julho de 2025
Amazônia pode ser solução para o adubo do agronegócio
A densa floresta, os igarapés e os rios que fluem silenciosos nos arredores do município de Autazes, no estado do Amazonas, escondem fenômenos invisíveis à primeira vista. Um deles é o potássio, mineral que pode ser encontrado no subsolo, a 800 metros de profundidade. O recurso usado como base para a produção de fertilizantes simboliza a promessa para reduzir a dependência do país de adubos importados – especialmente após a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.
Outro "fato invisível" é a complexa teia de interesses econômicos, políticos e as ameaças ambientais decorrentes da exploração do mineral.
O potássio promete alavancar o agronegócio brasileiro. Mas, para retirá-lo do solo, a empresa Potássio do Brasil, subsidiária da canadense Brazil Potash Corp, precisa perfurar áreas inteiras de florestas intocadas. Estima-se o acúmulo de pelo menos duas pilhas de rejeitos com quase 80 milhões metros cúbicos só de resíduos descartados, sem uso posterior. O volume foi comparado à altura de dois prédios de oito andares. Cientistas e ambientalistas alertam que, com a retirada desse mineral do subsolo, áreas inteiras podem afundar.
Nos arredores das futuras instalações desse projeto, vive a comunidade de indígenas do Lago do Soares e Urucurituba, que aguarda, desde 2003, a demarcação oficial de seu território pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Cerca de 200 famílias da etnia mura estão na aldeia Soares. Conhecidos pelas suas habilidades na navegação, os indígenas mura ocupam a região dos rios Madeira, Amazonas e Purus há pelo menos um século.
"Nos pontos onde as perfurações já aconteceram, boa parte da floresta foi derrubada – e para garantir o acesso às áreas exploradas será necessário desmatar ainda mais", alerta o tuxaua (liderança tradicional) Filipe Gabriel, de 27 anos.
Há dois anos, ele está em pé de guerra com a Potássio do Brasil, a empresa responsável pelo projeto. Passou a enfrentar pressões internas, vendo lideranças locais se alinharem aos interesses da mineradora, e já foi alvo de ameaças. O temor de Filipe é que a sua aldeia acabe soterrada antes mesmo de ser reconhecida oficialmente como território indígena.
Entre março e abril, a reportagem da DW percorreu Autazes e as áreas próximas ao município que fica a cerca de 260 km a sudeste da capital amazonense.
O percurso é feito de carro, balsa e o último trecho, até o Lago de Soares, com uma pequena embarcação local (voadeira). Quem navega pelos igarapés de Autazes, e nas áreas próximas dos locais onde a empresa pretende implementar o projeto, pode estranhar como búfalos, cada vez mais presentes na região, foram parar em áreas cercadas por rios de fortes correntezas e profundos lagos. Os animais dificilmente atravessariam os rios nadando.
Segundo o biólogo Lucas Ferrante, que atua no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), há um processo de grilagem – tomada de posse de terras com falsos títulos de propriedade – com a introdução desses animais em certas áreas. A grilagem, de acordo com Ferrante, também fortalece o crime organizado, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).
O biólogo acrescenta que os pecuaristas estariam negociando essas terras diretamente com a Potássio do Brasil, uma vez que não conseguiram adquiri-las diretamente de outros indígenas. "Nós vemos uma organização criminosa atuando na grilagem de terras, que inclusive tem invadido a região de Autazes, invadindo terras indígenas, e disseminando búfalos nessas áreas griladas", disse à DW Brasil o também colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).
"Estamos falando de uma articulação do crime organizado diretamente com a Potássio do Brasil para ter acesso a áreas indígenas na Amazônia, o que agrava ainda mais. É uma empresa que, de fato, tem adquirido isso de maneira criminosa", acrescentou.
Questionado, o Ministério Público do Amazonas disse que investigações nestes casos são sigilosas. A reportagem também procurou a empresa Potássio do Brasil para questionar se reconhece as acusações, como tem sido a aquisição de terras para o projeto, e como controla todas as etapas desse processo. A empresa não respondeu ao pedido de esclarecimentos da reportagem até a conclusão da matéria.
Mas, segundo Ferrante, "o Brasil está abrindo uma das áreas mais conservadas, um dos últimos blocos de floresta intocada no meio da Amazônia, acelerando uma nova fronteira do desmatamento – e nós temos vários estudos publicados sobre isso – justamente para facilitar a exploração".
Ferrante destaca ainda que sua equipe pesquisa uma alternativa sustentável: o uso de microrganismos capazes de fixar potássio no solo, o que pode tornar a atual forma de extração de potássio obsoleta em apenas cerca de dez anos.
"Até esse potássio começar a ser explorado vão alguns anos e, até lá, nós já teremos essa biotecnologia em mãos, o que dispensa esse trabalho retrógrado que viola o direito dos povos indígenas e que ameaça a Amazônia através das ações da Potássio do Brasil nesse território", disse.
Atualmente, a empresa avança com o projeto de extração de potássio do solo para a produção de fertilizantes químicos.
A Brazil Potash Corp, ligada ao investidor Stan Bharti e ao banco Forbes & Manhattan, pretende explorar potássio em mais de um milhão de hectares entre Autazes e Óbidos, no Pará. Isso significa que a expansão desse projeto para além dos arredores de Manaus poderá ter impactos ambientais em uma grande área de floresta na Amazônia, abarcando vários estados, além do Amazonas.
Porém, desde 2015, o Ministério Público apura irregularidades no licenciamento ambiental do projeto, denúncias de ameaças de morte, cooptação de lideranças indígenas, assédio e a compra de terras sob coação nos arredores de Autazes.
Anunciado no município há mais de dez anos, o projeto da Brazil Potash Corp. para construir uma mina de potássio já tem as obras iniciadas. Os moradores nos arredores das futuras instalações relataram à DW Brasil que há o movimento de embarcações e que parte da área começou a ser desmatada.
Porém, isso acontece sem as licenças do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão federal. Através do órgão estadual Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a empresa obteve o licenciamento ambiental fracionado, relata o advogado que representa a comunidade. Foram licenças individuais separadas para diferentes partes do projeto, como a construção de estradas e depósitos de rejeitos, em vez de uma licença emitida pelo Ibama.
A DW Brasil entrou em contato com o Ibama e questionou por que o órgão não é o responsável pelo licenciamento ambiental, considerando que se trata de um projeto de interesse nacional. Em resposta, o Ibama afirmou que se baseia no artigo 7º da Lei Complementar nº 140/2011, segundo o qual sua atuação seria obrigatória apenas caso as instalações impactassem diretamente terras indígenas. Por esse motivo, como são áreas em demarcação, declarou que "não se verificam as características que justificariam a atuação do órgão".
Mas a abstenção do Ibama no licenciamento tem sido questionada pela Justiça. Em 2023, a justiça do Amazonas suspendeu o licenciamento ambiental, alegando que a competência era do Ibama, e não do órgão estadual Ipaam. No ano passado, porém, o Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF1), reverteu a decisão, fortalecendo o Ipaam no impasse que se arrasta há cerca de dez anos.
"A gente sabe que por costume – um costume triste –, os órgãos estaduais tendem a ser muito mais propensos a liberar licenças de qualquer jeito do que o federal, e é o que está acontecendo aqui. Há violações crassas, licenciamento feito de qualquer maneira, cheio de irregularidades pelo órgão estadual", disse à DW Brasil o procurador Fernando Merloto Soave.
Outro imbróglio no licenciamento ambiental é o fato de as comunidades mais impactadas pelas futuras instalações do projeto não terem sido ouvidas, segundo explicou à DW Brasil o MPF do Amazonas. A consulta às comunidades do entorno é uma diretriz da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O advogado do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), João Vitor Lisboa Batista, que representa as comunidades Lago do Soares e Urucurituba, diz que "o maior desafio tem sido provar que a consulta realizada não foi válida porque as pessoas que deveriam ser ouvidas foram ignoradas".
Segundo o advogado, a estratégia da empresa Potássio do Brasil foi deslocar a área do empreendimento para os locais em processo de demarcação, como Lago do Soares e Urucurituba, já que a Constituição Federal proíbe mineração em terras indígenas. Segundo a liderança indígena Filipe Gabriel, com frequência diz-se na região que "se a terra não está demarcada é porque não tem indígenas, então se pode explorar, porque não tem donos".
Mas o MPF questiona esse argumento e explica que "não se pode minerar em cima desses territórios, estejam eles demarcados ou não", diz o procurador Fernando Merloto Soave. "O que faz o território existir, ou não, é seu uso tradicional. Delimitar ou demarcar é papel burocrático do governo", acrescenta.
No início de abril, a Funai visitou a aldeia Lago do Soares, com os primeiros apontamentos para a delimitação do território. Uma terceira visita deste órgão que realiza estudos para identificar, delimitar, demarcar e registrar as terras indígenas será realizada em setembro deste ano.
Se a área do Lago do Soares for demarcada como terra indígena pela Funai, o Ibama deve intervir (de acordo com a Constituição) e isso implicaria, explicam os advogados, em um processo de licenciamento ambiental mais minucioso sobre os impactos ambientais do empreendimento.
Enquanto isso, a empresa já atua em Urucurituba e movimenta seus maquinários pelos territórios, relatam moradores no local. Segundo consta no site da Potássio do Brasil, "o povo mura de Autazes, composto por 36 aldeias e representado pelo Conselho Indígena Mura (CIM), seguiu integralmente o Protocolo, com 94% das aldeias aprovando o projeto, superando o quórum mínimo de 60% exigido".
As controvérsias não param por aí. O MPF também investiga pagamentos de subornos de cerca de R$ 10 mil a lideranças indígenas para que apoiassem projeto.
Outra questão apontada pelo MPF é a denúncia de que terras estariam sendo vendidas sob coação. Em alguns casos, os contratos incluíam cláusulas de confidencialidade que impediam os vendedores nas comunidades de revelar qualquer informação sobre as transações.
Diante das críticas, a Potássio do Brasil e o governo federal defendem o projeto para explorar potássio em Autazes como estratégico para os interesses nacionais, inclusive para garantir a segurança alimentar no país e no exterior. Isso porque a guerra entre Rússia e Ucrânia afetou o fornecimento global do mineral, e o Brasil, que importa 96% do insumo – principalmente da Rússia, Canadá e Belarus –, busca reduzir sua dependência externa. A produção local diminuiria custos de transporte e tornaria os fertilizantes mais acessíveis.
Segundo a empresa relata em seu site, o projeto prevê uma produção anual de 2,4 milhões de toneladas de potássio, o que poderia suprir 20% do consumo nacional e fortalecer o agronegócio ao garantir um fornecimento estável. Atualmente, antes mesmo de completamente finalizado, o projeto gera lucros. Em novembro de 2024, obteve US$ 30 milhões com uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York.
Outro "fato invisível" é a complexa teia de interesses econômicos, políticos e as ameaças ambientais decorrentes da exploração do mineral.
O potássio promete alavancar o agronegócio brasileiro. Mas, para retirá-lo do solo, a empresa Potássio do Brasil, subsidiária da canadense Brazil Potash Corp, precisa perfurar áreas inteiras de florestas intocadas. Estima-se o acúmulo de pelo menos duas pilhas de rejeitos com quase 80 milhões metros cúbicos só de resíduos descartados, sem uso posterior. O volume foi comparado à altura de dois prédios de oito andares. Cientistas e ambientalistas alertam que, com a retirada desse mineral do subsolo, áreas inteiras podem afundar.
Nos arredores das futuras instalações desse projeto, vive a comunidade de indígenas do Lago do Soares e Urucurituba, que aguarda, desde 2003, a demarcação oficial de seu território pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai). Cerca de 200 famílias da etnia mura estão na aldeia Soares. Conhecidos pelas suas habilidades na navegação, os indígenas mura ocupam a região dos rios Madeira, Amazonas e Purus há pelo menos um século.
"Nos pontos onde as perfurações já aconteceram, boa parte da floresta foi derrubada – e para garantir o acesso às áreas exploradas será necessário desmatar ainda mais", alerta o tuxaua (liderança tradicional) Filipe Gabriel, de 27 anos.
Há dois anos, ele está em pé de guerra com a Potássio do Brasil, a empresa responsável pelo projeto. Passou a enfrentar pressões internas, vendo lideranças locais se alinharem aos interesses da mineradora, e já foi alvo de ameaças. O temor de Filipe é que a sua aldeia acabe soterrada antes mesmo de ser reconhecida oficialmente como território indígena.
Entre março e abril, a reportagem da DW percorreu Autazes e as áreas próximas ao município que fica a cerca de 260 km a sudeste da capital amazonense.
O percurso é feito de carro, balsa e o último trecho, até o Lago de Soares, com uma pequena embarcação local (voadeira). Quem navega pelos igarapés de Autazes, e nas áreas próximas dos locais onde a empresa pretende implementar o projeto, pode estranhar como búfalos, cada vez mais presentes na região, foram parar em áreas cercadas por rios de fortes correntezas e profundos lagos. Os animais dificilmente atravessariam os rios nadando.
Segundo o biólogo Lucas Ferrante, que atua no Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), há um processo de grilagem – tomada de posse de terras com falsos títulos de propriedade – com a introdução desses animais em certas áreas. A grilagem, de acordo com Ferrante, também fortalece o crime organizado, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).
O biólogo acrescenta que os pecuaristas estariam negociando essas terras diretamente com a Potássio do Brasil, uma vez que não conseguiram adquiri-las diretamente de outros indígenas. "Nós vemos uma organização criminosa atuando na grilagem de terras, que inclusive tem invadido a região de Autazes, invadindo terras indígenas, e disseminando búfalos nessas áreas griladas", disse à DW Brasil o também colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).
"Estamos falando de uma articulação do crime organizado diretamente com a Potássio do Brasil para ter acesso a áreas indígenas na Amazônia, o que agrava ainda mais. É uma empresa que, de fato, tem adquirido isso de maneira criminosa", acrescentou.
Questionado, o Ministério Público do Amazonas disse que investigações nestes casos são sigilosas. A reportagem também procurou a empresa Potássio do Brasil para questionar se reconhece as acusações, como tem sido a aquisição de terras para o projeto, e como controla todas as etapas desse processo. A empresa não respondeu ao pedido de esclarecimentos da reportagem até a conclusão da matéria.
Mas, segundo Ferrante, "o Brasil está abrindo uma das áreas mais conservadas, um dos últimos blocos de floresta intocada no meio da Amazônia, acelerando uma nova fronteira do desmatamento – e nós temos vários estudos publicados sobre isso – justamente para facilitar a exploração".
Ferrante destaca ainda que sua equipe pesquisa uma alternativa sustentável: o uso de microrganismos capazes de fixar potássio no solo, o que pode tornar a atual forma de extração de potássio obsoleta em apenas cerca de dez anos.
"Até esse potássio começar a ser explorado vão alguns anos e, até lá, nós já teremos essa biotecnologia em mãos, o que dispensa esse trabalho retrógrado que viola o direito dos povos indígenas e que ameaça a Amazônia através das ações da Potássio do Brasil nesse território", disse.
Atualmente, a empresa avança com o projeto de extração de potássio do solo para a produção de fertilizantes químicos.
A Brazil Potash Corp, ligada ao investidor Stan Bharti e ao banco Forbes & Manhattan, pretende explorar potássio em mais de um milhão de hectares entre Autazes e Óbidos, no Pará. Isso significa que a expansão desse projeto para além dos arredores de Manaus poderá ter impactos ambientais em uma grande área de floresta na Amazônia, abarcando vários estados, além do Amazonas.
Porém, desde 2015, o Ministério Público apura irregularidades no licenciamento ambiental do projeto, denúncias de ameaças de morte, cooptação de lideranças indígenas, assédio e a compra de terras sob coação nos arredores de Autazes.
Anunciado no município há mais de dez anos, o projeto da Brazil Potash Corp. para construir uma mina de potássio já tem as obras iniciadas. Os moradores nos arredores das futuras instalações relataram à DW Brasil que há o movimento de embarcações e que parte da área começou a ser desmatada.
Porém, isso acontece sem as licenças do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), órgão federal. Através do órgão estadual Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), a empresa obteve o licenciamento ambiental fracionado, relata o advogado que representa a comunidade. Foram licenças individuais separadas para diferentes partes do projeto, como a construção de estradas e depósitos de rejeitos, em vez de uma licença emitida pelo Ibama.
A DW Brasil entrou em contato com o Ibama e questionou por que o órgão não é o responsável pelo licenciamento ambiental, considerando que se trata de um projeto de interesse nacional. Em resposta, o Ibama afirmou que se baseia no artigo 7º da Lei Complementar nº 140/2011, segundo o qual sua atuação seria obrigatória apenas caso as instalações impactassem diretamente terras indígenas. Por esse motivo, como são áreas em demarcação, declarou que "não se verificam as características que justificariam a atuação do órgão".
Mas a abstenção do Ibama no licenciamento tem sido questionada pela Justiça. Em 2023, a justiça do Amazonas suspendeu o licenciamento ambiental, alegando que a competência era do Ibama, e não do órgão estadual Ipaam. No ano passado, porém, o Tribunal Regional Federal da 1° Região (TRF1), reverteu a decisão, fortalecendo o Ipaam no impasse que se arrasta há cerca de dez anos.
"A gente sabe que por costume – um costume triste –, os órgãos estaduais tendem a ser muito mais propensos a liberar licenças de qualquer jeito do que o federal, e é o que está acontecendo aqui. Há violações crassas, licenciamento feito de qualquer maneira, cheio de irregularidades pelo órgão estadual", disse à DW Brasil o procurador Fernando Merloto Soave.
Outro imbróglio no licenciamento ambiental é o fato de as comunidades mais impactadas pelas futuras instalações do projeto não terem sido ouvidas, segundo explicou à DW Brasil o MPF do Amazonas. A consulta às comunidades do entorno é uma diretriz da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
O advogado do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), João Vitor Lisboa Batista, que representa as comunidades Lago do Soares e Urucurituba, diz que "o maior desafio tem sido provar que a consulta realizada não foi válida porque as pessoas que deveriam ser ouvidas foram ignoradas".
Segundo o advogado, a estratégia da empresa Potássio do Brasil foi deslocar a área do empreendimento para os locais em processo de demarcação, como Lago do Soares e Urucurituba, já que a Constituição Federal proíbe mineração em terras indígenas. Segundo a liderança indígena Filipe Gabriel, com frequência diz-se na região que "se a terra não está demarcada é porque não tem indígenas, então se pode explorar, porque não tem donos".
Mas o MPF questiona esse argumento e explica que "não se pode minerar em cima desses territórios, estejam eles demarcados ou não", diz o procurador Fernando Merloto Soave. "O que faz o território existir, ou não, é seu uso tradicional. Delimitar ou demarcar é papel burocrático do governo", acrescenta.
No início de abril, a Funai visitou a aldeia Lago do Soares, com os primeiros apontamentos para a delimitação do território. Uma terceira visita deste órgão que realiza estudos para identificar, delimitar, demarcar e registrar as terras indígenas será realizada em setembro deste ano.
Se a área do Lago do Soares for demarcada como terra indígena pela Funai, o Ibama deve intervir (de acordo com a Constituição) e isso implicaria, explicam os advogados, em um processo de licenciamento ambiental mais minucioso sobre os impactos ambientais do empreendimento.
Enquanto isso, a empresa já atua em Urucurituba e movimenta seus maquinários pelos territórios, relatam moradores no local. Segundo consta no site da Potássio do Brasil, "o povo mura de Autazes, composto por 36 aldeias e representado pelo Conselho Indígena Mura (CIM), seguiu integralmente o Protocolo, com 94% das aldeias aprovando o projeto, superando o quórum mínimo de 60% exigido".
As controvérsias não param por aí. O MPF também investiga pagamentos de subornos de cerca de R$ 10 mil a lideranças indígenas para que apoiassem projeto.
Outra questão apontada pelo MPF é a denúncia de que terras estariam sendo vendidas sob coação. Em alguns casos, os contratos incluíam cláusulas de confidencialidade que impediam os vendedores nas comunidades de revelar qualquer informação sobre as transações.
Diante das críticas, a Potássio do Brasil e o governo federal defendem o projeto para explorar potássio em Autazes como estratégico para os interesses nacionais, inclusive para garantir a segurança alimentar no país e no exterior. Isso porque a guerra entre Rússia e Ucrânia afetou o fornecimento global do mineral, e o Brasil, que importa 96% do insumo – principalmente da Rússia, Canadá e Belarus –, busca reduzir sua dependência externa. A produção local diminuiria custos de transporte e tornaria os fertilizantes mais acessíveis.
Segundo a empresa relata em seu site, o projeto prevê uma produção anual de 2,4 milhões de toneladas de potássio, o que poderia suprir 20% do consumo nacional e fortalecer o agronegócio ao garantir um fornecimento estável. Atualmente, antes mesmo de completamente finalizado, o projeto gera lucros. Em novembro de 2024, obteve US$ 30 milhões com uma oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York.
Assinar:
Comentários (Atom)