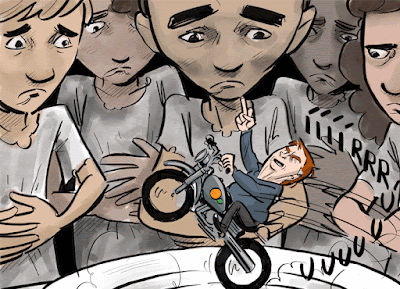sexta-feira, 30 de setembro de 2022
Ascensão e queda da extrema direita
No momento em que a extrema direita está prestes a deixar o governo no Brasil, a italiana acaba de vencer as eleições. No caso deles, é a primeira vez desde a 2.ª Guerra Mundial.
Enquanto os italianos têm de discutir como lidar com essa forca política, aqui, no Brasil, o debate ainda incipiente é como evitar que retorne com sua política de armar a população, destruir os recursos naturais, esvaziar a produção científica e cultural e isolar o País no mundo.
Nos primeiros passos para abordar o fenômeno, tenho acentuado que o dínamo do crescimento da extrema direita europeia não está presente no Brasil: o medo diante dos movimentos migratórios.
Umberto Eco, no seu pequeno livro Migração e intolerância, fala das dificuldades dos animais e mesmo das crianças de conviverem com o diferente. Tive a oportunidade de assistir, nas praias italianas, à chegada maciça dos albaneses, quando ruiu o império soviético, no final do século 20. Eco menciona essa presença albanesa para registrar que alguns desses imigrantes se perderam para o crime e a prostituição. Mas esse fenômeno pontual acabou sendo visto por alguns como típico dos imigrantes. Ele mesmo exemplifica essa distorção com o exemplo de alguém que tem a mala roubada num outro país e acha que ali todos são ladrões.
Suas conclusões são bem realistas: educar para a tolerância adultos que atiram por motivos étnicos e religiosos é tempo perdido; a intolerância deve ser combatida por meio de educação constante, antes que se torne uma casca comportamental espessa e dura demais.
Naturalmente, em países como o Brasil e a Itália, onde aconteceram as famosas Operações Mãos Limpas e Lava Jato, a decadência do processo democrático se torna um grande impulso para a ascensão da extrema direita. As pessoas parecem se cansar do jogo político, perdendo o que resta de esperança nele.
São, portanto, dois movimentos a investigar: a vulnerabilidade democrática de um lado e os mecanismos de intolerância latentes na psicologia humana.
Mesmo sem fluxos migratórios, a extrema direita brasileira conseguiu produzir seus inimigos. Ela tem um grande apego às armas e à masculinidade, como nos tempos italianos de Mussolini. Orientações sexuais diferentes são estigmatizadas: menino é azul, menina é rosa, e pronto. As comunidades tradicionais, cujos território e identidade religiosa e cultural são garantidos pela Constituição, são vistas com desconfiança. Bolsonaro já disse muitas vezes que os índios precisam se integrar à sociedade. E a desconfiança se estende aos artistas, pesquisadores e cientistas.
Umberto Eco fala, também, do integrismo, que difere do fundamentalismo por tentar fazer com que uma visão religiosa se transforme também numa visão política.
Não se trata apenas de contestar fatos como a forma da Terra, mas de algo maior: tentar fazer com que a Bíblia e a própria Constituição sejam textos complementares, sem contradições.
Nas últimas semanas de campanha, Bolsonaro enfatizou o que a imprensa chama de luta de costumes, mas na realidade é uma tentativa de aproximar política e religião, uma transmutação de candidato em missionário, que diz como as pessoas devem se comportar na sua vida íntima.
Nas circunstâncias europeias e também num contexto parlamentarista, a extrema direita italiana deverá apresentar uma visão mais sofisticada que a brasileira.
Um dos primeiros discursos de Giorgia Meloni fala de sua identidade, como italiana e mulher, e acusa um sistema que faz das pessoas dóceis consumidoras. Aparentemente, é uma visão antissistêmica diferente da de Bolsonaro, que se restringe ao universo político, sem menções à economia.
O simples fato de a extrema direita italiana e a francesa serem lideradas por mulheres já estabelece uma diferença básica, uma vez que Bolsonaro e seus adeptos veem a ascensão das mulheres como mais uma das tramas do que chamam de marxismo cultural. Esse dado é até sociológico: nas pesquisas de intenção de voto, Lula tem o dobro de votos de Bolsonaro entre as mulheres.
Enfim, extrema direita entrando, extrema direita saindo, nas circunstâncias de crise econômica e degradação democrática, é razoável contar com esta presença no horizonte e, sobretudo, estudar melhor seu discurso. A pior das situações é tocar as coisas como se não tivesse acontecido nada, como se esse momento da história do Brasil, que é também um momento mundial, não contivesse nenhuma lição, e tentar recomeçar a vida exatamente como antes.
Há quem ache que a extrema direita brasileira seja idêntica ao bolsonarismo. De fato, Bolsonaro é um líder popular, sobretudo depois da facada em Juiz de Fora, e tem uma linguagem muito acessível aos seguidores. Mas nada impede, como aconteceu na França, que haja renovação e também aprendam algo com a derrota.
É toda uma nova época que começa, sob a capa ilusória de uma continuidade. A tendência é sempre achar que as grandes batalhas são uma repetição das anteriores. Assim naufragam os generais.
O processo de redemocratização do Brasil ganha uma nova chance. Mas precisaremos de mudanças para aproveitá-la.
Enquanto os italianos têm de discutir como lidar com essa forca política, aqui, no Brasil, o debate ainda incipiente é como evitar que retorne com sua política de armar a população, destruir os recursos naturais, esvaziar a produção científica e cultural e isolar o País no mundo.
Nos primeiros passos para abordar o fenômeno, tenho acentuado que o dínamo do crescimento da extrema direita europeia não está presente no Brasil: o medo diante dos movimentos migratórios.
Umberto Eco, no seu pequeno livro Migração e intolerância, fala das dificuldades dos animais e mesmo das crianças de conviverem com o diferente. Tive a oportunidade de assistir, nas praias italianas, à chegada maciça dos albaneses, quando ruiu o império soviético, no final do século 20. Eco menciona essa presença albanesa para registrar que alguns desses imigrantes se perderam para o crime e a prostituição. Mas esse fenômeno pontual acabou sendo visto por alguns como típico dos imigrantes. Ele mesmo exemplifica essa distorção com o exemplo de alguém que tem a mala roubada num outro país e acha que ali todos são ladrões.
Suas conclusões são bem realistas: educar para a tolerância adultos que atiram por motivos étnicos e religiosos é tempo perdido; a intolerância deve ser combatida por meio de educação constante, antes que se torne uma casca comportamental espessa e dura demais.
Naturalmente, em países como o Brasil e a Itália, onde aconteceram as famosas Operações Mãos Limpas e Lava Jato, a decadência do processo democrático se torna um grande impulso para a ascensão da extrema direita. As pessoas parecem se cansar do jogo político, perdendo o que resta de esperança nele.
São, portanto, dois movimentos a investigar: a vulnerabilidade democrática de um lado e os mecanismos de intolerância latentes na psicologia humana.
Mesmo sem fluxos migratórios, a extrema direita brasileira conseguiu produzir seus inimigos. Ela tem um grande apego às armas e à masculinidade, como nos tempos italianos de Mussolini. Orientações sexuais diferentes são estigmatizadas: menino é azul, menina é rosa, e pronto. As comunidades tradicionais, cujos território e identidade religiosa e cultural são garantidos pela Constituição, são vistas com desconfiança. Bolsonaro já disse muitas vezes que os índios precisam se integrar à sociedade. E a desconfiança se estende aos artistas, pesquisadores e cientistas.
Umberto Eco fala, também, do integrismo, que difere do fundamentalismo por tentar fazer com que uma visão religiosa se transforme também numa visão política.
Não se trata apenas de contestar fatos como a forma da Terra, mas de algo maior: tentar fazer com que a Bíblia e a própria Constituição sejam textos complementares, sem contradições.
Nas últimas semanas de campanha, Bolsonaro enfatizou o que a imprensa chama de luta de costumes, mas na realidade é uma tentativa de aproximar política e religião, uma transmutação de candidato em missionário, que diz como as pessoas devem se comportar na sua vida íntima.
Nas circunstâncias europeias e também num contexto parlamentarista, a extrema direita italiana deverá apresentar uma visão mais sofisticada que a brasileira.
Um dos primeiros discursos de Giorgia Meloni fala de sua identidade, como italiana e mulher, e acusa um sistema que faz das pessoas dóceis consumidoras. Aparentemente, é uma visão antissistêmica diferente da de Bolsonaro, que se restringe ao universo político, sem menções à economia.
O simples fato de a extrema direita italiana e a francesa serem lideradas por mulheres já estabelece uma diferença básica, uma vez que Bolsonaro e seus adeptos veem a ascensão das mulheres como mais uma das tramas do que chamam de marxismo cultural. Esse dado é até sociológico: nas pesquisas de intenção de voto, Lula tem o dobro de votos de Bolsonaro entre as mulheres.
Enfim, extrema direita entrando, extrema direita saindo, nas circunstâncias de crise econômica e degradação democrática, é razoável contar com esta presença no horizonte e, sobretudo, estudar melhor seu discurso. A pior das situações é tocar as coisas como se não tivesse acontecido nada, como se esse momento da história do Brasil, que é também um momento mundial, não contivesse nenhuma lição, e tentar recomeçar a vida exatamente como antes.
Há quem ache que a extrema direita brasileira seja idêntica ao bolsonarismo. De fato, Bolsonaro é um líder popular, sobretudo depois da facada em Juiz de Fora, e tem uma linguagem muito acessível aos seguidores. Mas nada impede, como aconteceu na França, que haja renovação e também aprendam algo com a derrota.
É toda uma nova época que começa, sob a capa ilusória de uma continuidade. A tendência é sempre achar que as grandes batalhas são uma repetição das anteriores. Assim naufragam os generais.
O processo de redemocratização do Brasil ganha uma nova chance. Mas precisaremos de mudanças para aproveitá-la.
Redondilhas para uso de tiranos
Era uma vez um tirano,
com olhos frios de aço
e com ar de fazer dano
a quem lhe não desse abraço.
Governava gente bruta,
amiga de obedecer,
mas mais que baste astuta,
pra com isso enriquecer.
Como todos os tiranos,
que gostam de ver poder
a crescer, todos os anos,
deitou tudo a perder.
O tirano é incapaz
de matar a sua fome:
ter muito não satisfaz
o desejo que o consome.
Cria exércitos sem fim,
manda jovens para a morte;
a vida fica ruim
pràquele povo em desnorte.
Falta o pão e o café
e o calor que mata o frio,
e é tudo um banzé,
estando a vida por um fio.
O dinheiro desvanece
e os bancos ficam vazios:
ser banqueiro desmerece,
naqueles cofres baldios.
Mas o tirano não sabe
que pra rudo há um fim:
o universo não cabe
neste pífio folhetim.
Tirano acaba mal,
assim reza o passado:
lá pró fim já cheira mal
o patife estouvado.
Ou se mata ou o matam,
não há mesmo outra escolha:
quando os laços se desatam,,
a morte não é zarolha.
Visava ser imortal,
como são os mesmo grandes,
mas ficará tal e qual
os que são meros Fernandes!
Eugénio Lisboa
com olhos frios de aço
e com ar de fazer dano
a quem lhe não desse abraço.
Governava gente bruta,
amiga de obedecer,
mas mais que baste astuta,
pra com isso enriquecer.
Como todos os tiranos,
que gostam de ver poder
a crescer, todos os anos,
deitou tudo a perder.
O tirano é incapaz
de matar a sua fome:
ter muito não satisfaz
o desejo que o consome.
Cria exércitos sem fim,
manda jovens para a morte;
a vida fica ruim
pràquele povo em desnorte.
Falta o pão e o café
e o calor que mata o frio,
e é tudo um banzé,
estando a vida por um fio.
O dinheiro desvanece
e os bancos ficam vazios:
ser banqueiro desmerece,
naqueles cofres baldios.
Mas o tirano não sabe
que pra rudo há um fim:
o universo não cabe
neste pífio folhetim.
Tirano acaba mal,
assim reza o passado:
lá pró fim já cheira mal
o patife estouvado.
Ou se mata ou o matam,
não há mesmo outra escolha:
quando os laços se desatam,,
a morte não é zarolha.
Visava ser imortal,
como são os mesmo grandes,
mas ficará tal e qual
os que são meros Fernandes!
Eugénio Lisboa
As sequelas do bolsonarismo
Precisaremos de tempo para conhecer as nuances do rastro da destruição causada por Jair Bolsonaro. Não me refiro aos indicadores econômicos e sociais que já sinalizam retrocesso, estagnação, incompetência. Esses dados são desde já acessíveis e revelam uma parte da devastação civilizatória no país. Falo sobre as profundas sequelas emocionais deixadas pelo bolsonarismo na sociedade.
O atual governo alimentou nos últimos quatro anos um clima de arruaça constante. Não houve um dia de tranquilidade desde que Bolsonaro assumiu o poder. Nos tornamos um povo triste, ansioso e cansado, refém de uma gestão caótica e antidemocrática. Num futuro próximo, imagino que os estudiosos diagnosticarão o brasileiro com estresse pós-traumático, o tipo de choque causado em quem enfrenta guerras, assaltos, violência sexual.
Converse com qualquer pessoa que não faça arminha com a mão. É um surto coletivo de taquicardia, dificuldade para dormir, pesadelos, ansiedade, ataques de raiva, medo, abuso de álcool, uso de drogas legais ou não. Se tem algo que faz a economia bombar é a venda de Rivotril. Nunca mais seremos os mesmos. Envelhecemos uma década nos últimos quatro anos. O bolsonarismo arruinou anos valiosos, talvez os últimos na vida de muita gente.
Impressiona alguém considerar alguma coisa dentro da "normalidade".
Vidas negligenciadas na pandemia, relações familiares destruídas, democracia cambaleante, selvageria nas redes sociais, violência e morte no cotidiano. Essa conta começa a chegar agora aos responsáveis.
Ao que tudo indica, ele não será reeleito. Se não o próximo domingo, o dia 30 deve marcar sua derrocada. Mas é difícil saber quando, de fato, viraremos a página dessa história. O que há de mais nefasto no bolsonarismo continuará vivo, ao menos por um tempo, e as marcas de sua incivilidade continuarão tendo algum efeito na saúde mental coletiva.
O atual governo alimentou nos últimos quatro anos um clima de arruaça constante. Não houve um dia de tranquilidade desde que Bolsonaro assumiu o poder. Nos tornamos um povo triste, ansioso e cansado, refém de uma gestão caótica e antidemocrática. Num futuro próximo, imagino que os estudiosos diagnosticarão o brasileiro com estresse pós-traumático, o tipo de choque causado em quem enfrenta guerras, assaltos, violência sexual.
Converse com qualquer pessoa que não faça arminha com a mão. É um surto coletivo de taquicardia, dificuldade para dormir, pesadelos, ansiedade, ataques de raiva, medo, abuso de álcool, uso de drogas legais ou não. Se tem algo que faz a economia bombar é a venda de Rivotril. Nunca mais seremos os mesmos. Envelhecemos uma década nos últimos quatro anos. O bolsonarismo arruinou anos valiosos, talvez os últimos na vida de muita gente.
Impressiona alguém considerar alguma coisa dentro da "normalidade".
Vidas negligenciadas na pandemia, relações familiares destruídas, democracia cambaleante, selvageria nas redes sociais, violência e morte no cotidiano. Essa conta começa a chegar agora aos responsáveis.
Ao que tudo indica, ele não será reeleito. Se não o próximo domingo, o dia 30 deve marcar sua derrocada. Mas é difícil saber quando, de fato, viraremos a página dessa história. O que há de mais nefasto no bolsonarismo continuará vivo, ao menos por um tempo, e as marcas de sua incivilidade continuarão tendo algum efeito na saúde mental coletiva.
Autoritarismo do DNA
Minha reflexão sobre o autoritarismo parte do pressuposto que o nosso presente está repleto de passado. Àqueles que se mostram perplexos com a eleição de um político reacionário como Bolsonaro, costumo lembrar que o Brasil e os brasileiros estão encharcados de autoritarismo. Em outras palavras, Bolsonaro é um sintoma e não uma causa.
Sua eleição e suas políticas dão continuidade, por exemplo, à nossa tradição patriarcal. Os homens sempre governaram neste país, e ainda governam, com menosprezo pelas mulheres. Eles olham com muita desconfiança, quando não ódio, todas as iniciativas femininas. Somos também um país racista. Somos um país que despreza a questão do meio ambiente. Em todos esses sentidos, o governo Bolsonaro foi uma continuação, exacerbada talvez, do autoritarismo brasileiro que vem de muito antes.
Lilia Schwarcz, professora titular do departamento de antropologia da Universidade de São Paulo (USP) e global scholar na Universidade de Princeton
Acabou o estoque de balas que Bolsonaro imaginava ser de prata
Bolsonaro não tem mais bala de prata para disparar contra Lula. A bala de prata já foi a primeira-dama Michelle, que quando mais jovem e solteira queria ser atriz, fantasiou-se de Toddynho e alimentava o sonho de ser feliz casando-se com um homem rico.
Michelle foi usada por Bolsonaro como evangélica exemplar para diminuir sua rejeição entre as mulheres. Missão dada, missão cumprida, mas nem por isso Bolsonaro avançou entre elas como desejava. Então, apelou para outra suposta bala de prata.
Foi a vez dos ataques pesados contra Lula para aumentar sua rejeição. De fato, a rejeição aumentou, mas bem menos do que ele esperava. O problema é que a rejeição de Bolsonaro não caiu e oscilou um ponto para cima. O que mais ele poderia fazer?
Ao ver Lula ser recepcionado por donos de algumas das maiores fortunas do país, Bolsonaro apelou para mais uma bala que julgava ser também mortal. Escalou o ministro Paulo Guedes para falar da recuperação do Brasil que crescerá mais do que a China.
Guedes se dispôs a sair dizendo essa e outras besteiras em emissoras de TV amigas e em podcasts de bolsonaristas. Como se empresários e banqueiros não soubessem que não é o Brasil que crescerá mais do que a China, mas a China menos do que crescia.
Acabou o estoque das balas de prata de Bolsonaro. Com os tanques fumacentos da Marinha, ele não conta mais para dar o golpe que acalentava. Falta um tiquinho só para que Lula se eleja domingo. E a Bolsonaro só resta torcer para que o tiquinho não venha.
Se não vier, e como disse Simone Tebet, por acabar acreditando nas próprias mentiras, Bolsonaro estará pronto para espalhar mais uma: a de que o segundo turno é uma nova eleição. Como se o placar zerasse para dar início a uma nova partida. Não zera.
Michelle foi usada por Bolsonaro como evangélica exemplar para diminuir sua rejeição entre as mulheres. Missão dada, missão cumprida, mas nem por isso Bolsonaro avançou entre elas como desejava. Então, apelou para outra suposta bala de prata.
Foi a vez dos ataques pesados contra Lula para aumentar sua rejeição. De fato, a rejeição aumentou, mas bem menos do que ele esperava. O problema é que a rejeição de Bolsonaro não caiu e oscilou um ponto para cima. O que mais ele poderia fazer?
Ao ver Lula ser recepcionado por donos de algumas das maiores fortunas do país, Bolsonaro apelou para mais uma bala que julgava ser também mortal. Escalou o ministro Paulo Guedes para falar da recuperação do Brasil que crescerá mais do que a China.
Guedes se dispôs a sair dizendo essa e outras besteiras em emissoras de TV amigas e em podcasts de bolsonaristas. Como se empresários e banqueiros não soubessem que não é o Brasil que crescerá mais do que a China, mas a China menos do que crescia.
Acabou o estoque das balas de prata de Bolsonaro. Com os tanques fumacentos da Marinha, ele não conta mais para dar o golpe que acalentava. Falta um tiquinho só para que Lula se eleja domingo. E a Bolsonaro só resta torcer para que o tiquinho não venha.
Se não vier, e como disse Simone Tebet, por acabar acreditando nas próprias mentiras, Bolsonaro estará pronto para espalhar mais uma: a de que o segundo turno é uma nova eleição. Como se o placar zerasse para dar início a uma nova partida. Não zera.
quinta-feira, 29 de setembro de 2022
Sem Bolsonaro, outro Brasil é possível
Incerteza econômica, emergência climática e novas tensões geopolíticas dão o tom da conjuntura mundial, bem diferente daquela de apenas duas décadas atrás. Mesmo esse quadro sombrio, porém, não deve estiolar as oportunidades para uma nação como o Brasil, grande produtor de alimentos, muito rico em reservas de água —um bem que vai se tornando escasso— e abrigando em seu território um patrimônio incalculável de cobertura florestal e biodiversidade.
Esses podem ser os vistos no passaporte do país na sua jornada em busca de posição vantajosa no sistema internacional em transição, ampliando as condições objetivas para o combate a seus enormes problemas domésticos. Estes são tudo menos triviais: crescimento rastejante; governos enredados em limitações fiscais crônicas; intimidade entre máquina pública e interesses privados; degradação ambiental; e, sobretudo, extensa e abjeta pobreza na qual se ancoram violência e desigualdades superpostas de renda, raça, gênero, região, acesso a educação, saúde e tudo o mais que faz parte da proteção social devida aos cidadãos.
Os quase quatro anos do desgoverno Bolsonaro aprofundaram praticamente todas essas mazelas. Mas mostraram também a resiliência das instituições democráticas —Suprema Corte, Tribunal Superior Eleitoral, Federação e Congresso multipartidário— bem como da imprensa e da sociedade organizada em face dos arreganhos da extrema direita.
Atestaram ainda que elites cívicas —hoje mais plurais, mais nacionais e menos brancas— aprenderam com a experiência de resistir ao desmonte de políticas e capacidades estatais fomentado pelo Palácio do Planalto.
Se a campanha presidencial se desenrola ao ritmo de promessas vagas, não faltam propostas sérias para lidar com os mais renitentes problemas brasileiros: da sustentabilidade ambiental ao resgate da educação; do fortalecimento do SUS ao impulso à ciência e tecnologia; da questão fiscal às prioridades de investimento; da cultura à luta contra a violência sem replicá-la.
Esse aprendizado se provará nas urnas.
De hoje a três dias, uma ampla coalizão democrática, unindo lideranças usualmente rivais e eleitores de diferentes simpatias políticas, do centro-direita às esquerdas, desafiará o atraso, a truculência, a boçalidade e o autoritarismo que Bolsonaro encarna —e que tentará impor à força se as urnas lhe mostrarem o merecido cartão vermelho.
Sua derrota —se calhar, já no primeiro turno— abrirá uma fresta através da qual, não sem dificuldades, nem da noite para o dia, talvez se possa construir, tijolo a tijolo, um país mais decente.
Esses podem ser os vistos no passaporte do país na sua jornada em busca de posição vantajosa no sistema internacional em transição, ampliando as condições objetivas para o combate a seus enormes problemas domésticos. Estes são tudo menos triviais: crescimento rastejante; governos enredados em limitações fiscais crônicas; intimidade entre máquina pública e interesses privados; degradação ambiental; e, sobretudo, extensa e abjeta pobreza na qual se ancoram violência e desigualdades superpostas de renda, raça, gênero, região, acesso a educação, saúde e tudo o mais que faz parte da proteção social devida aos cidadãos.
Os quase quatro anos do desgoverno Bolsonaro aprofundaram praticamente todas essas mazelas. Mas mostraram também a resiliência das instituições democráticas —Suprema Corte, Tribunal Superior Eleitoral, Federação e Congresso multipartidário— bem como da imprensa e da sociedade organizada em face dos arreganhos da extrema direita.
Atestaram ainda que elites cívicas —hoje mais plurais, mais nacionais e menos brancas— aprenderam com a experiência de resistir ao desmonte de políticas e capacidades estatais fomentado pelo Palácio do Planalto.
Se a campanha presidencial se desenrola ao ritmo de promessas vagas, não faltam propostas sérias para lidar com os mais renitentes problemas brasileiros: da sustentabilidade ambiental ao resgate da educação; do fortalecimento do SUS ao impulso à ciência e tecnologia; da questão fiscal às prioridades de investimento; da cultura à luta contra a violência sem replicá-la.
Esse aprendizado se provará nas urnas.
De hoje a três dias, uma ampla coalizão democrática, unindo lideranças usualmente rivais e eleitores de diferentes simpatias políticas, do centro-direita às esquerdas, desafiará o atraso, a truculência, a boçalidade e o autoritarismo que Bolsonaro encarna —e que tentará impor à força se as urnas lhe mostrarem o merecido cartão vermelho.
Sua derrota —se calhar, já no primeiro turno— abrirá uma fresta através da qual, não sem dificuldades, nem da noite para o dia, talvez se possa construir, tijolo a tijolo, um país mais decente.
Bolsonaro: vá para o inferno e deixe o Brasil em paz
Para sobreviver politicamente a uma eventual derrota e sonhar com a volta em 2026, Bolsonaro não poderá reconhecer o resultado que lhe seja adverso. Dirá que a eleição foi fraudada.
É o que ensina a cartilha dos populistas de extrema direita mundo afora. Foi o que fez Donald Trump nos Estados Unidos. Mas, como lá, qualquer tentativa de golpe aqui será malsucedida.
Há dias, Bolsonaro repetiu que só respeitará o resultado das eleições se elas forem limpas. Quem dirá que foram? O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os observadores internacionais.
Bolsonaro irá se contentar com isso? É claro que não. Eleições limpas, para ele, um filhote da ditadura militar que suprimiu a democracia por 21 anos, são só aquelas que o elegem.
Com urnas eletrônicas e tudo mais, Bolsonaro se elegeu deputado seis vezes e nunca contestou os resultados, ele e os filhos. Em 2002, votou em Lula e quis emplacar o nome do novo ministro da Defesa.
Falou em eleições roubadas porque não se elegeu em 2018 no primeiro turno. Como se elegeu no segundo, deixou de falar. Voltou a falar depois da pandemia porque anteviu a derrota.
Lembra-se de que ele disse que era preciso salvar a economia senão o seu governo não se salvaria? Que sabotou todas as medidas de proteção da vida adotadas por governadores e prefeitos?
Por pressão dele, o Congresso foi forçado a votar um projeto que restabelecia o voto impresso. Votou e derrotou-o, mas Bolsonaro nunca se conformou. Continua inconformado.
Valdemar Costa Neto, ex-mensaleiro do PT, é presidente do PL. Alugou a legenda a Bolsonaro para aumentar a bancada de deputados federais do partido. Esteve, ontem, no TSE.
Saiu de lá dizendo que não “há mais sala secreta”; jamais houve, é mais uma mentira de Bolsonaro. Mal saiu, foi divulgado um documento do PL que duvida da segurança das urnas eletrônicas.
O documento está em papel timbrado do PL, mas ninguém o assina. Sem apresentar provas, em linguagem eminentemente técnica, sugere que possa haver fraude na apuração dos votos.
Não é um documento para ser levado a sério por quem é sério, e esse não é o caso de Valdemar. É só para alimentar a rede de fake news a serviço da campanha de Bolsonaro. É para isso que serve.
Por que Bolsonaro não recomenda aos seus eleitores que se abstenham de votar? E por que não dá o exemplo? Se o sistema eleitoral não merece confiança, o mais lógico é não votar.
Votando, compactua com a farsa que teme. Acontece que a farsa só estará consumada se Bolsonaro perder, se vencer, não. Sabe de uma coisa? Bolsonaro, vá para o inferno e deixe o país em paz.
É o que ensina a cartilha dos populistas de extrema direita mundo afora. Foi o que fez Donald Trump nos Estados Unidos. Mas, como lá, qualquer tentativa de golpe aqui será malsucedida.
Há dias, Bolsonaro repetiu que só respeitará o resultado das eleições se elas forem limpas. Quem dirá que foram? O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os observadores internacionais.
Bolsonaro irá se contentar com isso? É claro que não. Eleições limpas, para ele, um filhote da ditadura militar que suprimiu a democracia por 21 anos, são só aquelas que o elegem.
Com urnas eletrônicas e tudo mais, Bolsonaro se elegeu deputado seis vezes e nunca contestou os resultados, ele e os filhos. Em 2002, votou em Lula e quis emplacar o nome do novo ministro da Defesa.
Falou em eleições roubadas porque não se elegeu em 2018 no primeiro turno. Como se elegeu no segundo, deixou de falar. Voltou a falar depois da pandemia porque anteviu a derrota.
Lembra-se de que ele disse que era preciso salvar a economia senão o seu governo não se salvaria? Que sabotou todas as medidas de proteção da vida adotadas por governadores e prefeitos?
Por pressão dele, o Congresso foi forçado a votar um projeto que restabelecia o voto impresso. Votou e derrotou-o, mas Bolsonaro nunca se conformou. Continua inconformado.
Valdemar Costa Neto, ex-mensaleiro do PT, é presidente do PL. Alugou a legenda a Bolsonaro para aumentar a bancada de deputados federais do partido. Esteve, ontem, no TSE.
Saiu de lá dizendo que não “há mais sala secreta”; jamais houve, é mais uma mentira de Bolsonaro. Mal saiu, foi divulgado um documento do PL que duvida da segurança das urnas eletrônicas.
O documento está em papel timbrado do PL, mas ninguém o assina. Sem apresentar provas, em linguagem eminentemente técnica, sugere que possa haver fraude na apuração dos votos.
Não é um documento para ser levado a sério por quem é sério, e esse não é o caso de Valdemar. É só para alimentar a rede de fake news a serviço da campanha de Bolsonaro. É para isso que serve.
Por que Bolsonaro não recomenda aos seus eleitores que se abstenham de votar? E por que não dá o exemplo? Se o sistema eleitoral não merece confiança, o mais lógico é não votar.
Votando, compactua com a farsa que teme. Acontece que a farsa só estará consumada se Bolsonaro perder, se vencer, não. Sabe de uma coisa? Bolsonaro, vá para o inferno e deixe o país em paz.
quarta-feira, 28 de setembro de 2022
Transamazônica: 50 anos entre ufanismo e desastre ambiental
Havia um intencional clima de otimismo naquele 27 de setembro de 1972, quando foi inaugurada a BR-230, mais conhecida como rodovia Transamazônica. O Brasil vivia o auge da ditadura militar e esforços de propaganda procuravam dar a ideia de grandeza.
Conforme registrou o jornal O Estado de S. Paulo, o então ministro dos Transportes, Mário Andreazza (1918-1988) foi ufanista. Disse ele que a Transamazônica "simboliza o poder criador do homem brasileiro e sobretudo a atitude de uma nação jovem e corajosa, decidida a enfrentar com firmeza e determinação todos os problemas que lhe dificultam o acesso ao pleno desenvolvimento econômico e social".
Na visão predominante naqueles dias, desenvolver significava avançar sobre a floresta. A mentalidade era de uma verdadeira batalha entre civilização e natureza. A cerimônia de inauguração do primeiro trecho, com 1.253 quilômetros, ocorreu em um ponto a cinco quilômetros de Altamira, com a presença do então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici.
A historiadora Janaína Martins Cordeiro, professora na Universidade Federal Fluminense (UFF), aponta que a Transamazônica estava dentro da ideia, presente no governo Médici, de "construção de um Brasil potência como projeto da política econômica da ditadura".
Em seu livro Reinventando o Otimismo, o historiador Carlos Fico, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), situa a rodovia como parte do sonho histórico brasileiro de integração plena do território, inclusive a região amazônica.
"Houve um investimento sem igual em propaganda e uma conjuntura que favoreceu a emergência de um nacionalismo desenvolvimentista extremamente ufanista e otimista", contextualiza Cordeiro. "A Transamazônica passou a ser o símbolo de um país que se realizava, o futuro que tinha chegado. Era o homem se sobrepondo à floresta, domando as forças da natureza."
Para embasar a expansão sobre a floresta, havia teorias conspiratórias. Como lembra o historiador César Martins de Souza, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e editor da Nova Revista Amazônica, argumentava-se que havia "interesses estrangeiros em tomar a Amazônia" e, por isso, era necessário ocupá-la e explorá-la. "Essas ideias, que eu chamo de ideologias, embasavam a construção de projetos agropecuários e minerais [na região]", pontua o historiador.
Além de simbolizar o que se entendia por desenvolvimento, a Transamazônica deixou clara a prioridade nacional pelo transporte rodoviário, em detrimento de outras possibilidades.
Além disso, como ressalta o antropólogo Fred Lucio, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), representava um acesso a áreas remotas, em nome de uma suposta segurança nacional. "Havia uma preocupação com as fronteiras do Brasil. A defesa da Amazônia fazia parte do fantasma da segurança nacional", diz ele.
Segundo a imprensa da época, a rodovia já trazia ocupação humana para a floresta, com 250 "colonos" chegando por dia à região de Altamira e se fixando nas redondezas da Transamazônica.
Slogans governamentais incentivavam isso, dizendo que a Amazônia era "uma terra sem homens para homens sem terras", por exemplo.
"Chega de lendas, vamos faturar", apelava anúncio publicado pelo governo, na imprensa, para divulgar as ações da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). "A Transamazônica está aí: a pista da mina de ouro."
Anúncios de empresas ligadas à construção, publicados na época, reforçavam a ideia. "Para unir o Brasil, nós rasgamos o inferno verde", escreveu a construtora Andrade Gutierrez. "A Amazônia já era", exaltou a companhia Netumar.
"A propaganda mostrava árvores sendo derrubadas, a estrada aberta onde antes havia, segundo o discurso, uma natureza hostil, selvagem. Predominava a ideia da civilização dominando o selvagem, o indomável", aponta Cordeiro.
A tônica era a ideia de "conquista da Amazônia", explica o historiador Souza. "Como se a floresta fosse um inimigo a ser vencido", acrescenta.
Do plano inicial de 8 mil quilômetros, a Transamazônica acabou ficando com pouco mais da metade. Cinquenta anos depois, a história demonstra que o projeto foi um desastre ambiental.
"Havia estimativa de escavação de aproximadamente 35 milhões de metros cúbicos de terra e foram erguidos cerca de 4 mil metros de pontes de madeira. Nessa mesma proporção, o desmatamento já alcançava cerca de 100 milhões de metros quadrados. Árvores com mais de 50 metros de altura e centenas de anos de vida iam ao chão em poucos minutos e, com elas, toda uma biota era arrancada e destruída", comenta Souza.
"As obras transformaram e transtornaram a região, pois a Transamazônica não era apenas uma estrada que objetivava atravessar a Amazônia no sentido Leste-Oeste e integrar a região ao restante do país e o Atlântico ao Pacífico, permitindo ao Brasil acessar com maior facilidade e menores custos mercados asiáticos, mas uma obra que integrava diversos projetos de ocupação e exploração da Amazônia", afirma.
"Dessa forma, ela gerou um novo desenho da cartografia da região, pautada no desenvolvimentismo, com fortes impactos socioambientais sobre as populações da Amazônia, como povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e populações urbanas, bem como sobre a fauna e flora."
Quem ousava fazer uma crítica ambiental costumava ser rebatido com teorias conspiratórias. Em entrevista publicada na revista Manchete, na época, o ministro Andreazza argumentou que por trás da defesa ecológica havia interesses estrangeiros em dominar a floresta.
"Os debates ambientais ainda não se davam de modo sistemático como atualmente, devido ao momento histórico", pontua Souza.
Professor na Universidade de Bristol, no Reino Unido, o biólogo Filipe França explica que a construção de rodovias em regiões florestais acarreta dois danos ambientais e, nesse sentido, analisar a Transamazônica é mergulhar em "um clássico exemplo".
O primeiro dano é aquele que parece mais óbvio: o desmatamento, a remoção florestal para dar espaço à via. "Além da perda de árvores, ocorre a fragmentação da floresta, com a criação de ilhas de vegetação [divididas por áreas desmatadas]", explica. "A estrada divide os ecossistemas. Isso leva a mortalidade de espécies e redução da diversidade genética."
Depois do primeiro momento, contudo, esse processo continua, porque, com a facilidade de acesso, grupos passam a explorar cada vez mais o entorno, estradas secundárias — ainda que extraoficiais — são criadas e isso aumenta a escala de degradação. "A floresta ainda fica de pé, mas perde biodiversidade", argumenta.
O antropólogo Fred Lucio resume as consequências da construção da Transamazônica da seguinte maneira: "destruição e extermínio de populações indígenas", a transformação do entorno em "um lugar deplorável" e um "desenvolvimento fajuto para a região".
Conforme registrou o jornal O Estado de S. Paulo, o então ministro dos Transportes, Mário Andreazza (1918-1988) foi ufanista. Disse ele que a Transamazônica "simboliza o poder criador do homem brasileiro e sobretudo a atitude de uma nação jovem e corajosa, decidida a enfrentar com firmeza e determinação todos os problemas que lhe dificultam o acesso ao pleno desenvolvimento econômico e social".
Na visão predominante naqueles dias, desenvolver significava avançar sobre a floresta. A mentalidade era de uma verdadeira batalha entre civilização e natureza. A cerimônia de inauguração do primeiro trecho, com 1.253 quilômetros, ocorreu em um ponto a cinco quilômetros de Altamira, com a presença do então presidente da República, Emílio Garrastazu Médici.
A historiadora Janaína Martins Cordeiro, professora na Universidade Federal Fluminense (UFF), aponta que a Transamazônica estava dentro da ideia, presente no governo Médici, de "construção de um Brasil potência como projeto da política econômica da ditadura".
Em seu livro Reinventando o Otimismo, o historiador Carlos Fico, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), situa a rodovia como parte do sonho histórico brasileiro de integração plena do território, inclusive a região amazônica.
"Houve um investimento sem igual em propaganda e uma conjuntura que favoreceu a emergência de um nacionalismo desenvolvimentista extremamente ufanista e otimista", contextualiza Cordeiro. "A Transamazônica passou a ser o símbolo de um país que se realizava, o futuro que tinha chegado. Era o homem se sobrepondo à floresta, domando as forças da natureza."
Para embasar a expansão sobre a floresta, havia teorias conspiratórias. Como lembra o historiador César Martins de Souza, professor da Universidade Federal do Pará (UFPA) e editor da Nova Revista Amazônica, argumentava-se que havia "interesses estrangeiros em tomar a Amazônia" e, por isso, era necessário ocupá-la e explorá-la. "Essas ideias, que eu chamo de ideologias, embasavam a construção de projetos agropecuários e minerais [na região]", pontua o historiador.
Além de simbolizar o que se entendia por desenvolvimento, a Transamazônica deixou clara a prioridade nacional pelo transporte rodoviário, em detrimento de outras possibilidades.
Além disso, como ressalta o antropólogo Fred Lucio, professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), representava um acesso a áreas remotas, em nome de uma suposta segurança nacional. "Havia uma preocupação com as fronteiras do Brasil. A defesa da Amazônia fazia parte do fantasma da segurança nacional", diz ele.
Segundo a imprensa da época, a rodovia já trazia ocupação humana para a floresta, com 250 "colonos" chegando por dia à região de Altamira e se fixando nas redondezas da Transamazônica.
Slogans governamentais incentivavam isso, dizendo que a Amazônia era "uma terra sem homens para homens sem terras", por exemplo.
"Chega de lendas, vamos faturar", apelava anúncio publicado pelo governo, na imprensa, para divulgar as ações da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). "A Transamazônica está aí: a pista da mina de ouro."
Anúncios de empresas ligadas à construção, publicados na época, reforçavam a ideia. "Para unir o Brasil, nós rasgamos o inferno verde", escreveu a construtora Andrade Gutierrez. "A Amazônia já era", exaltou a companhia Netumar.
"A propaganda mostrava árvores sendo derrubadas, a estrada aberta onde antes havia, segundo o discurso, uma natureza hostil, selvagem. Predominava a ideia da civilização dominando o selvagem, o indomável", aponta Cordeiro.
A tônica era a ideia de "conquista da Amazônia", explica o historiador Souza. "Como se a floresta fosse um inimigo a ser vencido", acrescenta.
Do plano inicial de 8 mil quilômetros, a Transamazônica acabou ficando com pouco mais da metade. Cinquenta anos depois, a história demonstra que o projeto foi um desastre ambiental.
"Havia estimativa de escavação de aproximadamente 35 milhões de metros cúbicos de terra e foram erguidos cerca de 4 mil metros de pontes de madeira. Nessa mesma proporção, o desmatamento já alcançava cerca de 100 milhões de metros quadrados. Árvores com mais de 50 metros de altura e centenas de anos de vida iam ao chão em poucos minutos e, com elas, toda uma biota era arrancada e destruída", comenta Souza.
"As obras transformaram e transtornaram a região, pois a Transamazônica não era apenas uma estrada que objetivava atravessar a Amazônia no sentido Leste-Oeste e integrar a região ao restante do país e o Atlântico ao Pacífico, permitindo ao Brasil acessar com maior facilidade e menores custos mercados asiáticos, mas uma obra que integrava diversos projetos de ocupação e exploração da Amazônia", afirma.
"Dessa forma, ela gerou um novo desenho da cartografia da região, pautada no desenvolvimentismo, com fortes impactos socioambientais sobre as populações da Amazônia, como povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e populações urbanas, bem como sobre a fauna e flora."
Quem ousava fazer uma crítica ambiental costumava ser rebatido com teorias conspiratórias. Em entrevista publicada na revista Manchete, na época, o ministro Andreazza argumentou que por trás da defesa ecológica havia interesses estrangeiros em dominar a floresta.
"Os debates ambientais ainda não se davam de modo sistemático como atualmente, devido ao momento histórico", pontua Souza.
Professor na Universidade de Bristol, no Reino Unido, o biólogo Filipe França explica que a construção de rodovias em regiões florestais acarreta dois danos ambientais e, nesse sentido, analisar a Transamazônica é mergulhar em "um clássico exemplo".
O primeiro dano é aquele que parece mais óbvio: o desmatamento, a remoção florestal para dar espaço à via. "Além da perda de árvores, ocorre a fragmentação da floresta, com a criação de ilhas de vegetação [divididas por áreas desmatadas]", explica. "A estrada divide os ecossistemas. Isso leva a mortalidade de espécies e redução da diversidade genética."
Depois do primeiro momento, contudo, esse processo continua, porque, com a facilidade de acesso, grupos passam a explorar cada vez mais o entorno, estradas secundárias — ainda que extraoficiais — são criadas e isso aumenta a escala de degradação. "A floresta ainda fica de pé, mas perde biodiversidade", argumenta.
O antropólogo Fred Lucio resume as consequências da construção da Transamazônica da seguinte maneira: "destruição e extermínio de populações indígenas", a transformação do entorno em "um lugar deplorável" e um "desenvolvimento fajuto para a região".
Vícios do Poder
Os detentores do Poder , sempre e em toda a parte , são completamente indiferentes ao bem-estar ou mal-estar dos que não têm poder, exceto na medida em que os seus atos são condicionados pelo medo. Esta afirmação talvez possa parecer demasiado dura. Pode-se opor-me a afirmação de que as pessoas decentes não maltratam outras pessoas para além de certos limites. Pode fazer-se tal afirmação, mas a história logo mostrará que tal afirmação não é verdadeira. As pessoas decentes de que se fala conseguem sempre ignorar , ou pretender ignorar , os tormentos que são infligidos a outrem para os conservar confortáveis e felizes.
Lord Melbourne , que foi o primeiro-ministro do reinado da rainha Vitória, era precisamente dessas pessoas decentes. Na sua vida privada era um homem encantador : cultivado, lido, humano, liberal. Era também riquíssimo; o seu dinheiro vinha-lhe todo das minas de carvão onde crianças trabalhavam turnos longuíssimos na escuridão mais completa a troco de tuta-e-meia. Era a agonia lenta dessas crianças que lhe permitia ser tão polido e elegante. E nem sequer se pode dizer que o seu caso fosse excepcional. Factos análogos afectam até as origens do próprio comunismo: Marx viveu durante longos anos da caridade de Engels, e Engels vivia da exploração do proletariado de Manchester durante a década esfomeada de 1840. Os jovens finíssimos dos diálogos de Platão, que os classicistas ingleses sempre têm apresentado como modelos a serem seguidos pela juventude aristocrática inglesa, viviam do trabalho de escravos e da exploração do Império Ateniense, de curta duração. As injustiças que nos trazem benefícios diretos e pessoais podem sempre ser justificadas com um sofisma qualquer.
As pessoas ficam horrorizadas , e com imensa razão, pelas atrocidades cometidas pelos Mau-Mau, mas quantos refletirão que tais desmandos, na sua totalidade, não chegam a ser uma milésima parte das atrocidades que os Brancos infligiram , durante séculos, sobre os Negros, através da instituição da escravatura e do rendoso comércio de escravos. A cidade de Bristol conta entre os seus cidadãos muitos homens ricos da mais alta e insuspeita integridade moral - mas a prosperidade dessa cidade deve-se, originalmente e principalmente , ao comércio de escravos.
Quando Stalin estava a introduzir a coletivização na Rússia, teve de enfrentar a oposição obstinada dos camponeses. Desfez essa oposição com uma implacabilidade que teria sido impossível num país democrático. Das suas medidas resultou a morte pela fome de cerca de 5 milhões de camponeses, enquanto vários milhões mais eram exilados para campos de concentração do círculo Ártico. E tudo isto foi feito em nome da necessidade de introduzir uma "agricultura cientifica".
(...) O grande valor da democracia está precisamente em evitar a prática de atrocidades nessa larga escala. É este o seu primeiro e maior mérito. (...)
Contudo , a democracia possui também outros méritos que só ligeiramente são menos importantes. Torna possível um grau de liberdade intelectual que não tem grandes probabilidades de existir sob um regime despótico. Na Rússia de hoje não se permite qualquer obra literária que possa instilar a menor dúvida acerca da sabedoria e virtude superiores dos chefes. Os monarcas despóticos sempre suprimiram, até onde lhes era possível , qualquer sugestão de que o seu poder era excessivo. As Igrejas têm tido culpas idênticas a este respeito. (...)
Outra vantagem da democracia reside no facto de ser menos atreita a atitudes belicosas do que um governo autocrático. As vantagens da guerra - se é que há algumas! - vão beneficiar só os poderosos e eminentes nações vencedoras . As desvantagens que são muito mais evidentes, recaem principalmente sobre o comum dos cidadãos. Quase não tenho dúvidas de que, se a vontade do povo russo, neste momento histórico , pudesse prevalecer , os perigos de uma guerra entre o Oriente e o Ocidente desapareceriam por completo.(...)
Se uma terceira guerra mundial vier a eclodir - e oxalá tal hipótese não venha jamais a verificar-se -, parece-me claro que a orientação agressiva e nada amistosa do Governo russo, desde 1945, terá sido uma das maiores causas, seja qual for a faísca que provoque a explosão. Portanto, parece-me razoável supor que uma das vantagens da democracia sobre outras formas de governo reside na sua maior tendência para a paz.
Apesar de que frequentemente se tem dito em contrário, parece-me que um dos grandes méritos da democracia tem sido o de conferir às nações que a adoptam uma fortaleza maior no caso de guerra. Talvez isto não seja verdade durante os primeiros meses de uma guerra, especialmente quando, durante esses primeiros meses, as autocracias podem alcançar algumas vitórias militares. Mas tem sido verdade quando se considera a guerra na sua totalidade . Alguém que se dê ao trabalho de analisar as guerras importantes que ocorreram durante os últimos duzentos e cinquenta anos verificará que, em todos os casos , as vitórias finais pertenceram àquelas nações que mais se aproximavam daquilo a que chamamos democracia.
Bertrand Russell, "Realidade e Ficção"
Lord Melbourne , que foi o primeiro-ministro do reinado da rainha Vitória, era precisamente dessas pessoas decentes. Na sua vida privada era um homem encantador : cultivado, lido, humano, liberal. Era também riquíssimo; o seu dinheiro vinha-lhe todo das minas de carvão onde crianças trabalhavam turnos longuíssimos na escuridão mais completa a troco de tuta-e-meia. Era a agonia lenta dessas crianças que lhe permitia ser tão polido e elegante. E nem sequer se pode dizer que o seu caso fosse excepcional. Factos análogos afectam até as origens do próprio comunismo: Marx viveu durante longos anos da caridade de Engels, e Engels vivia da exploração do proletariado de Manchester durante a década esfomeada de 1840. Os jovens finíssimos dos diálogos de Platão, que os classicistas ingleses sempre têm apresentado como modelos a serem seguidos pela juventude aristocrática inglesa, viviam do trabalho de escravos e da exploração do Império Ateniense, de curta duração. As injustiças que nos trazem benefícios diretos e pessoais podem sempre ser justificadas com um sofisma qualquer.
As pessoas ficam horrorizadas , e com imensa razão, pelas atrocidades cometidas pelos Mau-Mau, mas quantos refletirão que tais desmandos, na sua totalidade, não chegam a ser uma milésima parte das atrocidades que os Brancos infligiram , durante séculos, sobre os Negros, através da instituição da escravatura e do rendoso comércio de escravos. A cidade de Bristol conta entre os seus cidadãos muitos homens ricos da mais alta e insuspeita integridade moral - mas a prosperidade dessa cidade deve-se, originalmente e principalmente , ao comércio de escravos.
Quando Stalin estava a introduzir a coletivização na Rússia, teve de enfrentar a oposição obstinada dos camponeses. Desfez essa oposição com uma implacabilidade que teria sido impossível num país democrático. Das suas medidas resultou a morte pela fome de cerca de 5 milhões de camponeses, enquanto vários milhões mais eram exilados para campos de concentração do círculo Ártico. E tudo isto foi feito em nome da necessidade de introduzir uma "agricultura cientifica".
(...) O grande valor da democracia está precisamente em evitar a prática de atrocidades nessa larga escala. É este o seu primeiro e maior mérito. (...)
Contudo , a democracia possui também outros méritos que só ligeiramente são menos importantes. Torna possível um grau de liberdade intelectual que não tem grandes probabilidades de existir sob um regime despótico. Na Rússia de hoje não se permite qualquer obra literária que possa instilar a menor dúvida acerca da sabedoria e virtude superiores dos chefes. Os monarcas despóticos sempre suprimiram, até onde lhes era possível , qualquer sugestão de que o seu poder era excessivo. As Igrejas têm tido culpas idênticas a este respeito. (...)
Outra vantagem da democracia reside no facto de ser menos atreita a atitudes belicosas do que um governo autocrático. As vantagens da guerra - se é que há algumas! - vão beneficiar só os poderosos e eminentes nações vencedoras . As desvantagens que são muito mais evidentes, recaem principalmente sobre o comum dos cidadãos. Quase não tenho dúvidas de que, se a vontade do povo russo, neste momento histórico , pudesse prevalecer , os perigos de uma guerra entre o Oriente e o Ocidente desapareceriam por completo.(...)
Se uma terceira guerra mundial vier a eclodir - e oxalá tal hipótese não venha jamais a verificar-se -, parece-me claro que a orientação agressiva e nada amistosa do Governo russo, desde 1945, terá sido uma das maiores causas, seja qual for a faísca que provoque a explosão. Portanto, parece-me razoável supor que uma das vantagens da democracia sobre outras formas de governo reside na sua maior tendência para a paz.
Apesar de que frequentemente se tem dito em contrário, parece-me que um dos grandes méritos da democracia tem sido o de conferir às nações que a adoptam uma fortaleza maior no caso de guerra. Talvez isto não seja verdade durante os primeiros meses de uma guerra, especialmente quando, durante esses primeiros meses, as autocracias podem alcançar algumas vitórias militares. Mas tem sido verdade quando se considera a guerra na sua totalidade . Alguém que se dê ao trabalho de analisar as guerras importantes que ocorreram durante os últimos duzentos e cinquenta anos verificará que, em todos os casos , as vitórias finais pertenceram àquelas nações que mais se aproximavam daquilo a que chamamos democracia.
Bertrand Russell, "Realidade e Ficção"
Bolsonaro está perto do fim
Esta semana pode ser a última de uma época marcada pela passagem da extrema direita no poder. Bolsonaro se inspirou no governo militar, mas a História não se repete. Ele chegou pelo voto e será despachado pelo voto.
No período militar, a Guerra Fria dominava o contexto, o comunismo era visto como uma grande ameaça. O medo da época concentrava-se muito na estatização, na ameaça à propriedade privada.
Bolsonaro manteve o discurso anticomunista, mas agora centrado nos temas culturais. Os grandes países comunistas não tiveram peso em suas diatribes, mas sim as organizações multilaterais. Agora era preciso defender Deus, pátria e família de elementos morais que poderiam desintegrá-los.
O Brasil era complexo demais para uma visão tão estreita. Mas sua complexidade nos mostrou que há espaço para a extrema direita e que teremos de conviver com ela como uma força considerável, como na França. Possivelmente, aqui como lá, dificilmente será majoritária. Na França, chegou duas vezes ao segundo turno e fracassou.
Não temos no Brasil o combustível que incendeia a extrema direita de lá: os fluxos migratórios, vistos como ameaças ao emprego e ao modo de vida local. No Brasil, a saída para seu crescimento é ficar à espreita, esperando os erros do governo. Pode haver muita gritaria no campo dos costumes, mas ela só tem consequências maiores se a economia não reencontrar um ritmo de crescimento sustentável.
Ainda assim, mesmo com o país crescendo, surgem problemas: uma concentração apenas nas melhorias materiais, como se isso fosse o único objetivo nacional, e, eventualmente, a tendência à corrupção.
Não vejo como exercício inútil falar dessas preocupações na que pode ser a última semana de Bolsonaro no governo. A derrota da extrema direita é essencial, a maioria parece decidida a realizá-la e, sinceramente, não há no horizonte nada que possa mudar esse quadro no domingo.
Bolsonaro tem um alto índice de rejeição. É algo que não se resolve nos últimos dias, porque representa o julgamento de todo um governo, a soma de todas as falas e ações de um presidente. A tentativa mais audaciosa, a criação de um novo auxílio emergencial, acabou fracassando porque os mais pobres continuam votando no adversário.
Alguns jornalistas chamavam a emenda que criou o auxílio de Kamikaze porque desequilibrava o Orçamento. Resisti a esse nome, porque os pilotos kamikazes na Segunda Guerra Mundial colocavam a própria vida em risco, e não o dinheiro dos outros. Olhando para trás, creio que estava equivocado. De certa forma, era uma emenda Kamikaze: Bolsonaro colocaria todas as esperanças nela, e sua campanha explodiria como um avião japonês pilotado por um suicida.
Certamente, minhas preocupações atuais estão fora de época. O que acontecerá com a derrota de Bolsonaro será uma grande celebração. Mas, assim que passar a festa, certamente haverá espaço para esta pergunta, para mim indispensável: como evitar que aconteça de novo?
Basta considerar a Floresta Amazônica e concluir, depois de tanta devastação, que um novo período de barbárie simplesmente arruinará as chances futuras do Brasil, que dependem de sua riqueza natural.
Bolsonaristas radicais fizeram um grande auê no funeral da rainha e disseram que a BBC não era bem-vinda em Londres. Nada impedirá que continuem falando bobagens; se voltam ao poder, continuaremos resistindo, mas nas ruínas do que chamávamos o país do futuro.
Agora, que está quase acabando, nada mais razoável do que intensos estudos sobre como começa, o que come, onde a serpente bota os ovos, qual o antídoto para movimentos tão raivosos.
Vivemos uma tempestade perfeita. Há o que comemorar, mas como esquecer quase 700 mil mortos? Não podemos mais suprimir a solidariedade, a compaixão num país em frangalhos.
No período militar, a Guerra Fria dominava o contexto, o comunismo era visto como uma grande ameaça. O medo da época concentrava-se muito na estatização, na ameaça à propriedade privada.
Bolsonaro manteve o discurso anticomunista, mas agora centrado nos temas culturais. Os grandes países comunistas não tiveram peso em suas diatribes, mas sim as organizações multilaterais. Agora era preciso defender Deus, pátria e família de elementos morais que poderiam desintegrá-los.
O Brasil era complexo demais para uma visão tão estreita. Mas sua complexidade nos mostrou que há espaço para a extrema direita e que teremos de conviver com ela como uma força considerável, como na França. Possivelmente, aqui como lá, dificilmente será majoritária. Na França, chegou duas vezes ao segundo turno e fracassou.
Não temos no Brasil o combustível que incendeia a extrema direita de lá: os fluxos migratórios, vistos como ameaças ao emprego e ao modo de vida local. No Brasil, a saída para seu crescimento é ficar à espreita, esperando os erros do governo. Pode haver muita gritaria no campo dos costumes, mas ela só tem consequências maiores se a economia não reencontrar um ritmo de crescimento sustentável.
Ainda assim, mesmo com o país crescendo, surgem problemas: uma concentração apenas nas melhorias materiais, como se isso fosse o único objetivo nacional, e, eventualmente, a tendência à corrupção.
Não vejo como exercício inútil falar dessas preocupações na que pode ser a última semana de Bolsonaro no governo. A derrota da extrema direita é essencial, a maioria parece decidida a realizá-la e, sinceramente, não há no horizonte nada que possa mudar esse quadro no domingo.
Bolsonaro tem um alto índice de rejeição. É algo que não se resolve nos últimos dias, porque representa o julgamento de todo um governo, a soma de todas as falas e ações de um presidente. A tentativa mais audaciosa, a criação de um novo auxílio emergencial, acabou fracassando porque os mais pobres continuam votando no adversário.
Alguns jornalistas chamavam a emenda que criou o auxílio de Kamikaze porque desequilibrava o Orçamento. Resisti a esse nome, porque os pilotos kamikazes na Segunda Guerra Mundial colocavam a própria vida em risco, e não o dinheiro dos outros. Olhando para trás, creio que estava equivocado. De certa forma, era uma emenda Kamikaze: Bolsonaro colocaria todas as esperanças nela, e sua campanha explodiria como um avião japonês pilotado por um suicida.
Certamente, minhas preocupações atuais estão fora de época. O que acontecerá com a derrota de Bolsonaro será uma grande celebração. Mas, assim que passar a festa, certamente haverá espaço para esta pergunta, para mim indispensável: como evitar que aconteça de novo?
Basta considerar a Floresta Amazônica e concluir, depois de tanta devastação, que um novo período de barbárie simplesmente arruinará as chances futuras do Brasil, que dependem de sua riqueza natural.
Bolsonaristas radicais fizeram um grande auê no funeral da rainha e disseram que a BBC não era bem-vinda em Londres. Nada impedirá que continuem falando bobagens; se voltam ao poder, continuaremos resistindo, mas nas ruínas do que chamávamos o país do futuro.
Agora, que está quase acabando, nada mais razoável do que intensos estudos sobre como começa, o que come, onde a serpente bota os ovos, qual o antídoto para movimentos tão raivosos.
Vivemos uma tempestade perfeita. Há o que comemorar, mas como esquecer quase 700 mil mortos? Não podemos mais suprimir a solidariedade, a compaixão num país em frangalhos.
Reino da estupidez
estraga a vida e corrói a alma.
Mesmo um estúpido de cada vez,
à doce paciência, leva a palma.
A estupidez é um muro de betão,
que fica diante de nós, teimoso:
não há argumento ou empurrão,
que mova um imbecil meticuloso.
O estúpido não sabe argumentar,
porque isso fica além das suas posses:
por isso, mais não faz do que alinhar
patetices, como se fossem doces.
A estupidez consome tempo e espaço
e, ao saber, prefere o estardalhaço!Eugénio Lisboa
Mesmo um estúpido de cada vez,
à doce paciência, leva a palma.
A estupidez é um muro de betão,
que fica diante de nós, teimoso:
não há argumento ou empurrão,
que mova um imbecil meticuloso.
O estúpido não sabe argumentar,
porque isso fica além das suas posses:
por isso, mais não faz do que alinhar
patetices, como se fossem doces.
A estupidez consome tempo e espaço
e, ao saber, prefere o estardalhaço!Eugénio Lisboa
A linguagem que separa Lula e Bolsonaro
No último domingo, estive na quadra da escola de samba Portela, no bairro carioca de Madureira. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, havia convidado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fazer um comício a uma semana da eleição, o que, é claro, também deveria colocar em evidência o próprio Paes. Para o candidato presidencial do PT, foi como jogar em casa. As ruas ao redor da Portela estavam completamente vermelhas, e era quase impossível chegar até a quadra, que a certa altura acabou fechando as portas, por ter atingido lotação máxima.
Quem afirmava, como se lê muitas vezes nas redes bolsonaristas, que Lula não ousa estar no meio do povo e não mobiliza ninguém, recebeu uma lição. Após quatro anos de abstinência e medo da agressão dos bolsonaristas, brasileiros de esquerda e progressistas têm novamente coragem de mostrar publicamente suas cores e símbolos – e também agitar a bandeira nacional, porque não querem deixá-la para os extremistas de direita.
Quando Lula chegou, mostrou mais uma vez porque ele é capaz de mobilizar a gente como nenhum outro político da esquerda. Tem a ver com sua lendária ascensão de filho de uma mãe solteira pobre com oito filhos a chefe de Estado. Sua história lhe dá credibilidade. A isso se soma sua retórica simples, que sempre toca mais o coração do que a razão. Um terceiro fator é que muitos brasileiros se lembram com certa nostalgia dos anos 2000, quando o Brasil crescia economicamente, os salários subiam, e a pobreza caía.
Após várias semanas acompanhando a campanha eleitoral, identifiquei perfis de eleitores que também se confirmaram na Portela.
O eleitor típico de Bolsonaro é mais velho, de pele mais clara, do sexo masculino, mais rico e com maior nível de educação formal. Ele se sente ameaçado por "comunismo", "ideologia de gênero" e "globalismo". Coloquei os termos entre aspas porque são invenções de estrategistas de direita. Não há comunismo no Brasil (mesmo em 13 anos de PT, nenhuma empresa foi estatizada), não há ideologia de gênero, nem ideologia de globalização (se estiver errado, agradeceria se alguém me mostrasse os manifestos e princípios dessas ideologias). São termos que agrupam os difusos medos de mudanças sociais. Muitos eleitores de Bolsonaro não conseguem lidar com esses medos – do feminismo, por exemplo –, que muitas vezes levam à agressão.
Os eleitores de Lula, por sua vez, são de pele mais escura, menos abastados, têm menor nível de educação formal e são mais jovens. Também é um eleitorado mais feminino. Isso também fica claro na Portela. E eles reagem a expressões completamente diferentes das dos apoiadores de Bolsonaro. São também duas linguagens diferentes que separam os seguidores de Lula e os bolsonaristas. Isso não apenas expressa duas formas diferentes de pensar, mas também duas formas de percepção, sentimento e prioridades.
Esta é provavelmente a maior diferença que caracteriza os eleitores de Bolsonaro: eles podem se dar ao luxo de temer um "comunismo" imaginário. Já para os eleitores de Lula, o aspecto material é mais importante. Enquanto nos eventos de Bolsonaro há mais aplausos quando ele fala sobre Deus, os militares, a pátria e ele mesmo, o povo de Lula aplaude quando ele diz que as mães do Brasil querem alimentar bem seus filhos e vesti-los bem, querem mandá-los para a escola e a universidade. Ou quando ele apela ao orgulho nacional e diz que a Petrobras tem condições de extrair petróleo do pré-sal porque seu governo investiu em ciência e tecnologia e vai voltar a fazê-lo.
Lula é, na maioria das vezes, concreto; Bolsonaro costuma ser abstrato. Quando Lula diz que Bolsonaro viajou para o funeral da rainha, mas não dedicou uma única palavra de lamento pelas quase 700 mil mortes por covid-19 no Brasil, algumas pessoas na Portela vão às lágrimas. Bolsonaro sempre afirma em seus comícios: "Lamentamos todas as mortes". Agora ele deveria contar uma história pessoal sobre o quanto se comoveu com a morte de um brasileiro específico – como faria Lula. Mas ele não tem nada a oferecer.
Bolsonaro discursa muito sobre Deus, os militares, a pátria e a família mas nunca preenche os conceitos com conteúdo. A retórica de Bolsonaro é fria, distante e desperta ressentimentos; a retórica de Lula é concreta, direta e desperta esperanças.
No evento com Lula na Portela, não foi um problema me identificar como jornalista estrangeiro e fazer perguntas, inclusive críticas, como sobre o Petrolão. Os participantes responderam com seriedade e sem agressão. Por outro lado, quem incluir a menor crítica ao "mito" numa pergunta, num evento com Bolsonaro – sobre os 51 imóveis que sua família pagou em dinheiro, por exemplo – tem que temer ser agredido verbalmente e até atacado fisicamente.
Quem afirmava, como se lê muitas vezes nas redes bolsonaristas, que Lula não ousa estar no meio do povo e não mobiliza ninguém, recebeu uma lição. Após quatro anos de abstinência e medo da agressão dos bolsonaristas, brasileiros de esquerda e progressistas têm novamente coragem de mostrar publicamente suas cores e símbolos – e também agitar a bandeira nacional, porque não querem deixá-la para os extremistas de direita.
Quando Lula chegou, mostrou mais uma vez porque ele é capaz de mobilizar a gente como nenhum outro político da esquerda. Tem a ver com sua lendária ascensão de filho de uma mãe solteira pobre com oito filhos a chefe de Estado. Sua história lhe dá credibilidade. A isso se soma sua retórica simples, que sempre toca mais o coração do que a razão. Um terceiro fator é que muitos brasileiros se lembram com certa nostalgia dos anos 2000, quando o Brasil crescia economicamente, os salários subiam, e a pobreza caía.
Após várias semanas acompanhando a campanha eleitoral, identifiquei perfis de eleitores que também se confirmaram na Portela.
O eleitor típico de Bolsonaro é mais velho, de pele mais clara, do sexo masculino, mais rico e com maior nível de educação formal. Ele se sente ameaçado por "comunismo", "ideologia de gênero" e "globalismo". Coloquei os termos entre aspas porque são invenções de estrategistas de direita. Não há comunismo no Brasil (mesmo em 13 anos de PT, nenhuma empresa foi estatizada), não há ideologia de gênero, nem ideologia de globalização (se estiver errado, agradeceria se alguém me mostrasse os manifestos e princípios dessas ideologias). São termos que agrupam os difusos medos de mudanças sociais. Muitos eleitores de Bolsonaro não conseguem lidar com esses medos – do feminismo, por exemplo –, que muitas vezes levam à agressão.
Os eleitores de Lula, por sua vez, são de pele mais escura, menos abastados, têm menor nível de educação formal e são mais jovens. Também é um eleitorado mais feminino. Isso também fica claro na Portela. E eles reagem a expressões completamente diferentes das dos apoiadores de Bolsonaro. São também duas linguagens diferentes que separam os seguidores de Lula e os bolsonaristas. Isso não apenas expressa duas formas diferentes de pensar, mas também duas formas de percepção, sentimento e prioridades.
Esta é provavelmente a maior diferença que caracteriza os eleitores de Bolsonaro: eles podem se dar ao luxo de temer um "comunismo" imaginário. Já para os eleitores de Lula, o aspecto material é mais importante. Enquanto nos eventos de Bolsonaro há mais aplausos quando ele fala sobre Deus, os militares, a pátria e ele mesmo, o povo de Lula aplaude quando ele diz que as mães do Brasil querem alimentar bem seus filhos e vesti-los bem, querem mandá-los para a escola e a universidade. Ou quando ele apela ao orgulho nacional e diz que a Petrobras tem condições de extrair petróleo do pré-sal porque seu governo investiu em ciência e tecnologia e vai voltar a fazê-lo.
Lula é, na maioria das vezes, concreto; Bolsonaro costuma ser abstrato. Quando Lula diz que Bolsonaro viajou para o funeral da rainha, mas não dedicou uma única palavra de lamento pelas quase 700 mil mortes por covid-19 no Brasil, algumas pessoas na Portela vão às lágrimas. Bolsonaro sempre afirma em seus comícios: "Lamentamos todas as mortes". Agora ele deveria contar uma história pessoal sobre o quanto se comoveu com a morte de um brasileiro específico – como faria Lula. Mas ele não tem nada a oferecer.
Bolsonaro discursa muito sobre Deus, os militares, a pátria e a família mas nunca preenche os conceitos com conteúdo. A retórica de Bolsonaro é fria, distante e desperta ressentimentos; a retórica de Lula é concreta, direta e desperta esperanças.
No evento com Lula na Portela, não foi um problema me identificar como jornalista estrangeiro e fazer perguntas, inclusive críticas, como sobre o Petrolão. Os participantes responderam com seriedade e sem agressão. Por outro lado, quem incluir a menor crítica ao "mito" numa pergunta, num evento com Bolsonaro – sobre os 51 imóveis que sua família pagou em dinheiro, por exemplo – tem que temer ser agredido verbalmente e até atacado fisicamente.
Neandertal: as lições que eles nos ensinam 40 mil anos após sua extinção
Cuidavam dos jovens, velhos e doentes, criavam abrigos para se protegerem, suportavam invernos rigorosos e verões quentes e enterravam seus mortos. DNA neandertal que pode ter sido benéfico para os humanos há dezenas de milhares de anos agora parece causar problemas quando combinado com um estilo de vida ocidental moderno.
Hoje sabemos que o Homo neanderthalensis era muito parecido conosco: no passado, nós convivemos com eles e nos cruzamos com frequência. Mas por que os neandertais foram extintos, enquanto nós sobrevivemos, prosperamos e acabamos dominando o planeta?
Os neandertais evoluíram há mais de 400 mil anos, provavelmente a partir do Homo heidelbergensis. Eles tiveram muito sucesso e se espalharam do Mediterrâneo para a Sibéria. Eles eram altamente inteligentes, com cérebros em média maiores que os do Homo sapiens.
Eles caçavam grandes animais, coletavam plantas, cogumelos e frutos do mar, controlavam o fogo para cozinhar, faziam ferramentas rebuscadas, vestiam peles de animais, faziam decorações de conchas e eram capazes de desenhar símbolos nas paredes das cavernas.
Eles cuidavam dos jovens, velhos e doentes, criavam abrigos para se protegerem, suportavam invernos rigorosos e verões quentes e enterravam seus mortos.
Os restos esqueléticos dos neandertais revelam que eles tinham um cérebro quase tão grande quanto o dos humanos modernos, então pode-se presumir que eles eram inteligentes e capazes de resolver problemas
Os neandertais encontraram nossos ancestrais inúmeras vezes ao longo de dezenas de milhares de anos. As duas espécies compartilharam o continente europeu por pelo menos 14 mil anos. Eles até tiveram relações sexuais.
A diferença mais significativa entre os neandertais e nossa espécie é que eles foram extintos há cerca de 40 mil anos. A causa exata de seu desaparecimento ainda é um mistério para nós, mas acreditamos que provavelmente foi o resultado de uma combinação de fatores.
Em primeiro lugar, o clima da última era glacial era altamente variável, indo do frio ao calor extremo e vice-versa, o que pressionava as fontes de alimentos de animais e plantas e significava que os neandertais tinham que se adaptar constantemente às mudanças ambientais.
Em segundo lugar, nunca chegou a haver muitos neandertais, já que a população total deles nunca ultrapassou dezenas de milhares de pessoas.
Eles viviam em pequenos grupos, de cinco a 15 indivíduos, em comparação com o Homo sapiens que formava grupos de até 150 indivíduos. Essas pequenas populações neandertais isoladas podem ter se tornado geneticamente cada vez mais insustentáveis.
O fato de os neandertais viverem em pequenos grupos foi, na opinião dos autores, um dos motivos da sua extinção
Terceiro, eles tiveram que competir com outros predadores, particularmente os grupos de humanos modernos que surgiram da África há cerca de 60 mil anos. Acreditamos que muitos neandertais podem ter sido assimilados nos grupos maiores de Homo sapiens.
Os neandertais deixaram inúmeras pistas para examinarmos dezenas de milhares de anos depois — muitas das quais podem ser vistas na exposição especial que ajudamos a organizar no Museu de História Natural da Dinamarca.
Nos últimos 150 anos, coletamos ossos fósseis, ferramentas de pedra e madeira, encontramos objetos e joias deixadas para trás, descobrimos cemitérios e agora mapeamos seu genoma a partir de DNA antigo. Parece que 99,7% do DNA de neandertais e humanos modernos é idêntico, e não há dúvida de que eles são nossos parentes extintos mais próximos.
Talvez o mais surpreendente seja a evidência de cruzamento que deixou vestígios de DNA neandertal em humanos vivos hoje.
Muitos europeus e asiáticos têm entre 1% e 4% de DNA neandertal. Os únicos humanos modernos sem traços genéticos de neandertais são as populações africanas localizadas ao sul do Saara. Ironicamente, com uma população mundial atual de cerca de 8 bilhões de pessoas, isso significa que nunca houve tanto DNA neandertal na Terra.
A análise do genoma neandertal nos ajuda a entender melhor sua aparência, pois há evidências de que alguns desenvolveram pele clara e cabelos ruivos muito antes do Homo sapiens. Os muitos genes que os neandertais e os humanos modernos compartilham estão relacionados a diversas coisas, desde a capacidade de saborear alimentos amargos até a capacidade de falar.
Também aumentamos nosso conhecimento sobre a saúde humana. Por exemplo, parte do DNA neandertal que pode ter sido benéfico para os humanos há dezenas de milhares de anos agora parece causar problemas quando combinado com um estilo de vida ocidental moderno.
Existem ligações com alcoolismo, obesidade, alergias, coagulação do sangue e depressão. Recentemente cientistas sugeriram que uma antiga variante genética neandertal poderia aumentar o risco de complicações graves para quem contrai covid-19.
Como os dinossauros, os neandertais não sabiam o que viria pela frente. A diferença é que os dinossauros desapareceram repentinamente após o impacto de um meteorito gigante vindo do espaço. A extinção dos neandertais ocorreu gradualmente.
Eles acabaram perdendo seu mundo — uma casa confortável que ocuparam com sucesso por centenas de milhares de anos, e que lentamente se voltou contra eles, até que a sua existência se tornou insustentável.
Os neandertais agora têm um propósito diferente. Nós enxergamos nosso reflexo neles. Eles não sabiam o que estava acontecendo com eles e não tiveram escolha a não ser continuar no caminho que acabou levando à sua extinção. Nós, por outro lado, estamos dolorosamente conscientes de nossa situação e do impacto que temos neste planeta.
A atividade humana está mudando o clima e está nos levando diretamente a uma sexta extinção em massa. Nós podemos refletir sobre a confusão em que nos metemos e fazer algo a respeito disso.
Se não queremos acabar como os neandertais, é melhor agirmos juntos e trabalharmos coletivamente por um futuro mais sustentável. A extinção dos neandertais nos lembra que nunca devemos tomar nossa existência como algo garantido.
Peter C. Kjærgaard, Mark Maslin e Trine Kellberg Nielsen, professores de História Evolutiva na Universidade de Copenhague (Dinamarca), de Ciências na University College London (Reino Unido) e de Arqueologia na Arthaus University (Dinamarca)
sexta-feira, 23 de setembro de 2022
Tá chovendo comida
33 milhões de pessoas passando fome é mentira. Nós estamos transferindo para os mais pobres, com o Auxílio Brasil, 1,5% do PIB, três vezes mais do que recebiam antesPaulo Guedes, ministro da Economia
Devemos agradecer pela incompetência do bolsonarismo
Uns amigos da Europa recentemente me perguntaram se realmente existe o risco de um golpe caso Jair Messias Bolsonaro perca as eleições. Respondi que não acredito nessa possibilidade. Parece-me que Bolsonaro só ameaça, mas não faz. Grita "imbrochável", mas falha. Como nos anos 80, quando teria planejado colocar bombas em quartéis, mas não o fez. Depois queria que todo mundo tivesse arma para se defender de bandido, mas quando roubaram a moto dele, deixou os ladrões roubarem sua arma também.
Também ameaçou fuzilar 30 mil pessoas, mas, pelo menos por enquanto, não o fez. Tentou criar um partido político, mas não rolou. Continua pulando entre legendas hospedeiras. Assim, ele me lembra aquele bloco carnavalesco "Concentra mas não sai". Que nome fantástico!
Devemos agradecer, penso, pela incompetência da extrema direita – não só aqui no Brasil, aliás. Parece-me que não tem nada de "Deus capacita os escolhidos". Ou, na verdade, nem foram escolhidos, ou simplesmente não rolou a capacitação. Pelo menos por enquanto.
O importante é constatar que todos esses cenários sombrios não se concretizaram. Aparentemente, a meta é apenas fazer barulho, criar confusão e provocar os outros, de preferência a esquerda. Destruir uma placa em homenagem a Marielle Franco, insultar Dilma Rousseff com uma saudação ao torturador Brilhante Ustra, colocar Sérgio Camargo na Fundação Palmares ou acabar com o Ministério da Cultura: tudo feito pelo bolsonarismo para irritar e deixar furiosos inimigos políticos.
Assim, criam-se cenas absurdas, como na véspera e no dia do funeral da rainha Elizabeth 2ª em Londres. Da sacada da embaixada brasileira, Bolsonaro discursou contra o aborto e a liberação das drogas. Justamente num país onde o aborto e a maconha para uso medicinal são liberados. E olha que povo disciplinado eles têm mesmo com essas liberdades! Ao contrário dos apoiadores de Bolsonaro, que transformaram o dia do funeral da rainha numa grande confusão em plena Londres.
Mas, claro que, além de irritar inimigos, os vídeos produzidos ali serviriam para o público que ficou no Brasil, por não ter o privilégio de viajar para Londres – ou morar lá – e ir até a embaixada para ver Bolsonaro e fazer barulho. O presidente ainda gravou um vídeo para mostrar que a gasolina no Brasil custa a metade do que na capital britânica. Claro que ele esqueceu de mencionar que os britânicos ganham seis vezes mais que os brasileiros. Para que contextualizar se dá para ser simplista? Mas tudo bem, sabemos como funciona a política.
Enquanto isso, chegam as mais novas pesquisas eleitorais, indicando cada vez mais uma possível vitória de Lula já no primeiro turno. Será que foram as campanhas pelo voto útil que conseguiram convencer uns eleitores a trocar a terceira via pelo PT já no primeiro turno?
Parece que a maioria dos brasileiros se cansou das confusões constantes do clã Bolsonaro. Ele e sua família conseguiram chegar muito longe, o que indica a falta de uma real alternativa política na direita.
Sempre vi o surgimento do bolsonarismo como um indicativo de um problema grave na direita tradicional, que não foi capaz de criar uma proposta política decente para os problemas brasileiros. Pois problema é o que não falta, nem erros e omissões graves da esquerda para serem explorados. Não existe uma proposta forte da esquerda para a segurança pública, por exemplo. Nem uma sensibilidade para as questões de família, que importam tanto para o segmento evangélico. São campos enormes abandonados e entregues para uma extrema direita grotesca, tosca e baderneira, que, graças a Deus, se mostrou incompetente. Torço para que ela continue assim.
Também ameaçou fuzilar 30 mil pessoas, mas, pelo menos por enquanto, não o fez. Tentou criar um partido político, mas não rolou. Continua pulando entre legendas hospedeiras. Assim, ele me lembra aquele bloco carnavalesco "Concentra mas não sai". Que nome fantástico!
Devemos agradecer, penso, pela incompetência da extrema direita – não só aqui no Brasil, aliás. Parece-me que não tem nada de "Deus capacita os escolhidos". Ou, na verdade, nem foram escolhidos, ou simplesmente não rolou a capacitação. Pelo menos por enquanto.
O importante é constatar que todos esses cenários sombrios não se concretizaram. Aparentemente, a meta é apenas fazer barulho, criar confusão e provocar os outros, de preferência a esquerda. Destruir uma placa em homenagem a Marielle Franco, insultar Dilma Rousseff com uma saudação ao torturador Brilhante Ustra, colocar Sérgio Camargo na Fundação Palmares ou acabar com o Ministério da Cultura: tudo feito pelo bolsonarismo para irritar e deixar furiosos inimigos políticos.
Assim, criam-se cenas absurdas, como na véspera e no dia do funeral da rainha Elizabeth 2ª em Londres. Da sacada da embaixada brasileira, Bolsonaro discursou contra o aborto e a liberação das drogas. Justamente num país onde o aborto e a maconha para uso medicinal são liberados. E olha que povo disciplinado eles têm mesmo com essas liberdades! Ao contrário dos apoiadores de Bolsonaro, que transformaram o dia do funeral da rainha numa grande confusão em plena Londres.
Mas, claro que, além de irritar inimigos, os vídeos produzidos ali serviriam para o público que ficou no Brasil, por não ter o privilégio de viajar para Londres – ou morar lá – e ir até a embaixada para ver Bolsonaro e fazer barulho. O presidente ainda gravou um vídeo para mostrar que a gasolina no Brasil custa a metade do que na capital britânica. Claro que ele esqueceu de mencionar que os britânicos ganham seis vezes mais que os brasileiros. Para que contextualizar se dá para ser simplista? Mas tudo bem, sabemos como funciona a política.
Enquanto isso, chegam as mais novas pesquisas eleitorais, indicando cada vez mais uma possível vitória de Lula já no primeiro turno. Será que foram as campanhas pelo voto útil que conseguiram convencer uns eleitores a trocar a terceira via pelo PT já no primeiro turno?
Parece que a maioria dos brasileiros se cansou das confusões constantes do clã Bolsonaro. Ele e sua família conseguiram chegar muito longe, o que indica a falta de uma real alternativa política na direita.
Sempre vi o surgimento do bolsonarismo como um indicativo de um problema grave na direita tradicional, que não foi capaz de criar uma proposta política decente para os problemas brasileiros. Pois problema é o que não falta, nem erros e omissões graves da esquerda para serem explorados. Não existe uma proposta forte da esquerda para a segurança pública, por exemplo. Nem uma sensibilidade para as questões de família, que importam tanto para o segmento evangélico. São campos enormes abandonados e entregues para uma extrema direita grotesca, tosca e baderneira, que, graças a Deus, se mostrou incompetente. Torço para que ela continue assim.
quarta-feira, 21 de setembro de 2022
O 'melhor país do mundo' não é o de Bolsonaro
O presidente Jair Bolsonaro discursou, ontem, na abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, nos Estados Unidos, como é de praxe no cerimonial do órgão, desde a sua criação no imediato pós-II Guerra Mundial, embora não exista nada escrito que o Brasil deva ter essa honraria no seu regimento. Descreveu um país que não é exatamente aquele no qual estamos vivendo, com o claro propósito de aproveitar a oportunidade para se apresentar aos eleitores como um estadista reconhecido internacionalmente e, ao mundo, como um governante generoso e bem-sucedido. A abertura, porém, foi esvaziada pela ausência do presidente dos EUA, Joe Biden, que mudou a agenda e só falará hoje.
O discurso de Bolsonaro foi mais um gesto para se apropriar do nosso sentimento de brasilidade, da mesma forma como fez com a bandeira brasileira e as comemorações do Bicentenário da Independência, no 7 de Setembro, que descreveu no discurso como “a maior demonstração cívica da História do país”. Descendente de italianos, Bolsonaro é um “oriundi” traduzido, no conceito antropológico do termo, como acontece com a maioria dos brasileiros descendentes de europeus, que não renegam a cultura de seus povos de origem nem assumem uma condição “chauvinista”, colocando-a acima da nossa cultura popular.
A dificuldade de Bolsonaro está em não compreender plenamente o conceito de “brasilidade”, a qualidade de quem é brasileiro, que está profundamente associado à nossa diversidade étnica e cultural. O “ser brasileiro” não é uma invenção das antigas elites escravocratas nem das escolas militares, mas uma construção multidimensional, por meio da arte, da dança, dos ritos, da música, da culinária, dos símbolos e, principalmente, da nossa literatura, que fez a crítica dos nossos hábitos e costumes, papel hoje exercido pela nossa teledramaturgia. Num país continental, não poderia ser diferente.
Quando um brasileiro acredita que somos “o melhor país do mundo”, não está se referindo a um governo ou à conjuntura, mas aos vínculos culturais mais profundos, tecidos ao longo de gerações. Iniciado após a Independência, em 1822, o processo de constituição da identidade nacional somente consolidou-se a partir da década de 1930, após Getúlio Vargas chegar ao poder. Está ligado à constituição de um Estado nacional moderno e à língua portuguesa, falada em todo o território nacional. Daí a importância da nossa literatura, hoje tão desprezada. As obras de José de Alencar, autor de O Guarani, por exemplo, foram fundamentais para associar nossa identidade às belezas naturais do território e à presença indígena na formação da nação brasileira.
Os Sermões, de Padre Vieira; Inocência, de Visconde de Taunay; O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; Dom Casmurro, de Machado de Assis; Macunaíma, de Mário de Andrade; Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa; Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto; Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Jubiabá e Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado; Navalha na Carne, de Plínio Marcos, por exemplo, construíram um mosaico cultural cujo influência na música, na dramaturgia e nas artes plásticas perdura hoje. Artistas como Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga e Ivone Lara, Cartola e Paulinho da Viola, Chico Buarque e Tom Jobim, Caetano e Gil, Cazuza e Renato Russo, cada qual à sua época, foram intérpretes desse sentimento profundo de brasilidade.
O “melhor país do mundo” está no imaginário popular, não estava no discurso que Bolsonaro fez ontem na ONU, onde afirmou que 80% da Floresta Amazônica permanecem intocados: “Dois terços de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto, em 1500”. No mesmo dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que o número de queimadas registradas na Amazônia, até ontem, já superou o total registrado em todo o ano de 2021. Em nove meses incompletos (261 dias), foram 76.587 focos de incêndio na região. No ano passado inteiro, foram 75.090.
Bolsonaro é o principal responsável pelo aumento do desmatamento da Amazônia, ao desmantelar órgãos como o Ibama e o Instituto Chico Mendes, além de estimular garimpeiros, pecuaristas e madeireiros a avançar floresta a dentro. A Amazônia Legal, com 59% do território brasileiro, ocupa nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Na semana passada, por causa das queimadas, a fuligem e o cheiro das queimadas foram sentidos de São Paulo ao Rio Grande do Sul. A política ambiental de Bolsonaro está na contramão da política ambiental preconizada pela ONU e, hoje, é um dos principais fatores do nosso isolamento internacional.
O discurso de Bolsonaro foi mais um gesto para se apropriar do nosso sentimento de brasilidade, da mesma forma como fez com a bandeira brasileira e as comemorações do Bicentenário da Independência, no 7 de Setembro, que descreveu no discurso como “a maior demonstração cívica da História do país”. Descendente de italianos, Bolsonaro é um “oriundi” traduzido, no conceito antropológico do termo, como acontece com a maioria dos brasileiros descendentes de europeus, que não renegam a cultura de seus povos de origem nem assumem uma condição “chauvinista”, colocando-a acima da nossa cultura popular.
A dificuldade de Bolsonaro está em não compreender plenamente o conceito de “brasilidade”, a qualidade de quem é brasileiro, que está profundamente associado à nossa diversidade étnica e cultural. O “ser brasileiro” não é uma invenção das antigas elites escravocratas nem das escolas militares, mas uma construção multidimensional, por meio da arte, da dança, dos ritos, da música, da culinária, dos símbolos e, principalmente, da nossa literatura, que fez a crítica dos nossos hábitos e costumes, papel hoje exercido pela nossa teledramaturgia. Num país continental, não poderia ser diferente.
Quando um brasileiro acredita que somos “o melhor país do mundo”, não está se referindo a um governo ou à conjuntura, mas aos vínculos culturais mais profundos, tecidos ao longo de gerações. Iniciado após a Independência, em 1822, o processo de constituição da identidade nacional somente consolidou-se a partir da década de 1930, após Getúlio Vargas chegar ao poder. Está ligado à constituição de um Estado nacional moderno e à língua portuguesa, falada em todo o território nacional. Daí a importância da nossa literatura, hoje tão desprezada. As obras de José de Alencar, autor de O Guarani, por exemplo, foram fundamentais para associar nossa identidade às belezas naturais do território e à presença indígena na formação da nação brasileira.
Os Sermões, de Padre Vieira; Inocência, de Visconde de Taunay; O Cortiço, de Aluísio de Azevedo; Dom Casmurro, de Machado de Assis; Macunaíma, de Mário de Andrade; Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa; Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto; Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato; Vidas Secas, de Graciliano Ramos; Jubiabá e Gabriela, cravo e canela, de Jorge Amado; Navalha na Carne, de Plínio Marcos, por exemplo, construíram um mosaico cultural cujo influência na música, na dramaturgia e nas artes plásticas perdura hoje. Artistas como Tarsila do Amaral, Chiquinha Gonzaga e Ivone Lara, Cartola e Paulinho da Viola, Chico Buarque e Tom Jobim, Caetano e Gil, Cazuza e Renato Russo, cada qual à sua época, foram intérpretes desse sentimento profundo de brasilidade.
O “melhor país do mundo” está no imaginário popular, não estava no discurso que Bolsonaro fez ontem na ONU, onde afirmou que 80% da Floresta Amazônica permanecem intocados: “Dois terços de todo o território brasileiro permanecem com vegetação nativa, que se encontra exatamente como estava quando o Brasil foi descoberto, em 1500”. No mesmo dia, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou que o número de queimadas registradas na Amazônia, até ontem, já superou o total registrado em todo o ano de 2021. Em nove meses incompletos (261 dias), foram 76.587 focos de incêndio na região. No ano passado inteiro, foram 75.090.
Bolsonaro é o principal responsável pelo aumento do desmatamento da Amazônia, ao desmantelar órgãos como o Ibama e o Instituto Chico Mendes, além de estimular garimpeiros, pecuaristas e madeireiros a avançar floresta a dentro. A Amazônia Legal, com 59% do território brasileiro, ocupa nove estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e uma parte do Maranhão. Na semana passada, por causa das queimadas, a fuligem e o cheiro das queimadas foram sentidos de São Paulo ao Rio Grande do Sul. A política ambiental de Bolsonaro está na contramão da política ambiental preconizada pela ONU e, hoje, é um dos principais fatores do nosso isolamento internacional.
Odorico e a compostura
Compostura: ato ou efeito de compor (-se). Também modo de ser, de estar, de agir; que revela sobriedade, educação, comedimento para apresentar-se em sociedade.
Jair, o PR do Brasil, passa longe dessas definições. Talvez porque a palavra seja um substantivo fe-mi-ni-no – vocábulo definidor de um dos gêneros de seres humanos que provocam os instintos mais baixos do Jair.
Tem compostura quem sabe exercer austeridade, autocontrole, autodomínio. Quem sabe comportar-se adequadamente. Ou, no popular, atuar como manda o figurino. Coisas que passam infinitamente distante do Jair.
Coveiro é o profissional que abre e fecha covas em cemitérios. Jair já disse que não é um deles. Por isso mesmo, deixou claro: embora PR, como não é coveiro, nada tem a ver com os mais de 600 mil mortos da pandemia de Covid no Brasil.
Em sentido figurado, coveiro costuma indicar pessoa que estimula e/ou contribui para o fim de alguma coisa. O que cabe como luva no Jair. Em quase quatro anos como PR do Brasil, Jair detonou compostura, respeito a tal liturgia do cargo e mais um penca de coisas no país.
Daí, chefe de Estado que ainda é, cruzou o Atlântico para, como convidado, participar das homenagens póstumas à Rainha da Inglaterra – figura mais representativa da compostura e do respeito ao cargo.
Como o previsto, deu ruim. Jair lambuzou-se todo nas inconveniências. Principalmente, fez campanha política. No país enlutado, fez comício com claque barulhenta. Seu gado, enfurecido, aos costumes, avançou contra jornalistas. Destemidos, mugiram até contra os profissionais da BBC – tradicional e respeitada empresa britânica, pública, de comunicação. Aos berros, disseram aos donos da casa que “não eram bem vindos ali”.
Ribombando, mandaram outros ingleses “pra Venezuela”.
Compostura pura. Respeito máximo – à rainha e a seus súditos, na terra e no velório público da icônica monarca. Com essas deselegâncias todas, pretendiam imagens para bombar a campanha eleitoral, meio micada, do Jair.
Ou seja, no ambiente austero e fúnebre, Jair, armado com sua tropa, chegou-chegando. Primeiro, como definiu um comentarista da Globo News, no modelo boneco de posto, balançando-se alegremente ao vento. Depois, da sacada da residência do embaixador brasileiro, completou a performance, repetindo personagem clássico da comédia brasileira: Odorico Paraguaçu – prefeito da fictícia Sucupira, que fazia um de tudo para inaugurar sua maior obra de governo, um cemitério superfaturado.
Pra quem não conhece, Odorico Paraguaçu é personagem principal de peça teatral e depois de novela do dramaturgo Dias Gomes. Levada ao ar pela TV Globo, em 1973, a novela teve o sugestivo título de O Bem Amado.
Odorico, prefeito corrupto, demagogo e machista, era adorado por seus eleitores. O personagem vivia cercado de falsas beatas e de puxas-sacos. Marcou época e deixou pra história, além da caricatura do político esperto e safado, muitas expressões de um discurso que adverbiava quase tudo e abusava dos duplos sentidos. Tipo:Homem que é homem mata a cobra e mostra pau.
Tudo “perfeitamentemente” pronto para dar vigor ao vocabulário jairzístico, né não?
O mote da história de Dias Gomes é a busca de um defunto local pra inaugurar o cemitério. Pra desesperos e destemperos do prefeito, ninguém morre em Sucupira. Ao fim e depois de alopradas infinitas, Odorico, que definia adversários e jornalistas como “vagabundistas” e “cachassistas”, acaba assassinado por um de seus fieis seguidores. E, “finalmentemente”, seu corpo inaugura o cemitério.
Na Inglaterra, a primeira dama, Michele, dizem, vestiu-se inspirada em trajes de Jack Onassis, da atriz Audrey Hepburn e da princesa Kate Middleton – ícones de elegância e do bom gosto.
Jair, que tentava vaga de auxiliar de coveiro, foi de Odorico Paraguaçu. Desempenho perfeito.
PS: Jair e seu gado padecem de doença que a ciência chama de ressentimento social, né não?
Jair, o PR do Brasil, passa longe dessas definições. Talvez porque a palavra seja um substantivo fe-mi-ni-no – vocábulo definidor de um dos gêneros de seres humanos que provocam os instintos mais baixos do Jair.
Tem compostura quem sabe exercer austeridade, autocontrole, autodomínio. Quem sabe comportar-se adequadamente. Ou, no popular, atuar como manda o figurino. Coisas que passam infinitamente distante do Jair.
Coveiro é o profissional que abre e fecha covas em cemitérios. Jair já disse que não é um deles. Por isso mesmo, deixou claro: embora PR, como não é coveiro, nada tem a ver com os mais de 600 mil mortos da pandemia de Covid no Brasil.
Em sentido figurado, coveiro costuma indicar pessoa que estimula e/ou contribui para o fim de alguma coisa. O que cabe como luva no Jair. Em quase quatro anos como PR do Brasil, Jair detonou compostura, respeito a tal liturgia do cargo e mais um penca de coisas no país.
Daí, chefe de Estado que ainda é, cruzou o Atlântico para, como convidado, participar das homenagens póstumas à Rainha da Inglaterra – figura mais representativa da compostura e do respeito ao cargo.
Como o previsto, deu ruim. Jair lambuzou-se todo nas inconveniências. Principalmente, fez campanha política. No país enlutado, fez comício com claque barulhenta. Seu gado, enfurecido, aos costumes, avançou contra jornalistas. Destemidos, mugiram até contra os profissionais da BBC – tradicional e respeitada empresa britânica, pública, de comunicação. Aos berros, disseram aos donos da casa que “não eram bem vindos ali”.
Ribombando, mandaram outros ingleses “pra Venezuela”.
Compostura pura. Respeito máximo – à rainha e a seus súditos, na terra e no velório público da icônica monarca. Com essas deselegâncias todas, pretendiam imagens para bombar a campanha eleitoral, meio micada, do Jair.
Ou seja, no ambiente austero e fúnebre, Jair, armado com sua tropa, chegou-chegando. Primeiro, como definiu um comentarista da Globo News, no modelo boneco de posto, balançando-se alegremente ao vento. Depois, da sacada da residência do embaixador brasileiro, completou a performance, repetindo personagem clássico da comédia brasileira: Odorico Paraguaçu – prefeito da fictícia Sucupira, que fazia um de tudo para inaugurar sua maior obra de governo, um cemitério superfaturado.
Pra quem não conhece, Odorico Paraguaçu é personagem principal de peça teatral e depois de novela do dramaturgo Dias Gomes. Levada ao ar pela TV Globo, em 1973, a novela teve o sugestivo título de O Bem Amado.
Odorico, prefeito corrupto, demagogo e machista, era adorado por seus eleitores. O personagem vivia cercado de falsas beatas e de puxas-sacos. Marcou época e deixou pra história, além da caricatura do político esperto e safado, muitas expressões de um discurso que adverbiava quase tudo e abusava dos duplos sentidos. Tipo:Homem que é homem mata a cobra e mostra pau.
Vamos botar de lado os hora-veja e os pratrazmente e ir pros finalmente.Homem só chora quando come pimenta.Não sou de machismos, nem de reacionarismo. Meu negócio é o democratismo baiano.
Tudo “perfeitamentemente” pronto para dar vigor ao vocabulário jairzístico, né não?
O mote da história de Dias Gomes é a busca de um defunto local pra inaugurar o cemitério. Pra desesperos e destemperos do prefeito, ninguém morre em Sucupira. Ao fim e depois de alopradas infinitas, Odorico, que definia adversários e jornalistas como “vagabundistas” e “cachassistas”, acaba assassinado por um de seus fieis seguidores. E, “finalmentemente”, seu corpo inaugura o cemitério.
Na Inglaterra, a primeira dama, Michele, dizem, vestiu-se inspirada em trajes de Jack Onassis, da atriz Audrey Hepburn e da princesa Kate Middleton – ícones de elegância e do bom gosto.
Jair, que tentava vaga de auxiliar de coveiro, foi de Odorico Paraguaçu. Desempenho perfeito.
PS: Jair e seu gado padecem de doença que a ciência chama de ressentimento social, né não?
Matar em nome de um político é o grau zero na escala da inteligência
Sempre que leio notícias sobre um assassinato com motivações políticas, fico pensando na cabeça do homicida. Não na cabeça dele antes e durante o infame ato. Depois, só depois. Fechado na cela, longe da família, com a vida devidamente destruída, que pensará ele? “O político X mereceu esse meu grande sacrifício pela sua causa?” “Voltaria a fazer o mesmo, dessa vez com redobrado entusiasmo?”
É duvidoso: não estamos em Nuremberg, lidando com altas patentes do Terceiro Reich. Falamos de peixe miúdo, apanhado na rede do ódio que outros lançaram às águas pestilentas da política contemporânea.
Todos podemos matar, é certo. E alguns crimes, por mais condenáveis que sejam, podem ter as suas atenuantes. Como escreveu Albert Camus ao criticar a pena de morte, só a matança a sangue frio é uma degradação irredimível da nossa humanidade.
Mas matar em nome de um político oportunista que está pouco se lixando para o “grande sacrifício” que fazemos por ele é o grau zero na escala da inteligência humana. Podemos perder a vida por delicadeza, para citar o poeta; mas por estupidez?
Quando isso acontece, é impossível não lembrar Georgi Vladimov (1931-2003), esse esquecidíssimo autor ucraniano, nascido em Kharkiv, e que nunca teve o reconhecimento merecido. Nem em vida, nem depois da morte.
É pena. O seu “Faithful Ruslan”, ou "Fiel Ruslan", que li na tradução inglesa, é o mais devastador retrato que conheço sobre o crente político quando é abandonado pelo seu dono.
Estamos na União Soviética de Nikita Kruschev. Os crimes do camarada Stálin já foram denunciados no famoso discurso que Kruschev proferiu no 20º congresso do Partido Comunista. O país conhece uns ares de abertura e 8 milhões de prisioneiros do gulag são libertados.
É nesse ponto que encontramos Ruslan, um cachorro feroz que ajuda a guardar um dos campos siberianos. É através dos seus olhos crédulos, confusos, animalescos que toda a história é contada.
Certo dia, Ruslan acorda e encontra o campo silencioso e coberto de neve. Estranha aquela paz. Não há gritos, não há choros, não há disparos. O que aconteceu?
Sai do barracão e vê os portões abertos. Pensa o óbvio, os prisioneiros fugiram. É hora de os perseguir e despedaçar, sem misericórdia. As páginas em que Ruslan descreve esse processo — a adrenalina da caçada, o êxtase da violência — são de uma proeza literária que dificilmente se esquece.
Mas o seu dono, que é um dos guardas do campo, está estranhamente calmo, quase resignado, como se tudo aquilo fosse normal. Ruslan não entende a passividade.
Com a sua inteligência de cachorro fiel, ele é incapaz de perceber que o seu dono, em rigor, já não é dono de nada. E que ele, Ruslan, só por um vago sentimento de piedade não foi abatido no bosque, como aconteceu com todos os outros cachorros sem préstimo.
Escorraçado do campo prisional, Ruslan está condenado a uma vida de errância, como um vira-lata. O velho sistema que ele serviu já não existe. Mas ele recusa-se a aceitar a mudança, ou seja, a sua própria irrelevância no novo esquema das coisas. Ele ainda tem uma missão: encontrar os fugitivos, servir o dono, servir a causa. É essa obstinação que ditará o seu funesto destino.
Ler “Faithful Ruslan” vacina qualquer um contra os entusiasmos políticos. Porque o romance, obviamente proibido na União Soviética, não se limita a criticar a falsa abertura de Kruschev.
Para aquilo que me interessa, o livro oferece uma lição gélida aos seguidores caninos de qualquer líder oportunista —um cachorro é útil enquanto é útil. Quando seus latidos e sua ferocidade não são mais necessários, o que resta é uma vida de vira-lata.
Depois das próximas eleições no Brasil, milhões de Ruslans vão acordar sem dono. E alguns, os mais lúcidos, vão entender finalmente que o dono já virou a página, procurando uma outra vida, longe daqueles que tão fielmente o serviram.
Esses serão os casos felizes. Os casos infelizes estarão na prisão, fazendo o luto pelas famílias que destroçaram, e perguntando às sombras da madrugada: “Valeu a pena?”.
É duvidoso: não estamos em Nuremberg, lidando com altas patentes do Terceiro Reich. Falamos de peixe miúdo, apanhado na rede do ódio que outros lançaram às águas pestilentas da política contemporânea.
Todos podemos matar, é certo. E alguns crimes, por mais condenáveis que sejam, podem ter as suas atenuantes. Como escreveu Albert Camus ao criticar a pena de morte, só a matança a sangue frio é uma degradação irredimível da nossa humanidade.
Mas matar em nome de um político oportunista que está pouco se lixando para o “grande sacrifício” que fazemos por ele é o grau zero na escala da inteligência humana. Podemos perder a vida por delicadeza, para citar o poeta; mas por estupidez?
Quando isso acontece, é impossível não lembrar Georgi Vladimov (1931-2003), esse esquecidíssimo autor ucraniano, nascido em Kharkiv, e que nunca teve o reconhecimento merecido. Nem em vida, nem depois da morte.
É pena. O seu “Faithful Ruslan”, ou "Fiel Ruslan", que li na tradução inglesa, é o mais devastador retrato que conheço sobre o crente político quando é abandonado pelo seu dono.
Estamos na União Soviética de Nikita Kruschev. Os crimes do camarada Stálin já foram denunciados no famoso discurso que Kruschev proferiu no 20º congresso do Partido Comunista. O país conhece uns ares de abertura e 8 milhões de prisioneiros do gulag são libertados.
É nesse ponto que encontramos Ruslan, um cachorro feroz que ajuda a guardar um dos campos siberianos. É através dos seus olhos crédulos, confusos, animalescos que toda a história é contada.
Certo dia, Ruslan acorda e encontra o campo silencioso e coberto de neve. Estranha aquela paz. Não há gritos, não há choros, não há disparos. O que aconteceu?
Sai do barracão e vê os portões abertos. Pensa o óbvio, os prisioneiros fugiram. É hora de os perseguir e despedaçar, sem misericórdia. As páginas em que Ruslan descreve esse processo — a adrenalina da caçada, o êxtase da violência — são de uma proeza literária que dificilmente se esquece.
Mas o seu dono, que é um dos guardas do campo, está estranhamente calmo, quase resignado, como se tudo aquilo fosse normal. Ruslan não entende a passividade.
Com a sua inteligência de cachorro fiel, ele é incapaz de perceber que o seu dono, em rigor, já não é dono de nada. E que ele, Ruslan, só por um vago sentimento de piedade não foi abatido no bosque, como aconteceu com todos os outros cachorros sem préstimo.
Escorraçado do campo prisional, Ruslan está condenado a uma vida de errância, como um vira-lata. O velho sistema que ele serviu já não existe. Mas ele recusa-se a aceitar a mudança, ou seja, a sua própria irrelevância no novo esquema das coisas. Ele ainda tem uma missão: encontrar os fugitivos, servir o dono, servir a causa. É essa obstinação que ditará o seu funesto destino.
Ler “Faithful Ruslan” vacina qualquer um contra os entusiasmos políticos. Porque o romance, obviamente proibido na União Soviética, não se limita a criticar a falsa abertura de Kruschev.
Para aquilo que me interessa, o livro oferece uma lição gélida aos seguidores caninos de qualquer líder oportunista —um cachorro é útil enquanto é útil. Quando seus latidos e sua ferocidade não são mais necessários, o que resta é uma vida de vira-lata.
Depois das próximas eleições no Brasil, milhões de Ruslans vão acordar sem dono. E alguns, os mais lúcidos, vão entender finalmente que o dono já virou a página, procurando uma outra vida, longe daqueles que tão fielmente o serviram.
Esses serão os casos felizes. Os casos infelizes estarão na prisão, fazendo o luto pelas famílias que destroçaram, e perguntando às sombras da madrugada: “Valeu a pena?”.
O que leva eleitores a votar em Bolsonaro?
Há um fenômeno nesta campanha eleitoral: quando eleitores de Jair Bolsonaro são questionados sobre os motivos de sua escolha, geralmente não lhes ocorre nenhuma resposta plausível.
Ouvem-se com frequência frases como: "ele representa o povo" ou "ele é um patriota". Quando se pergunta o que de concreto Bolsonaro fez pelo povo, obtém-se, na maioria das vezes, o silêncio como resposta. São comuns respostas como: "ele construiu estradas e levou água para o Nordeste". Outros dizem que ele acabou com a corrupção – porém, quando se menciona o escândalo dos pastores no Ministério da Educação ou a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, às vezes admitem que talvez possa ter havido corrupção.
Alguns também admitem não saber o que Bolsonaro fez pelo Brasil, mas que isso não importa. Eles votariam em Bolsonaro de qualquer jeito, ele seria o "mito", aquele que representa o Brasil e que acredita em Deus.
Deus é uma resposta frequente para a pergunta sobre a motivação para votar no presidente. Durante um evento eleitoral no 7 de Setembro em Copacabana, um casal de Nova Iguaçu afirmou que Bolsonaro representa os valores cristãos que eles também defendem. Quais seriam esses valores? A primeira resposta é "a família": homem, mulher e filhos. A família, porém, não é um valor cristão. Valores cristãos são fé, amor, esperança, misericórdia, justiça, amor ao próximo. Família, ao contrário, é um ideal conservador que se vende como cristão.
De eleitores de Bolsonaro ouve-se também frequentemente que ele é o único que pode derrotar Lula – o ladrão que quase arruinou o Brasil. Não é um argumento para Bolsonaro, mas contra Lula. Como o esperado, há também muitas fake news, por exemplo, de que Lula quer instaurar o comunismo, fechar igrejas ou que a "ideologia de gênero" seja ensinada nas escolas.
Para resumir, não se ouvem respostas convincentes sobre as razões de votar em Bolsonaro. Com os outros candidatos é diferente. Quem vota no Lula muitas vezes cita motivos pessoais, por exemplo, a influência positiva de políticas sociais em sua própria vida ou o fato de que pela primeira vez alguém da família pôde ir para a universidade. Motivos políticos também são citados, como o desejo de mais direitos para trabalhadores informais. Quem vota no Ciro Gomes argumenta sobre a terceira via, que quer acabar com a polarização. Ciro representa uma política fiscal e econômica sensata e equilibrada. Quem defende Simone Tebet usa argumentos parecidos, mas espera uma política econômica mais liberal.
Pode-se, portanto, constatar que os eleitores de Bolsonaro tomam uma decisão mais emocional que racional. Muitos brasileiros se identificam com o que ele representa – como o anticomunismo, o machismo ou a loucura por armas. O agronegócio, que nunca cresceu tanto e recebeu créditos tão baratos como no governo Lula, gosta da hostilidade de Bolsonaro ao MST e aos indígenas.
Bolsonaro conseguiu uma façanha. Ele transmitiu à sua base a impressão de que as instituições, a imprensa e a elite intelectual não falam mais a verdade. E de que ele, ao contrário, se atreve a proferir a verdade – rude, mas autêntico e sem floreios. A imagem do agente simples e franco a serviço do Brasil, excluído do establishment, é com certeza um dos motivos para a popularidade de Bolsonaro. Mas não é um bom motivo.
Pois, com demasiada frequência, eleitores votam contra os próprios interesses. Os republicanos nos Estados Unidos mostraram como conquistar eleitores brancos e pobres dos estados sulistas, que antes votavam nos democratas, com temas que mexem com as emoções, como aborto e casamento gay. Esses eleitores deixaram, de repente, de votar no partido que prometia melhorar sua situação econômica e passaram a votar no partido antiaborto. Bolsonaro também obteve sucesso com uma manobra semelhante, especialmente entre os evangélicos, que muitas vezes pertencem às camadas mais pobres da população. Ele costurou seu sucesso com conceitos emocionais, como Deus, nação, família e liberdade. São as palavras que ele repete em todos os eventos de campanha – enquanto evita conteúdos políticos concretos, possivelmente porque estes não existem.
Assim como o trumpismo, o bolsonarismo é um movimento sustentado pelo sentimento de que algo não está certo, de que a sociedade perdeu as estribeiras. Sua inquietação se volta contra mudanças sexuais, a ascensão dos pobres, a educação "muito liberal" ou a suposta "ameaça socialista". Em 2018, Bolsonaro conseguiu unir esses ressentimentos quando o Brasil se encontrava numa crise profunda. Tempos de crise são bons momentos para extremistas, e Bolsonaro agarrou essa oportunidade.
Mas agora a receita não parece funcionar mais. Um chefe de Estado precisa oferecer mais do que palavras emocionais, mas vazias.
No final, é exatamente como Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, disse há alguns dias: "O bolsonarismo é uma farsa (...) que usa religião para enganar."
Ouvem-se com frequência frases como: "ele representa o povo" ou "ele é um patriota". Quando se pergunta o que de concreto Bolsonaro fez pelo povo, obtém-se, na maioria das vezes, o silêncio como resposta. São comuns respostas como: "ele construiu estradas e levou água para o Nordeste". Outros dizem que ele acabou com a corrupção – porém, quando se menciona o escândalo dos pastores no Ministério da Educação ou a compra de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, às vezes admitem que talvez possa ter havido corrupção.
Alguns também admitem não saber o que Bolsonaro fez pelo Brasil, mas que isso não importa. Eles votariam em Bolsonaro de qualquer jeito, ele seria o "mito", aquele que representa o Brasil e que acredita em Deus.
Deus é uma resposta frequente para a pergunta sobre a motivação para votar no presidente. Durante um evento eleitoral no 7 de Setembro em Copacabana, um casal de Nova Iguaçu afirmou que Bolsonaro representa os valores cristãos que eles também defendem. Quais seriam esses valores? A primeira resposta é "a família": homem, mulher e filhos. A família, porém, não é um valor cristão. Valores cristãos são fé, amor, esperança, misericórdia, justiça, amor ao próximo. Família, ao contrário, é um ideal conservador que se vende como cristão.
De eleitores de Bolsonaro ouve-se também frequentemente que ele é o único que pode derrotar Lula – o ladrão que quase arruinou o Brasil. Não é um argumento para Bolsonaro, mas contra Lula. Como o esperado, há também muitas fake news, por exemplo, de que Lula quer instaurar o comunismo, fechar igrejas ou que a "ideologia de gênero" seja ensinada nas escolas.
Para resumir, não se ouvem respostas convincentes sobre as razões de votar em Bolsonaro. Com os outros candidatos é diferente. Quem vota no Lula muitas vezes cita motivos pessoais, por exemplo, a influência positiva de políticas sociais em sua própria vida ou o fato de que pela primeira vez alguém da família pôde ir para a universidade. Motivos políticos também são citados, como o desejo de mais direitos para trabalhadores informais. Quem vota no Ciro Gomes argumenta sobre a terceira via, que quer acabar com a polarização. Ciro representa uma política fiscal e econômica sensata e equilibrada. Quem defende Simone Tebet usa argumentos parecidos, mas espera uma política econômica mais liberal.
Pode-se, portanto, constatar que os eleitores de Bolsonaro tomam uma decisão mais emocional que racional. Muitos brasileiros se identificam com o que ele representa – como o anticomunismo, o machismo ou a loucura por armas. O agronegócio, que nunca cresceu tanto e recebeu créditos tão baratos como no governo Lula, gosta da hostilidade de Bolsonaro ao MST e aos indígenas.
Bolsonaro conseguiu uma façanha. Ele transmitiu à sua base a impressão de que as instituições, a imprensa e a elite intelectual não falam mais a verdade. E de que ele, ao contrário, se atreve a proferir a verdade – rude, mas autêntico e sem floreios. A imagem do agente simples e franco a serviço do Brasil, excluído do establishment, é com certeza um dos motivos para a popularidade de Bolsonaro. Mas não é um bom motivo.
Pois, com demasiada frequência, eleitores votam contra os próprios interesses. Os republicanos nos Estados Unidos mostraram como conquistar eleitores brancos e pobres dos estados sulistas, que antes votavam nos democratas, com temas que mexem com as emoções, como aborto e casamento gay. Esses eleitores deixaram, de repente, de votar no partido que prometia melhorar sua situação econômica e passaram a votar no partido antiaborto. Bolsonaro também obteve sucesso com uma manobra semelhante, especialmente entre os evangélicos, que muitas vezes pertencem às camadas mais pobres da população. Ele costurou seu sucesso com conceitos emocionais, como Deus, nação, família e liberdade. São as palavras que ele repete em todos os eventos de campanha – enquanto evita conteúdos políticos concretos, possivelmente porque estes não existem.
Assim como o trumpismo, o bolsonarismo é um movimento sustentado pelo sentimento de que algo não está certo, de que a sociedade perdeu as estribeiras. Sua inquietação se volta contra mudanças sexuais, a ascensão dos pobres, a educação "muito liberal" ou a suposta "ameaça socialista". Em 2018, Bolsonaro conseguiu unir esses ressentimentos quando o Brasil se encontrava numa crise profunda. Tempos de crise são bons momentos para extremistas, e Bolsonaro agarrou essa oportunidade.
Mas agora a receita não parece funcionar mais. Um chefe de Estado precisa oferecer mais do que palavras emocionais, mas vazias.
No final, é exatamente como Abraham Weintraub, ex-ministro da Educação de Bolsonaro, disse há alguns dias: "O bolsonarismo é uma farsa (...) que usa religião para enganar."
Assinar:
Comentários (Atom)