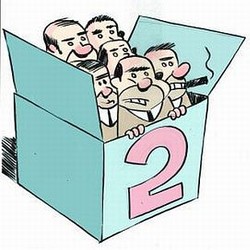Isso tem um lado bom e um lado ruim.
O lado ruim é que não ha muito que possa ser feito para evitar todo o sofrimento ainda por ser sofrido apenas com as ferramentas de gestão da economia. Temos, agora, profissionais cuidando do assunto e estamos livres da firme opção pelo suicidio do passado recente mas o “trem bala” para o crescimento em que nos recusamos a embarcar nestes 13 anos de opção preferencial pela burrice não está mais voando nos trilhos. A computação devora empregos; os monopólios universais arreganham dentes que os nacionais nunca tiveram; a insegurança geral embala a “disrrupção” universal do bom senso e já nem os Estados Unidos ou a Inglaterra escusam de surfar a onda protecionista que vem vindo.
O mundo politicamente evoluído, pequenininho, dissolve-se incontrolavelmente, em dores, na imensidão do outro.
O lado bom é que, tendo este Brasil onde todos os lados ainda “defendem instituições” usando a primeira pessoa do singular permanecido inteiramente fora da evolução da política nos séculos 19 e 20, temos muito espaço para avançar mesmo com um mundo em crise.
Democracia e o seu corolário mais cobiçado, o resgate de sociedades inteiras da miséria, são processos ecológicos. A versão “ponto3” (depois de Atenas e de Roma) dessa bela invenção que o Brasil ainda haverá de experimentar um dia é construida em etapas sucessivas de desenvolvimento. É engendrada no momento em que a Magna Carta de 1215 faz saber ao rei de Inglaterra que toda a riqueza que o reino produz não é mais só de sua majestade restando ao povo suplicar-lhe por migalhas mas, daquela data em diante, exatamente o contrário. Vê a luz 450 anos depois quando o rei empobrecido, depois de ceder quase todo o poder ao Parlamento, distribui a propriedade da terra da “sua” América em pleno feudalismo para conseguir financiar sua colonização e abre, com a democratização do acesso à propriedade, a possibilidade prática do império de uma só lei igual para todos. Consolida-se, no seu apogeu, com as reformas da “Progressive Era” (1890-1920) de uns Estados Unidos ainda jovens quando, diante da corrupção galopante decorrente da associação do Estado com o “big business” nascente, os americanos reconhecem oficialmente que o homem exerce a sua liberdade sobretudo na sua dimensão econômica e que, portanto, é imperativo assegurar as condições mínimas para que ela continue sendo possível. O trabalho e não os relacionamentos políticos devem ser o fator decisivo de sucesso nos negócios. A inovação deve ser o unico fator legitimo de obtenção de vantagens competitivas. Garantir a sobrevivência de um bom numero de patrões e fornecedores disputando consumidores e trabalhadores deve ser o único fator de limitação da livre concorrência e o único objeto admitido das interferências do Estado na economia.
A tudo isso chegou-se não por qualquer tipo de deliberação romântica mas pela razão muito prática de que a História já tinha provado suficientemente que qualquer outro expediente que não tratasse de suprimir radicalmente de cena o “presunto” que o Estado serve e “moscas” como nós somos evolutivamente especializadas em farejar conduz direta e inevitavelmente à corrupção. Sob a luz desse mesmo pragmatismo, a “legislação antitruste” de prevenção à concentração da propriedade deu forma ao novo padrão de democracia e os direitos de “iniciativa” e “referendo” legislativo garantidos pela prerrogativa do “recall” a qualquer momento dos mandatos condicionalmente atribuidos pelos eleitores aos seus representantes puseram o povo efetivamente no poder e em condições de impor o respeito à nova ordem. E a prosperidade, de mãos dadas com a ciência, pode finalmente triunfar.
É desse ultimo patamar do “capitalismo democrático” com seu formidavel poder de exorcizar a ignorância e a miséria que os poucos países que chegaram a usufruir dele estão sendo constrangidos a recuar pela diluição das fronteiras nacionais e o esvaziamento do poder também da versão benigna do Estado de fazer valer legislações específicas. Mas mesmo que seja somente até à etapa anterior – a da estrita igualdade perante a lei, inclusive e principalmente para os agentes do Estado – este Brasil dos privilégios automaticamente legalizados desde que simplesmente “adquiridos” um dia tem muito que andar.
O que ha de importante na sequência de eventos históricos acima descritos é a ordem dos fatores. Os asiáticos, que têm conseguido “viradas” nada menos que miraculosas da selvageria política e da miséria para o império da lei e a abundância em menos de uma geração, estão aí para provar que, desde que nos disponhamos finalmente a percorrer esta que é hoje uma velha estrada batida, podemos produzir o mesmo milagre em bem menos tempo que os 800 anos tomados aos desbravadores ingleses.
Ultrapassados os limites que ultrapassamos não ha mais “meias-solas” possíveis. Não haverá remissão sem a eliminação do privilégio legalizado que impede o país de respirar. E quanto mais demorar para essa questão ser encarada de frente menos fôlego restará para repor em pé uma economia exaurida. O necessário tratamento aos agentes coadjuvantes da miséria do Brasil – os “empresários” a que os donos das chaves dos cofres públicos recorrem para desviar dinheiro para fora do sistema – está em curso. Mas não basta. É preciso atacar o desvio sistemático e legalizado da riqueza nacional impondo aos agentes do Estado a mesma lei – penal, salarial, tributária, de direitos, de deveres, de segurança e de insegurança no trabalho, de aposentadorias e de pensões – que já vale para todos os outros brasileiros e demais habitantes do mundo real.