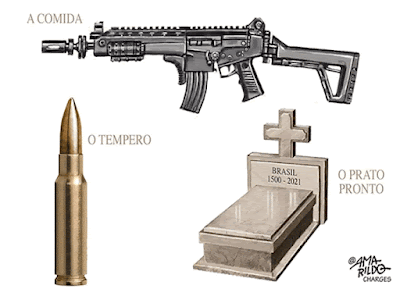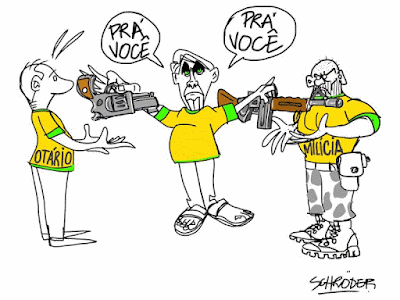terça-feira, 31 de agosto de 2021
Bolsonaro treina para o autogolpe
Eu preferia falar do coxão do Lula, dos discursos promissores. Tentador imaginar o que a vida nos reserva para além de janeiro de 2023. Mas como ignorar o abismo de doença, fome, miséria, desemprego e inflação em que Bolsonaro, Paulo Guedes e sua turma mergulharam o Brasil?
No linguajar ordinário de Bolsonaro, somos todos idiotas. Idiotas os que preferem comprar feijão a fuzil. Os que ficam em casa na pandemia, chancelam o voto eletrônico, protestam contra o negacionismo. Claramente, o genocida incita a turba. Empenha-se no confronto.
Expulso do Exército, o capitão desafia as Forças Armadas, ao convocar seguidores para o 7 de Setembro. Toca o chifre (assim é conhecido o berrante), instiga o gado, intima crentes de pastores sórdidos, atiça policiais militares, causando apreensão entre os governadores.
Num dia em que o país assistiu perplexo aos ataques de bandidos fortemente armados a bancos em Araçatuba, interior de São Paulo, aterrorizando a população, fazendo reféns amarrados aos carros, espalhando bombas pela cidade, assassinando dois jovens moradores, a intimação de Bolsonaro a seus adeptos, para manifestação em beneficio próprio, soou ainda mais leviana.
O risco é grande. Bolsonaro vai reunir milhões de enfurecidos Brasil afora no Dia da Independência. Dois milhões? Quatro milhões? Pastores espalham o ato em favor de Bolsonaro pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp. Evento da Igreja Universal juntou, de uma só vez, em 2010, 3 milhões de pessoas em São Paulo e no Rio.
Bolsonaro inflama seguidores, põe combustível na fogueira do ódio e da intimidação. É da sua índole. Quer encolerizar a multidão contra os que não rezam na sua cartilha. Está atormentado pelas pesquisas eleitorais. Lula ganharia em todos os cenários. O povaréu que vai aplaudi-lo não o fará mais forte.
Mais de 70% dos eleitores não votariam em Bolsonaro em 2022. E os “idiotas” não cairão na armadilha do Dia da Independência. Por tudo que representa – ignorância, crueldade, tosquice -, se não houver impeachment, com tantos descalabros nesse governo, sua hora está chegando: 31/1/2022. Não haverá mais cercadinho no Alvorada para emporcalhar a história.
conteudo patrocinado
Sua derrota, capitão, será retumbante.
PS: Viva a diversidade. Alana, Thalita, Julyana, Lúcia, Cátia, Ana Karolina, Débora… Daniel, Gabriel, Felipe, Rene … É sucesso o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio-2020. Estamos na sexta posição, entre 139 países, com 35 medalhas, 12 de ouro. Emociona a dedicação dos nossos atletas. Disputamos 20 dos 22 esportes do programa paralímpico. Enquanto isso, por aqui, um ser ignóbil ocupa o cargo de ministro da educação (assim mesmo, em letras minúsculas) e diz que crianças especiais “atrapalham” nas salas de aula. Sabe o que atrapalha, ministro? Sua ignorância, sua podridão intelectual. Fora, Milton Ribeiro!
No linguajar ordinário de Bolsonaro, somos todos idiotas. Idiotas os que preferem comprar feijão a fuzil. Os que ficam em casa na pandemia, chancelam o voto eletrônico, protestam contra o negacionismo. Claramente, o genocida incita a turba. Empenha-se no confronto.
Expulso do Exército, o capitão desafia as Forças Armadas, ao convocar seguidores para o 7 de Setembro. Toca o chifre (assim é conhecido o berrante), instiga o gado, intima crentes de pastores sórdidos, atiça policiais militares, causando apreensão entre os governadores.
Num dia em que o país assistiu perplexo aos ataques de bandidos fortemente armados a bancos em Araçatuba, interior de São Paulo, aterrorizando a população, fazendo reféns amarrados aos carros, espalhando bombas pela cidade, assassinando dois jovens moradores, a intimação de Bolsonaro a seus adeptos, para manifestação em beneficio próprio, soou ainda mais leviana.
O risco é grande. Bolsonaro vai reunir milhões de enfurecidos Brasil afora no Dia da Independência. Dois milhões? Quatro milhões? Pastores espalham o ato em favor de Bolsonaro pelas redes sociais e por grupos de WhatsApp. Evento da Igreja Universal juntou, de uma só vez, em 2010, 3 milhões de pessoas em São Paulo e no Rio.
Bolsonaro inflama seguidores, põe combustível na fogueira do ódio e da intimidação. É da sua índole. Quer encolerizar a multidão contra os que não rezam na sua cartilha. Está atormentado pelas pesquisas eleitorais. Lula ganharia em todos os cenários. O povaréu que vai aplaudi-lo não o fará mais forte.
Mais de 70% dos eleitores não votariam em Bolsonaro em 2022. E os “idiotas” não cairão na armadilha do Dia da Independência. Por tudo que representa – ignorância, crueldade, tosquice -, se não houver impeachment, com tantos descalabros nesse governo, sua hora está chegando: 31/1/2022. Não haverá mais cercadinho no Alvorada para emporcalhar a história.
conteudo patrocinado
Sua derrota, capitão, será retumbante.
PS: Viva a diversidade. Alana, Thalita, Julyana, Lúcia, Cátia, Ana Karolina, Débora… Daniel, Gabriel, Felipe, Rene … É sucesso o Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio-2020. Estamos na sexta posição, entre 139 países, com 35 medalhas, 12 de ouro. Emociona a dedicação dos nossos atletas. Disputamos 20 dos 22 esportes do programa paralímpico. Enquanto isso, por aqui, um ser ignóbil ocupa o cargo de ministro da educação (assim mesmo, em letras minúsculas) e diz que crianças especiais “atrapalham” nas salas de aula. Sabe o que atrapalha, ministro? Sua ignorância, sua podridão intelectual. Fora, Milton Ribeiro!
Golpe pra quê?
O mundo está cada vez mais complicado. A partir da guinada econômica de Deng Xiaoping na China nos anos 1970 e da queda do Muro de Berlim em 1989, parecíamos caminhar para um futuro de paz e prosperidade. E, de fato, houve muito progresso material e social, sem grandes guerras ou acidentes.
Mas não durou muito. Na virada do século veio um primeiro alerta, pelas mãos do terrorismo de origem religiosa, que mostrou sua força derrubando as Torres Gêmeas, episódio que completa 20 anos nos próximos dias.
Em outra frente, a mudança climática aponta para um desastre global de enormes proporções. Em que pese a solidez da base científica do diagnóstico, as respostas até agora parecem modestas.
Li recentemente que o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg considera um absurdo as metas chinesas de emissões de carbono mirarem em 2050. Ele tem toda razão. É muito longe. Ainda no front de nossa relação com a natureza, vivemos hoje uma catastrófica pandemia, que ameaça se transformar em endemia, também a despeito dos esplêndidos avanços da ciência.
Esses e outros desafios, como a estagnação do comércio internacional, as crescentes ameaças cibernéticas e a guerra modelo século 21 entre China e Estados Unidos, sugerem que a governança global do planeta anda mal.
Chama a atenção a guinada interna em andamento na China de Xi Jinping. O que parecia ser uma suave transição a um regime mais aberto passou a ser hoje uma grande reafirmação da ditadura do Partido Comunista, que visa se perpetuar no poder. Destacam-se a perenização de seu líder, a onipresença de seus membros nos conselhos das principais empresas, o amplo acesso a cada passo da vida das pessoas —enfim, um grande e repressivo mecanismo, fonte de incerteza.
Em outras partes, proliferam cada vez mais regimes políticos autoritários e populistas, turbinados pelo uso competente das redes sociais, que favorecem esse tipo de liderança. O custo da transmissão massiva de informações é hoje relativamente baixo e permite a ampla difusão de todo tipo de fake news, que criam uma enganosa “realidade” paralela.
Vivemos hoje no Brasil uma situação com essas características. No início, o atual governo parecia ter adotado “apenas” uma versão da estratégia desenvolvida por Steve Bannon para Trump: atacar as defesas da democracia.
O tema é objeto de Jonathan Rauch em seu brilhante e recém-lançado livro “The Constitution of Knowledge”, ainda não traduzido, que estende artigo de mesmo nome publicado há três anos.
Rauch usa o termo “constituição” no sentido de carta de princípios — no caso, de defesa do conhecimento, motor fundamental do progresso e antídoto contra as fake news. Ele defende ampla liberdade de expressão, acompanhada de um sistema livre, independente e rigoroso de crítica às ideias que são apresentadas, especialmente as que embasam decisões públicas.
O sistema de defesa é composto pela academia, pela imprensa e, cada vez mais, pelo terceiro setor, todos atuando a partir de filtros rigorosos de apuração, de informação e de análise. Inclui também o mundo artístico e cultural, que de forma lúdica representa anseios de liberdade e mais igualdade. Seria como um enorme funil por onde entram livremente muitas ideias, mas relativamente poucas sobrevivem à crítica e aos valores da sociedade.
No Brasil de hoje, o descaso com as consequências da pandemia e do desmatamento da Amazônia vem sendo objeto de resposta vigorosa da sociedade, felizmente. Os efeitos desse esforço ainda não se fizeram sentir, mas boas sementes estão sendo plantadas.
No entanto, e infelizmente, os ataques do governo têm ido além da agenda Bannon. Hoje está em risco o sistema de pesos e contrapesos, que é parte fundamental de nossa democracia.
Acusações ocas e ameaças aos demais Poderes têm sido frequentes, sobretudo ao Judiciário, e em especial à higidez do sistema eleitoral. Não parece ser o caso hoje ainda, mas mais adiante a relação com o Legislativo pode azedar também, como ocorreu recentemente.
Um fator adicional de tensão advém da postura do presidente com relação a armamentos e a quem os porta. A noção de armar o povo para defender a liberdade não faz sentido algum, mas vem sendo repetida. Tampouco faz sentido qualquer tolerância com a existência de grupos informais armados operando à margem da lei.
Desde o início de seu mandato o presidente vem dando especial atenção às Forças Armadas e às polícias militares. Militares (inclusive da ativa) ocupam inúmeros postos-chave na administração pública, o que começa a comprometer a imagem das Forças Armadas.
Esse quadro geral é extremamente prejudicial à economia. Em tese, não faltam oportunidades de investimento ao Brasil, da infraestrutura à educação e à saúde. Mas a incerteza encurta os horizontes e inibe o investimento.
Não seria surpresa se pipocassem mais e mais focos de tensão, como se viu semana passada na Polícia Militar de São Paulo. Não é impossível imaginar cenários de violência à democracia.
Na medida em que as defesas da democracia se mostrem eficazes, aumentará a pressão sobre o governo atual, que vem fazendo água nas pesquisas. O presidente parece disposto a dobrar a aposta, pelo visto contando com o apoio de uma minoria agressiva.
No entanto, tenho convicção de que as lideranças das Forças Armadas e (espero) das polícias, além de defenderem a Constituição, entendem que estariam apoiando um projeto de desconstrução da nação.
Mas não durou muito. Na virada do século veio um primeiro alerta, pelas mãos do terrorismo de origem religiosa, que mostrou sua força derrubando as Torres Gêmeas, episódio que completa 20 anos nos próximos dias.
Em outra frente, a mudança climática aponta para um desastre global de enormes proporções. Em que pese a solidez da base científica do diagnóstico, as respostas até agora parecem modestas.
Li recentemente que o ex-prefeito de Nova York Michael Bloomberg considera um absurdo as metas chinesas de emissões de carbono mirarem em 2050. Ele tem toda razão. É muito longe. Ainda no front de nossa relação com a natureza, vivemos hoje uma catastrófica pandemia, que ameaça se transformar em endemia, também a despeito dos esplêndidos avanços da ciência.
Esses e outros desafios, como a estagnação do comércio internacional, as crescentes ameaças cibernéticas e a guerra modelo século 21 entre China e Estados Unidos, sugerem que a governança global do planeta anda mal.
Chama a atenção a guinada interna em andamento na China de Xi Jinping. O que parecia ser uma suave transição a um regime mais aberto passou a ser hoje uma grande reafirmação da ditadura do Partido Comunista, que visa se perpetuar no poder. Destacam-se a perenização de seu líder, a onipresença de seus membros nos conselhos das principais empresas, o amplo acesso a cada passo da vida das pessoas —enfim, um grande e repressivo mecanismo, fonte de incerteza.
Em outras partes, proliferam cada vez mais regimes políticos autoritários e populistas, turbinados pelo uso competente das redes sociais, que favorecem esse tipo de liderança. O custo da transmissão massiva de informações é hoje relativamente baixo e permite a ampla difusão de todo tipo de fake news, que criam uma enganosa “realidade” paralela.
Vivemos hoje no Brasil uma situação com essas características. No início, o atual governo parecia ter adotado “apenas” uma versão da estratégia desenvolvida por Steve Bannon para Trump: atacar as defesas da democracia.
O tema é objeto de Jonathan Rauch em seu brilhante e recém-lançado livro “The Constitution of Knowledge”, ainda não traduzido, que estende artigo de mesmo nome publicado há três anos.
Rauch usa o termo “constituição” no sentido de carta de princípios — no caso, de defesa do conhecimento, motor fundamental do progresso e antídoto contra as fake news. Ele defende ampla liberdade de expressão, acompanhada de um sistema livre, independente e rigoroso de crítica às ideias que são apresentadas, especialmente as que embasam decisões públicas.
O sistema de defesa é composto pela academia, pela imprensa e, cada vez mais, pelo terceiro setor, todos atuando a partir de filtros rigorosos de apuração, de informação e de análise. Inclui também o mundo artístico e cultural, que de forma lúdica representa anseios de liberdade e mais igualdade. Seria como um enorme funil por onde entram livremente muitas ideias, mas relativamente poucas sobrevivem à crítica e aos valores da sociedade.
No Brasil de hoje, o descaso com as consequências da pandemia e do desmatamento da Amazônia vem sendo objeto de resposta vigorosa da sociedade, felizmente. Os efeitos desse esforço ainda não se fizeram sentir, mas boas sementes estão sendo plantadas.
No entanto, e infelizmente, os ataques do governo têm ido além da agenda Bannon. Hoje está em risco o sistema de pesos e contrapesos, que é parte fundamental de nossa democracia.
Acusações ocas e ameaças aos demais Poderes têm sido frequentes, sobretudo ao Judiciário, e em especial à higidez do sistema eleitoral. Não parece ser o caso hoje ainda, mas mais adiante a relação com o Legislativo pode azedar também, como ocorreu recentemente.
Um fator adicional de tensão advém da postura do presidente com relação a armamentos e a quem os porta. A noção de armar o povo para defender a liberdade não faz sentido algum, mas vem sendo repetida. Tampouco faz sentido qualquer tolerância com a existência de grupos informais armados operando à margem da lei.
Desde o início de seu mandato o presidente vem dando especial atenção às Forças Armadas e às polícias militares. Militares (inclusive da ativa) ocupam inúmeros postos-chave na administração pública, o que começa a comprometer a imagem das Forças Armadas.
Esse quadro geral é extremamente prejudicial à economia. Em tese, não faltam oportunidades de investimento ao Brasil, da infraestrutura à educação e à saúde. Mas a incerteza encurta os horizontes e inibe o investimento.
Não seria surpresa se pipocassem mais e mais focos de tensão, como se viu semana passada na Polícia Militar de São Paulo. Não é impossível imaginar cenários de violência à democracia.
Na medida em que as defesas da democracia se mostrem eficazes, aumentará a pressão sobre o governo atual, que vem fazendo água nas pesquisas. O presidente parece disposto a dobrar a aposta, pelo visto contando com o apoio de uma minoria agressiva.
No entanto, tenho convicção de que as lideranças das Forças Armadas e (espero) das polícias, além de defenderem a Constituição, entendem que estariam apoiando um projeto de desconstrução da nação.
O bicentenário
Ao resenhar a obra do historiador José Honório Rodrigues, Conciliação e reforma no Brasil (Senac), de 1965, o embaixador Alberto Costa e Silva destacou que a chave para entender a história do Brasil é a conciliação: “Entre os que se foram tornando o povo brasileiro — os índios convertidos e os selvagens; os negros escravos, libertos, africanos e crioulos; os brancos reinóis e os mazombos; os mamelucos; os mulatos e os cafuzos; tão diversos entre si, tantas vezes conflitantes e, na aparência, irredutíveis —, venceram os conciliadores sobre a violência dos intransigentes”.
Pelourinhos, quilombos, motins, revoltas, repressões sangrentas, fuzilamentos, enforcamentos, esquartejamentos, guerras e mais guerras, desde a Independência, foram 200 anos sangrentos, mas prevaleceu a unidade nacional e a conciliação no seio do povo, à qual devemos “o fato de ter o Brasil, desde cedo, deixado de ser uma caricatura de Portugal nos trópicos” e possuir um substrato novo, “apesar do europeísmo e lusitanismo vitorioso e dominante na aparência das formas sociais”, como destacou Honório Rodrigues.
Não haveria futuro com recusa ao diálogo, desrespeito aos opositores, intolerância mútua e intransigência. Muito mais do que às elites, ao povo se deve a integridade territorial; a unidade linguística; a mestiçagem; a tolerância racial, cultural e religiosa; e as acomodações que acentuaram e dissolveram muitos dos antagonismos grupais e fizeram dos brasileiros um só povo que, como se reconhece e autoestima, delas também recebeu as melhores lições de rebeldia contra uma ordem social injusta e estagnada, avalia.
Hoje, o Brasil vive um cenário de incertezas, tendo como falso deadline o próximo 7 de Setembro, no qual o presidente Jair Bolsonaro promete armar um grande barraco político, em manifestações convocadas para a Avenida Paulista, em São Paulo, e a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, enquanto as Forças Armadas se recolherão às cerimônias de quartel, à margem da política, sem os populares. desfiles militares. A contagem regressiva para o bicentenário da Independência começa numa encruzilha do seu destino: não temos um projeto de futuro nem consensos sobre o presente.
Não será um ano fácil. Num país com rumo, o presidente da República anunciaria grandes comemorações, uma proposta de desenvolvimento e a convocação de um debate nacional sobre os próximos 100 anos, envolvendo toda a sociedade. O objetivo seria nos tornarmos um país desenvolvido (ou quase) pelo esforço continuado de quatro gerações. Entretanto o que estamos vendo é a desesperança na sociedade e o desejo de volta ao passado, de uma minoria reacionária e extremista, saudosista do sesquicentenário, comemorado durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici.
Naquela época, em plena ditadura, o ponto alto das comemorações foi o seu encerramento, na colina do Ipiranga, em São Paulo, local onde foi proclamada a Independência, em 1822, e onde ocorreria a inumação dos despojos mortais de D. Pedro I, ao lado da imperatriz Leopoldina, após peregrinação por todo o país. Um tour de necropolítica, à sombra da censura prévia e da suspensão do habeas corpus. Os órgãos de segurança do regime sequestravam, torturavam e desapareciam com oposicionistas.
Com certeza, haverá muita discussão sobre o que aconteceu nestes 200 anos e o que devemos projetar para o futuro, na academia e nos partidos, como o MDB, o PSDB, o DEM e o Cidadania, cujas fundações anunciam a realização de uma série de debates programáticos, com objetivo de repensar a realidade brasileira no contexto da globalização, a partir da segunda semana de setembro. O primeiro será em 15 de setembro, sobre a atual crise institucional e a democracia, tendo como conferencista o ex-presidente do Supremo Nelson Jobim e os ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer como debatedores, com a participação dos presidentes dos respectivos partidos: o deputado Baleia Rossi (MDB-SP); o presidente nacional do PSDB, Bruno Araujo; o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM); e o ex-deputado Roberto Freire (Cidadania).
Segundo o ex-governador Moreira Franco, mediador do debate e um dos curadores do evento, o objetivo é discutir um novo rumo para o país, em bases democráticas, modernas e inclusivas, antes de pensar em candidatura única, analisar uma nova agenda do país. O evento reunirá gente que pensa com Pê maiúsculo: Roberto Brant, Zeina Latif, José Roberto Afonso, Bernard Appy, Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques, Cristovam Buarque, Raul Jungmann, Murilo Cavalcanti, Sérgio Besserman Vianna, Rubens Ricupero e José Carlos Carvalho, Milton Seligman, Gabriela Cruz Lima, Ivanir dos Santos, Luiz Antônio Santini, André Médice, Januário M Januário Montoni, Marta Suplicy e Luiz Roberto Mott, entre outros.
Pelourinhos, quilombos, motins, revoltas, repressões sangrentas, fuzilamentos, enforcamentos, esquartejamentos, guerras e mais guerras, desde a Independência, foram 200 anos sangrentos, mas prevaleceu a unidade nacional e a conciliação no seio do povo, à qual devemos “o fato de ter o Brasil, desde cedo, deixado de ser uma caricatura de Portugal nos trópicos” e possuir um substrato novo, “apesar do europeísmo e lusitanismo vitorioso e dominante na aparência das formas sociais”, como destacou Honório Rodrigues.
Não haveria futuro com recusa ao diálogo, desrespeito aos opositores, intolerância mútua e intransigência. Muito mais do que às elites, ao povo se deve a integridade territorial; a unidade linguística; a mestiçagem; a tolerância racial, cultural e religiosa; e as acomodações que acentuaram e dissolveram muitos dos antagonismos grupais e fizeram dos brasileiros um só povo que, como se reconhece e autoestima, delas também recebeu as melhores lições de rebeldia contra uma ordem social injusta e estagnada, avalia.
Hoje, o Brasil vive um cenário de incertezas, tendo como falso deadline o próximo 7 de Setembro, no qual o presidente Jair Bolsonaro promete armar um grande barraco político, em manifestações convocadas para a Avenida Paulista, em São Paulo, e a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, enquanto as Forças Armadas se recolherão às cerimônias de quartel, à margem da política, sem os populares. desfiles militares. A contagem regressiva para o bicentenário da Independência começa numa encruzilha do seu destino: não temos um projeto de futuro nem consensos sobre o presente.
Não será um ano fácil. Num país com rumo, o presidente da República anunciaria grandes comemorações, uma proposta de desenvolvimento e a convocação de um debate nacional sobre os próximos 100 anos, envolvendo toda a sociedade. O objetivo seria nos tornarmos um país desenvolvido (ou quase) pelo esforço continuado de quatro gerações. Entretanto o que estamos vendo é a desesperança na sociedade e o desejo de volta ao passado, de uma minoria reacionária e extremista, saudosista do sesquicentenário, comemorado durante o governo do general Emílio Garrastazu Médici.
Naquela época, em plena ditadura, o ponto alto das comemorações foi o seu encerramento, na colina do Ipiranga, em São Paulo, local onde foi proclamada a Independência, em 1822, e onde ocorreria a inumação dos despojos mortais de D. Pedro I, ao lado da imperatriz Leopoldina, após peregrinação por todo o país. Um tour de necropolítica, à sombra da censura prévia e da suspensão do habeas corpus. Os órgãos de segurança do regime sequestravam, torturavam e desapareciam com oposicionistas.
Com certeza, haverá muita discussão sobre o que aconteceu nestes 200 anos e o que devemos projetar para o futuro, na academia e nos partidos, como o MDB, o PSDB, o DEM e o Cidadania, cujas fundações anunciam a realização de uma série de debates programáticos, com objetivo de repensar a realidade brasileira no contexto da globalização, a partir da segunda semana de setembro. O primeiro será em 15 de setembro, sobre a atual crise institucional e a democracia, tendo como conferencista o ex-presidente do Supremo Nelson Jobim e os ex-presidentes José Sarney, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer como debatedores, com a participação dos presidentes dos respectivos partidos: o deputado Baleia Rossi (MDB-SP); o presidente nacional do PSDB, Bruno Araujo; o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (DEM); e o ex-deputado Roberto Freire (Cidadania).
Segundo o ex-governador Moreira Franco, mediador do debate e um dos curadores do evento, o objetivo é discutir um novo rumo para o país, em bases democráticas, modernas e inclusivas, antes de pensar em candidatura única, analisar uma nova agenda do país. O evento reunirá gente que pensa com Pê maiúsculo: Roberto Brant, Zeina Latif, José Roberto Afonso, Bernard Appy, Ricardo Paes de Barros, Ricardo Henriques, Cristovam Buarque, Raul Jungmann, Murilo Cavalcanti, Sérgio Besserman Vianna, Rubens Ricupero e José Carlos Carvalho, Milton Seligman, Gabriela Cruz Lima, Ivanir dos Santos, Luiz Antônio Santini, André Médice, Januário M Januário Montoni, Marta Suplicy e Luiz Roberto Mott, entre outros.
Todo dia é 7 a 1
Há uma música que ouço com frequência: “Every Day is Halloween”, da banda Ministry. A letra é sobre um personagem oprimido por ser visto como diferente. Os outros encaram-no e questionam sua identidade fora do padrão. É uma sensação sufocante, e de fácil identificação. Basta viver no Brasil de 2021, em que a população se dividiu em duas tribos inimigas. Aqui, todo dia é das bruxas, porém não no sentido libertador.
É como nos filmes americanos: um grupo de jovens fantasiados bate nas portas das casas da vizinhança e pedem para seus donos: “Doces ou travessuras”, à espera de guloseimas em troca. Na versão brasileira (que não é da Herbert Richers), o papel da turma seria representado pelo povo, e o governo faria o morador malvado da casa estranha, em atuação canhestra. Nada de doces, somente travessuras. E, pior, alguns se contaminaram com o veneno a ponto de se transformarem em zumbis devoradores de cérebros: “Mito! Mito!”, entoam enquanto se arrastam pela longa noite da democracia.
Como se não se bastasse, este ano o país terá uma data para chamar de assombrada. O feriado da independência se aproxima à medida que a autonomia das instituições periga. Mais do que olhares e insultos na internet, o país encara um jogo sujo cujo resultado pode ser inesperado e terrível. Observar uma seleção retrógrada dominar o placar é insensatez. Cada queimada, aumento na inflação, perseguição aos direitos individuais, morte por Covid… equivale a um gol adversário. Neste 7 (a 1) de setembro, é preciso dar um freio no projeto de destruição do Brasil pelos jogadores milicianos.
Retomo a canção, que deveria ser uma metáfora para góticos, porém ressignifica-se em meio ao sombrio pântano tupiniquim. Não tolerar os abuso servidos, lutar para viver uma vida que possamos chamar de nossa. A única diferença da letra é nós não somos idênticos. Chega de travessuras, queremos os doces direitos que a família criminosa nos retirou.
É como nos filmes americanos: um grupo de jovens fantasiados bate nas portas das casas da vizinhança e pedem para seus donos: “Doces ou travessuras”, à espera de guloseimas em troca. Na versão brasileira (que não é da Herbert Richers), o papel da turma seria representado pelo povo, e o governo faria o morador malvado da casa estranha, em atuação canhestra. Nada de doces, somente travessuras. E, pior, alguns se contaminaram com o veneno a ponto de se transformarem em zumbis devoradores de cérebros: “Mito! Mito!”, entoam enquanto se arrastam pela longa noite da democracia.
Como se não se bastasse, este ano o país terá uma data para chamar de assombrada. O feriado da independência se aproxima à medida que a autonomia das instituições periga. Mais do que olhares e insultos na internet, o país encara um jogo sujo cujo resultado pode ser inesperado e terrível. Observar uma seleção retrógrada dominar o placar é insensatez. Cada queimada, aumento na inflação, perseguição aos direitos individuais, morte por Covid… equivale a um gol adversário. Neste 7 (a 1) de setembro, é preciso dar um freio no projeto de destruição do Brasil pelos jogadores milicianos.
Retomo a canção, que deveria ser uma metáfora para góticos, porém ressignifica-se em meio ao sombrio pântano tupiniquim. Não tolerar os abuso servidos, lutar para viver uma vida que possamos chamar de nossa. A única diferença da letra é nós não somos idênticos. Chega de travessuras, queremos os doces direitos que a família criminosa nos retirou.
segunda-feira, 30 de agosto de 2021
O arbítrio e as liberdades
O presidente Jair Bolsonaro pauta suas ações pelo confronto incessante, pela produção permanente do enfrentamento. Não há nenhum apaziguamento possível, percebido por ele e por seus familiares e subordinados como um sinal de enfraquecimento. O diálogo, o reconhecimento do outro não fazem parte de seu mundo, que se constitui num mundo à parte ao da democracia e das liberdades.
Sua concepção, conforme já assinalamos nesta página, reside na ideia schmittiana do político concebida sob a forma da oposição amigo/inimigo. Não importa que o inimigo seja real ou imaginário, contanto que exista em sua percepção e constitua o seu campo de ataque. Assim se recorta para ele a realidade.
O conflito estabelecido com o Supremo Tribunal Federal (STF) é exemplar. O que faz o STF? Reage e se defende dos ataques incessantes que sofre, em defesa dos princípios democráticos do Estado. Cabe ao Supremo, em última instância, dizer não ao arbítrio, à ameaça e à violência. Os ataques aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes fazem parte da estratégia bolsonarista de minar as instituições democráticas, no caso, a mais Alta Corte do País.
Não são eles a causa dos conflitos, mas propriamente o efeito da política bolsonarista. E enganou-se quem pensou que, uma vez o Supremo recuando, Bolsonaro cessaria os seus ataques. Ele não o faria pela simples razão de que deles vive. Alguém já viu peixe respirando fora da água?
O seu enfrentamento não é com o indivíduo A ou B, mas com as instituições que representam. Seu alvo consiste em destruir a democracia, pretendendo, assim, estabelecer o seu regime autoritário. E não mede meios para isso. Ele o faz metodicamente, a exemplo de Adolf Hitler, na ascensão do nazismo, e Hugo Chávez, na Venezuela.
Direita e esquerda são aqui termos irrelevantes, por compartilharem a mesma concepção da política. No início, ambos os ditadores se utilizaram das instituições existentes para miná-las por dentro, dizendo – pasmem! –, seguir a Constituição. Citavam artigos constitucionais e eram supostamente contra suas distorções. Capturaram a opinião pública em eleições para, depois, virem a destruí-las. Restaram a morte e a violência.
Bolsonaro agora inventou a ideia do “contragolpe”. Aparentemente não se sabe muito bem o que isso significa, salvo a sua designação de ministros do Supremo e outros, como o PT, e sabe-se lá quem mais neste amálgama ideológico e confuso. No entanto, tudo isso tem uma significação precisa: dar um golpe, dizendo preveni-lo.
Como não ousa abertamente dizer que pretende instaurar uma ditadura, porque perderia adeptos que ainda acreditam no que ele diz, apesar de a mentira ser o seu modo de orientação, arvora-se em defensor das liberdades que estariam sendo usurpadas. Ora, é ele o usurpador, por identificar o seu arbítrio com as liberdades.
É uma espécie de arbítrio da liberdade que se volta contra as liberdades. Liberdade sem regras equivale ao mero arbítrio, na medida em que não tem barreiras, limites, que são os estabelecidos por regras morais, jurídicas e políticas. Bolsonaro procura impor a sua vontade arbitrária como se fosse a encarnação das liberdades ou de sua dita vontade do povo, da qual, evidentemente, ele seria o único intérprete. Mas é ele que almeja produzir uma ruptura institucional, com o emprego de suas milícias de rua e digitais, hoje pretendendo incorporar algumas Polícias Militares.
É falacioso o argumento de que Bolsonaro não produz violência, mas tão só discursos e narrativas. Ora, discursos, narrativas e declarações são atos de fala, atos de linguagem, que suscitam efeitos. E esses efeitos, uma vez acolhidos por aqueles que o escutam, se traduzem por ações concretas. Isto é, atos de fala são ações que devem ser consideradas enquanto tais, principalmente no campo da política. Logo, quando Bolsonaro conclama seus seguidores a se manifestarem contra as instituições, seu objetivo reside em destruir essas mesmas instituições com a ajuda de seus fanáticos. Um conflito de rua seria nada mais do que um detalhe, que seria evidentemente atribuído à esquerda ou a algum governador de oposição ou supostamente tal.
Neste contexto, está fadado ao fracasso o esforço de ministros e políticos em conter Bolsonaro, como se pudessem eles ser “amortecedores”. Não faz o menor sentido, uma vez que o diálogo e a política democrática não fazem parte do seu cardápio político. Chega a ser risível o que se lê na imprensa, que os que procuram controlar o presidente no final o consideram imprevisível. Porém só é imprevisível para os que são seus “amigos” neste momento, usufruindo privilégios e posições de poder, pois sua previsibilidade é total quando vista sob o prisma da política baseada na distinção entre amigos e inimigos, no uso sistemático do enfrentamento e na destruição das instituições democráticas.
Não se trata somente de distúrbios psicológicos, graves, de um líder, mas da tentativa de instauração no País de um regime autoritário. Não se pode compactuar com isso!
Sua concepção, conforme já assinalamos nesta página, reside na ideia schmittiana do político concebida sob a forma da oposição amigo/inimigo. Não importa que o inimigo seja real ou imaginário, contanto que exista em sua percepção e constitua o seu campo de ataque. Assim se recorta para ele a realidade.
O conflito estabelecido com o Supremo Tribunal Federal (STF) é exemplar. O que faz o STF? Reage e se defende dos ataques incessantes que sofre, em defesa dos princípios democráticos do Estado. Cabe ao Supremo, em última instância, dizer não ao arbítrio, à ameaça e à violência. Os ataques aos ministros Luís Roberto Barroso e Alexandre de Moraes fazem parte da estratégia bolsonarista de minar as instituições democráticas, no caso, a mais Alta Corte do País.
Não são eles a causa dos conflitos, mas propriamente o efeito da política bolsonarista. E enganou-se quem pensou que, uma vez o Supremo recuando, Bolsonaro cessaria os seus ataques. Ele não o faria pela simples razão de que deles vive. Alguém já viu peixe respirando fora da água?
O seu enfrentamento não é com o indivíduo A ou B, mas com as instituições que representam. Seu alvo consiste em destruir a democracia, pretendendo, assim, estabelecer o seu regime autoritário. E não mede meios para isso. Ele o faz metodicamente, a exemplo de Adolf Hitler, na ascensão do nazismo, e Hugo Chávez, na Venezuela.
Direita e esquerda são aqui termos irrelevantes, por compartilharem a mesma concepção da política. No início, ambos os ditadores se utilizaram das instituições existentes para miná-las por dentro, dizendo – pasmem! –, seguir a Constituição. Citavam artigos constitucionais e eram supostamente contra suas distorções. Capturaram a opinião pública em eleições para, depois, virem a destruí-las. Restaram a morte e a violência.
Bolsonaro agora inventou a ideia do “contragolpe”. Aparentemente não se sabe muito bem o que isso significa, salvo a sua designação de ministros do Supremo e outros, como o PT, e sabe-se lá quem mais neste amálgama ideológico e confuso. No entanto, tudo isso tem uma significação precisa: dar um golpe, dizendo preveni-lo.
Como não ousa abertamente dizer que pretende instaurar uma ditadura, porque perderia adeptos que ainda acreditam no que ele diz, apesar de a mentira ser o seu modo de orientação, arvora-se em defensor das liberdades que estariam sendo usurpadas. Ora, é ele o usurpador, por identificar o seu arbítrio com as liberdades.
É uma espécie de arbítrio da liberdade que se volta contra as liberdades. Liberdade sem regras equivale ao mero arbítrio, na medida em que não tem barreiras, limites, que são os estabelecidos por regras morais, jurídicas e políticas. Bolsonaro procura impor a sua vontade arbitrária como se fosse a encarnação das liberdades ou de sua dita vontade do povo, da qual, evidentemente, ele seria o único intérprete. Mas é ele que almeja produzir uma ruptura institucional, com o emprego de suas milícias de rua e digitais, hoje pretendendo incorporar algumas Polícias Militares.
É falacioso o argumento de que Bolsonaro não produz violência, mas tão só discursos e narrativas. Ora, discursos, narrativas e declarações são atos de fala, atos de linguagem, que suscitam efeitos. E esses efeitos, uma vez acolhidos por aqueles que o escutam, se traduzem por ações concretas. Isto é, atos de fala são ações que devem ser consideradas enquanto tais, principalmente no campo da política. Logo, quando Bolsonaro conclama seus seguidores a se manifestarem contra as instituições, seu objetivo reside em destruir essas mesmas instituições com a ajuda de seus fanáticos. Um conflito de rua seria nada mais do que um detalhe, que seria evidentemente atribuído à esquerda ou a algum governador de oposição ou supostamente tal.
Neste contexto, está fadado ao fracasso o esforço de ministros e políticos em conter Bolsonaro, como se pudessem eles ser “amortecedores”. Não faz o menor sentido, uma vez que o diálogo e a política democrática não fazem parte do seu cardápio político. Chega a ser risível o que se lê na imprensa, que os que procuram controlar o presidente no final o consideram imprevisível. Porém só é imprevisível para os que são seus “amigos” neste momento, usufruindo privilégios e posições de poder, pois sua previsibilidade é total quando vista sob o prisma da política baseada na distinção entre amigos e inimigos, no uso sistemático do enfrentamento e na destruição das instituições democráticas.
Não se trata somente de distúrbios psicológicos, graves, de um líder, mas da tentativa de instauração no País de um regime autoritário. Não se pode compactuar com isso!
Universidade para quem quiser!
Nesta semana, em uma das raras vezes em que saí de casa, fiquei parada num engarrafamento em um dos pontos turísticos do Rio de Janeiro. O trânsito em meio a um cartão postal. E ali, naquela mistura de morros, lagoas e carros, tinha um jovem, entre 15 e 18 anos, vestindo uma roupa de palhaço para fazer seus malabares no sinal fechado. Um rapaz negro que, em tese, deveria estar pensando no seu futuro profissional, trabalha quando o sinal fecha. Uma imagem muito representativa de um Brasil no qual, segundo as palavras do atual Ministro da Educação, "a universidade deveria ser para poucos" – e já é.
Mesmo se vivêssemos em um país que investe e reconhece outros locais de produção do saber para além das universidades, dificilmente essa frase poderia ter alguma positividade. Sou particularmente a favor de que brasileiros e brasileiras possam realizar suas formações profissionais em universidades, mas também em cursos técnicos, em formações artísticas e nos chamados cursos profissionalizantes. Não acredito que uma sociedade deva ter apenas bacharéis. E mais, não acredito que apenas bacharéis devam ser bem remunerados e reconhecidos socialmente.
Todavia, a história da educação no Brasil caminha de mãos dadas com a história do nosso racismo e exclusão socioeconômica. Ainda no período imperial, a educação, de qualquer nível, estava vetada para os escravizados. Sim, existiam leis que proibiam que escravizados aprendessem a ler e escrever. E nessa sociedade, em que os bacharéis muitas vezes também eram proprietários de escravos, as iniciativas públicas para o letramento da população brasileira pobre (negra, mestiça e indígena) eram ínfimas.
Quem imagina que o quadro tenha mudado com a Proclamação da República, se enganou redondamente. Nossa primeira Constituição republicana (1891), além de não reconhecer a educação como um direito civil, fez da alfabetização a condição para o exercício do direito político: só eram considerados cidadãos eleitores os homens que soubessem ler e escrever. Tal medida excluiu mais de 80% da população brasileira do exercício do voto. Um projeto de Brasil que defendia que o sufrágio também fosse para poucos.
Como muitos de nós sabemos, a história não parou por aí. Porque esse "povo analfabeto" se organizou das mais diferentes formas para ter acesso à educação formal. A história do Brasil República é também a história da luta pelo direito universal à educação.
Professores e professoras que transformaram suas próprias casas em escolas que recebiam crianças e jovens da vizinhança; movimentos sociais que fizeram alfabetizações em massa; sociedade civil exigindo que educação fosse um direito de todos – homens e mulheres. Uma luta que, muitas vezes, tinha o Estado nacional brasileiro como principal opositor. Foi apenas na sua sétima e mais recente Constituição (1988) que o Brasil reconheceu o direito à educação para os cidadãos e cidadãs brasileiros, ao mesmo tempo que permitiu que até mesmo os analfabetos pudessem votar.
Sendo assim, a defesa de que "a universidade deveria ser para poucos" tem uma longa trajetória por essas bandas. E ela fala sobre uma percepção de mundo e sobre um projeto de Brasil que se constrói a partir da marginalização de uma parcela significativa da população brasileira. Um Brasil no qual poucos devem cursar a universidade, ao mesmo tempo que as escolas são cada vez mais esvaziadas de sentido, seja na precarização assustadora do trabalho docente, seja na formulação de um projeto de lei que pretende regularizar – e consequentemente fomentar – a educação domiciliar, destituindo a escola pública de uma das suas funções principais: o convívio respeitoso dos futuros cidadãos brasileiros.
É impossível não relacionar a percepção classista do ensino superior com a recente transformação que esse mesmo ensino sofreu nas últimas duas décadas. A partir de pressões de movimentos sociais, governos brasileiros mais comprometidos com uma perspectiva democrática da educação, implementaram o sistema de cotas. Cotas raciais e cotas sociais.
A primeira foi e ainda é tema de inúmeras polêmicas de um Brasil que só reconhece o racismo quando seus privilégios são colocados à prova. Temos aqui o famoso (e irreal) "racismo reverso". Uma anomalia da estrutura racial brasileira, que permite pensar que a população negra pode ser, ela própria, a protagonista da discriminação racial, e não a vítima desta discriminação. Uma contradição que apenas revela a perversidade do nosso racismo cotidiano.
Todavia, o fato é que a entrada de jovens negros, indígenas e pobres de maneira sistemática nas universidades nos últimos 15 anos resultou numa pequena, mas poderosa revolução. Nesse mundo que só reconhece o saber dos bacharéis, temos um bacharelado cada vez menos branco.
Uma constatação que não se resume apenas à coloração ou à pertença multiétnica das salas de aula das universidades, mas também à própria produção do conhecimento, à medida que pessoas com outras vivências e outras percepções de mundo estão formulando novas perguntas e, consequentemente disputando outras formas de pensar "que país é esse".
Há ainda quem aposte no sinal fechado para a maior parte dos jovens brasileiros, que deveriam se contentar com os malabarismos em meio ao trânsito. Mas também há uma mudança iniciada, que não podemos deixar parar. Um Brasil fruto do maior acesso à educação em todos os níveis. Ainda temos muito o que fazer. Mas não nos esqueçamos: a universidade (sobretudo a pública e gratuita) deve ser um espaço para todos que queiram lá estar.
Mesmo se vivêssemos em um país que investe e reconhece outros locais de produção do saber para além das universidades, dificilmente essa frase poderia ter alguma positividade. Sou particularmente a favor de que brasileiros e brasileiras possam realizar suas formações profissionais em universidades, mas também em cursos técnicos, em formações artísticas e nos chamados cursos profissionalizantes. Não acredito que uma sociedade deva ter apenas bacharéis. E mais, não acredito que apenas bacharéis devam ser bem remunerados e reconhecidos socialmente.
Todavia, a história da educação no Brasil caminha de mãos dadas com a história do nosso racismo e exclusão socioeconômica. Ainda no período imperial, a educação, de qualquer nível, estava vetada para os escravizados. Sim, existiam leis que proibiam que escravizados aprendessem a ler e escrever. E nessa sociedade, em que os bacharéis muitas vezes também eram proprietários de escravos, as iniciativas públicas para o letramento da população brasileira pobre (negra, mestiça e indígena) eram ínfimas.
Quem imagina que o quadro tenha mudado com a Proclamação da República, se enganou redondamente. Nossa primeira Constituição republicana (1891), além de não reconhecer a educação como um direito civil, fez da alfabetização a condição para o exercício do direito político: só eram considerados cidadãos eleitores os homens que soubessem ler e escrever. Tal medida excluiu mais de 80% da população brasileira do exercício do voto. Um projeto de Brasil que defendia que o sufrágio também fosse para poucos.
Como muitos de nós sabemos, a história não parou por aí. Porque esse "povo analfabeto" se organizou das mais diferentes formas para ter acesso à educação formal. A história do Brasil República é também a história da luta pelo direito universal à educação.
Professores e professoras que transformaram suas próprias casas em escolas que recebiam crianças e jovens da vizinhança; movimentos sociais que fizeram alfabetizações em massa; sociedade civil exigindo que educação fosse um direito de todos – homens e mulheres. Uma luta que, muitas vezes, tinha o Estado nacional brasileiro como principal opositor. Foi apenas na sua sétima e mais recente Constituição (1988) que o Brasil reconheceu o direito à educação para os cidadãos e cidadãs brasileiros, ao mesmo tempo que permitiu que até mesmo os analfabetos pudessem votar.
Sendo assim, a defesa de que "a universidade deveria ser para poucos" tem uma longa trajetória por essas bandas. E ela fala sobre uma percepção de mundo e sobre um projeto de Brasil que se constrói a partir da marginalização de uma parcela significativa da população brasileira. Um Brasil no qual poucos devem cursar a universidade, ao mesmo tempo que as escolas são cada vez mais esvaziadas de sentido, seja na precarização assustadora do trabalho docente, seja na formulação de um projeto de lei que pretende regularizar – e consequentemente fomentar – a educação domiciliar, destituindo a escola pública de uma das suas funções principais: o convívio respeitoso dos futuros cidadãos brasileiros.
É impossível não relacionar a percepção classista do ensino superior com a recente transformação que esse mesmo ensino sofreu nas últimas duas décadas. A partir de pressões de movimentos sociais, governos brasileiros mais comprometidos com uma perspectiva democrática da educação, implementaram o sistema de cotas. Cotas raciais e cotas sociais.
A primeira foi e ainda é tema de inúmeras polêmicas de um Brasil que só reconhece o racismo quando seus privilégios são colocados à prova. Temos aqui o famoso (e irreal) "racismo reverso". Uma anomalia da estrutura racial brasileira, que permite pensar que a população negra pode ser, ela própria, a protagonista da discriminação racial, e não a vítima desta discriminação. Uma contradição que apenas revela a perversidade do nosso racismo cotidiano.
Todavia, o fato é que a entrada de jovens negros, indígenas e pobres de maneira sistemática nas universidades nos últimos 15 anos resultou numa pequena, mas poderosa revolução. Nesse mundo que só reconhece o saber dos bacharéis, temos um bacharelado cada vez menos branco.
Uma constatação que não se resume apenas à coloração ou à pertença multiétnica das salas de aula das universidades, mas também à própria produção do conhecimento, à medida que pessoas com outras vivências e outras percepções de mundo estão formulando novas perguntas e, consequentemente disputando outras formas de pensar "que país é esse".
Há ainda quem aposte no sinal fechado para a maior parte dos jovens brasileiros, que deveriam se contentar com os malabarismos em meio ao trânsito. Mas também há uma mudança iniciada, que não podemos deixar parar. Um Brasil fruto do maior acesso à educação em todos os níveis. Ainda temos muito o que fazer. Mas não nos esqueçamos: a universidade (sobretudo a pública e gratuita) deve ser um espaço para todos que queiram lá estar.
A pobreza da democracia
A maior pobreza da democracia brasileira é não ter adotado uma estratégia para abolir a pobreza da população: não movemos a linha da pobreza nem aterramos o abismo da desigualdade. A segunda é a incerteza: se os portadores de armas aceitarão os resultados das urnas. A terceira maior pobreza é que as lideranças democráticas se submetem a apelar aos generais para saber se eles respeitarão as eleições. Foi o que vimos na semana passada, quando ex-presidentes, ex-ministros e líderes políticos procuraram militares para saber se os generais apoiariam golpe para impedir a derrota eleitoral do atual presidente.
Esta consulta demonstra a pobreza da democracia brasileira e das lideranças democráticas. Em uma democracia consolidada não haveria este temor aos militares. Eles estariam fora da política. Como estão em todos os outros países do continente, com exceção da Venezuela e do Brasil. Ao perceberem a fragilidade da democracia, os políticos deveriam unir as forças democráticas para enfrentar o risco de golpe. É a unidade nas urnas que dá força para vencer as armas. No lugar disto, nossos líderes se dividem, se antagonizam e, depois de ouvirem as manifestações legalistas dos generais, voltam tranquilos da conversa e continuam se digladiando entre si, confiantes de que o regime democrático sobreviverá, graças à boa vontade dos militares.
Esquecem que o maior incentivo ao golpe é a divisão dos líderes civis ao empurrarem os militares, provocados diante do vazio e da instabilidade que ameaça o País. As lideranças também esquecem o pouco significado da opinião dos comandantes, porque o desrespeito às urnas raramente parte de generais comandantes. Em muitos golpes, os primeiros presos são os generais, por determinação de coronéis, motivados pela divisão, incompetência ou corrupção de civis. Às vezes, o golpe vem de polícias ou milicias armadas ou do povo na rua. Não é raro também os golpes virem de um líder político contra os outros.
Quando perguntados se haveria golpe, os generais deveriam ter devolvido a pergunta aos políticos: “vocês acham que há clima para golpe? De onde viria?” Se não fossem enfáticos, ainda poderiam perguntar: “onde vocês erraram e estão errando para esta hipótese ser considerada.
A única forma de as urnas vencerem as armas está na unidade dos políticos democráticos. Para isto, devem entender que não é por gosto ou vocação que militares dão golpe e desmancham a democracia. Fazem isto empurrados quando a democracia demonstra esgotamento, quase sempre por incompetência e divisionismo entre políticos civis. Não precisam perguntar aos militares se eles querem intervir. Eles responderão corretamente que não querem e nunca quiseram, nem mesmo em 1964.
Foi a divisão entre políticos, o clima de instabilidade, a polarização da guerra fria e um general afoito que deslancharam o golpe. Para evitar golpe, os democratas devem evitar o acirramento da disputa no primeiro turno, cujas disputas e acusações deixam pouca margem para a unidade no segundo. Devem escolher um nome com mais chance de ser eleito e este assumir que seu governo promoverá união de todos para defender o poder das urnas. Mas isto parece impossível, e o outro lado, um presidente isolado, despreparado, com claros sinais de demência, pode provocar a instabilidade que levará a um golpe que os militares não querem fazer, mas os políticos divididos poderão provocar e serem as vítimas depois. Não será a primeira vez na história.
Esta consulta demonstra a pobreza da democracia brasileira e das lideranças democráticas. Em uma democracia consolidada não haveria este temor aos militares. Eles estariam fora da política. Como estão em todos os outros países do continente, com exceção da Venezuela e do Brasil. Ao perceberem a fragilidade da democracia, os políticos deveriam unir as forças democráticas para enfrentar o risco de golpe. É a unidade nas urnas que dá força para vencer as armas. No lugar disto, nossos líderes se dividem, se antagonizam e, depois de ouvirem as manifestações legalistas dos generais, voltam tranquilos da conversa e continuam se digladiando entre si, confiantes de que o regime democrático sobreviverá, graças à boa vontade dos militares.
Esquecem que o maior incentivo ao golpe é a divisão dos líderes civis ao empurrarem os militares, provocados diante do vazio e da instabilidade que ameaça o País. As lideranças também esquecem o pouco significado da opinião dos comandantes, porque o desrespeito às urnas raramente parte de generais comandantes. Em muitos golpes, os primeiros presos são os generais, por determinação de coronéis, motivados pela divisão, incompetência ou corrupção de civis. Às vezes, o golpe vem de polícias ou milicias armadas ou do povo na rua. Não é raro também os golpes virem de um líder político contra os outros.
Quando perguntados se haveria golpe, os generais deveriam ter devolvido a pergunta aos políticos: “vocês acham que há clima para golpe? De onde viria?” Se não fossem enfáticos, ainda poderiam perguntar: “onde vocês erraram e estão errando para esta hipótese ser considerada.
A única forma de as urnas vencerem as armas está na unidade dos políticos democráticos. Para isto, devem entender que não é por gosto ou vocação que militares dão golpe e desmancham a democracia. Fazem isto empurrados quando a democracia demonstra esgotamento, quase sempre por incompetência e divisionismo entre políticos civis. Não precisam perguntar aos militares se eles querem intervir. Eles responderão corretamente que não querem e nunca quiseram, nem mesmo em 1964.
Foi a divisão entre políticos, o clima de instabilidade, a polarização da guerra fria e um general afoito que deslancharam o golpe. Para evitar golpe, os democratas devem evitar o acirramento da disputa no primeiro turno, cujas disputas e acusações deixam pouca margem para a unidade no segundo. Devem escolher um nome com mais chance de ser eleito e este assumir que seu governo promoverá união de todos para defender o poder das urnas. Mas isto parece impossível, e o outro lado, um presidente isolado, despreparado, com claros sinais de demência, pode provocar a instabilidade que levará a um golpe que os militares não querem fazer, mas os políticos divididos poderão provocar e serem as vítimas depois. Não será a primeira vez na história.
Conveniência para a canalhice
Temos que reconhecer que, apesar de tudo, o Brasil nos oferece algumas compensações. Uma delas é a facilidade com que somos esquecidos, questão da noite para o dia. Para os patifes, então, isso é de uma extraordinária e confortável conveniênciaJoel Silveira, "Guerrilha noturna"
O braço armado de Bolsonaro
O imponderável da democracia brasileira, com eleições limpas e apuração instantânea, é o voto popular. Vem daí o medo que Jair Bolsonaro sente das urnas eletrônicas, porque sua reeleição subiu no telhado, em razão de o país estar à matroca — com inflação em alta, desemprego em massa, crise sanitária e risco de apagão. Por isso, ameaça tumultuar as eleições de 2022. O presidente da República teme não se reeleger, desde que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva despontou como favorito nas pesquisas de opinião, mesmo sabendo que ninguém ganha eleição de véspera. Outros postulantes querem romper essa polarização: João Doria (PSDB), Ciro Gomes (PDT), Henrique Mandetta (DEM), quiçá Rodrigo Pacheco (DEM-MG), presidente do Senado, e Sérgio Moro, o ex-juiz que não se assume como candidato e continua pontuando nas pesquisas. Nas simulações de segundo turno, Bolsonaro perderia para todos. Obviamente, esse cenário ameaça até sua presença no segundo turno.
Pressionado psicologicamente, diante do próprio fracasso político-administrativo, a 14 meses das eleições, Bolsonaro aposta na polarização ideológica e na radicalização política extrema. Busca um atalho para se manter no poder. Apoiado por partidários fanatizados, escala um confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF) e trabalha para melar as eleições, ao levantar suspeitas sobre a integridade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na condução do pleito. Tenta intimidar a oposição, a imprensa e os ministros do Supremo, e arrastar as Forças Armadas para uma aventura golpista. Não obteve sucesso até agora. Quer transformar o Sete de Setembro, no qual pretende realizar duas grandes manifestações, uma em Brasília e outra em São Paulo, numa demonstração de que pode resolver no braço o que não consegue pelo convencimento, como fazem os valentões.
Os próximos meses serão complicados. Bolsonaro tem um pacto com os violentos. Primeiro, com as milícias do Rio de Janeiro, cujo modelo de atuação naturalizou e traduziu para a política. Aproveitando-se dos interesses corporativos de categoriais profissionais embrutecidas pelos riscos da própria atividade, mobiliza atiradores e indivíduos que cultuam a violência por temperamento ou ideologia, fundamentais para a formação de falanges políticas armadas, para as quais conta com a expertise de militares reformados e agentes de segurança pública. A violência sempre presente nos territórios dominados por atividades transgressoras ou na fronteira da economia informal, onde não existe título em cartório e as dívidas são cobradas sob ameaças, é o caldo de cultura de que se aproveita.
Na Itália do jurista, político e ex-primeiro-ministro Aldo Moro, assassinado em 1978 pelas Brigadas Vermelhas, os terroristas escreveram nos muros da sede da Democracia Cristã: “Transformar a fraude eleitoral em guerra de classes”. Com sinal trocado, quando fala que o povo deveria comprar fuzil e não feijão, Bolsonaro sinaliza na direção de que pretende transformar as eleições numa guerra. Está armando os militantes que pretende mobilizar para tumultuar o pleito, como tentou Donald Trump nas eleições americanas, diante da impossibilidade de mobilizar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado.
No establishment econômico, institucional e até mesmo militar do país, porém, a grande interrogação é se chegaremos às eleições de 2022 com Bolsonaro no poder. Sua escalada contra as regras do jogo democrático e contra o Supremo não tem como dar certo. No limite, propõe a discussão sobre a eventualidade de interdição por insanidade mental ou inelegibilidade por atentar contra a democracia. Talvez seja essa a aposta do presidente da República, para provocar uma crise institucional de desfecho violento.
Pressionado psicologicamente, diante do próprio fracasso político-administrativo, a 14 meses das eleições, Bolsonaro aposta na polarização ideológica e na radicalização política extrema. Busca um atalho para se manter no poder. Apoiado por partidários fanatizados, escala um confronto com o Supremo Tribunal Federal (STF) e trabalha para melar as eleições, ao levantar suspeitas sobre a integridade do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na condução do pleito. Tenta intimidar a oposição, a imprensa e os ministros do Supremo, e arrastar as Forças Armadas para uma aventura golpista. Não obteve sucesso até agora. Quer transformar o Sete de Setembro, no qual pretende realizar duas grandes manifestações, uma em Brasília e outra em São Paulo, numa demonstração de que pode resolver no braço o que não consegue pelo convencimento, como fazem os valentões.
Os próximos meses serão complicados. Bolsonaro tem um pacto com os violentos. Primeiro, com as milícias do Rio de Janeiro, cujo modelo de atuação naturalizou e traduziu para a política. Aproveitando-se dos interesses corporativos de categoriais profissionais embrutecidas pelos riscos da própria atividade, mobiliza atiradores e indivíduos que cultuam a violência por temperamento ou ideologia, fundamentais para a formação de falanges políticas armadas, para as quais conta com a expertise de militares reformados e agentes de segurança pública. A violência sempre presente nos territórios dominados por atividades transgressoras ou na fronteira da economia informal, onde não existe título em cartório e as dívidas são cobradas sob ameaças, é o caldo de cultura de que se aproveita.
Na Itália do jurista, político e ex-primeiro-ministro Aldo Moro, assassinado em 1978 pelas Brigadas Vermelhas, os terroristas escreveram nos muros da sede da Democracia Cristã: “Transformar a fraude eleitoral em guerra de classes”. Com sinal trocado, quando fala que o povo deveria comprar fuzil e não feijão, Bolsonaro sinaliza na direção de que pretende transformar as eleições numa guerra. Está armando os militantes que pretende mobilizar para tumultuar o pleito, como tentou Donald Trump nas eleições americanas, diante da impossibilidade de mobilizar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado.
No establishment econômico, institucional e até mesmo militar do país, porém, a grande interrogação é se chegaremos às eleições de 2022 com Bolsonaro no poder. Sua escalada contra as regras do jogo democrático e contra o Supremo não tem como dar certo. No limite, propõe a discussão sobre a eventualidade de interdição por insanidade mental ou inelegibilidade por atentar contra a democracia. Talvez seja essa a aposta do presidente da República, para provocar uma crise institucional de desfecho violento.
A democracia é uma conquista civil da qual não se pode abrir mão precisamente porque, onde ela foi instaurada, substituiu a violenta luta pela conquista do poder por uma disputa partidária com base na livre discussão de ideias. Condenar as eleições, esse ato fundamental do sistema democrático, em nome da guerra ideológica, nos ensina o mestre Norberto Bobbio, significa “atingir a essência não do Estado, mas da única forma de convivência possível na liberdade e através da liberdade que os homens até agora conseguiram realizar, na longa história de prepotência, violência e cruel dominação”. Deixemos o povo resolver as disputas pelo voto, em clima de eleições pacíficas e ordeiras.
7 de setembro de 2021
Esta é a última crônica que escrevo antes do 7 de setembro, data da independência do país, mas que pode, neste nefasto 2021, se transformar no dia do golpe ou no dia do “diga ao povo que, quando for para ir, eu não vou”. Parece e é uma comédia, mas o preço do riso tem sido elevado. Salta aos olhos o fato de a atual gerência (chamo-a assim porque governo não é) ter levado o país da pobreza à miséria, um feito que exige um planejamento arrojado, um senhor desplanejamento.
Golpe é um prato de preparo lento, como a maniçoba, feita da folha da mandioca, a maniva, e que requer sete dias de cozimento para eliminar o veneno, nada mais, nada menos que o cianeto. No caso de um golpe, a demora serve para salpicar e apurar o veneno, e, no de agora, ele tem sido tão lento que o veneno fede à distância e leva ao delírio os inimigos da democracia.
No golpe sanguinário de 1964, parte da sociedade civil o apoiou. É a mesma gente que vê com bons olhos o discurso atual, moralista, religioso e ufanista, ou seja, é a turma que não aprende e, numa primeira dificuldade da democracia, chuta para o lado a liberdade e clama pela ditadura. Em 2021, apesar de um movimento aqui ou ali, os incentivadores da escuridão continuam se valendo do ambiente virtual e da mentira como tática. Bem, também cometem arroubos mais sérios, o que, pelo menos neste agosto, tem sido contestado pela justiça. Um dos mais comentados foi a busca nas propriedades do cantor sertanejo que andou ameaçando invadir o STF. Enfim, o país dividido entre a civilidade e a não civilidade está no ringue. Num ringue, aliás, no qual todos devemos entrar, pois não é uma luta a ser assistida. Somos pugilistas.
Não é preciso dizer que estou do lado da democracia, da liberdade (nada a ver com o cada-um-faz-o-que-quer) e do debate em um ambiente de diversidade política. Do lado em que combato, é habitual o conflito, que nada mais é do que o meio mais rico de as ideias encontrarem soluções para os problemas, o que não quer dizer que não haja erros. Há aos montes, e deles surgem novos conflitos e, no fim, novas soluções. Não é, portanto, um paraíso, pois viver é bruto, sem que tenha de ser violento. O lado da civilidade luta contra a violência, condena-a no Afeganistão, no Haiti, nos Estados Unidos, na Venezuela, na China e aqui, debaixo de nosso nariz.
Para o 7 de setembro plúmbeo que se aproxima, homens lustram seus coturnos, mulheres enaltecem os algozes, jovens se deixam enganar por aqueles que desejam sequestrar a democracia para lucrar. No fundo, o moralismo, a religiosidade e o ufanismo não passam de conversa para os bois dormirem.
Alexandre Brandão
Golpe é um prato de preparo lento, como a maniçoba, feita da folha da mandioca, a maniva, e que requer sete dias de cozimento para eliminar o veneno, nada mais, nada menos que o cianeto. No caso de um golpe, a demora serve para salpicar e apurar o veneno, e, no de agora, ele tem sido tão lento que o veneno fede à distância e leva ao delírio os inimigos da democracia.
No golpe sanguinário de 1964, parte da sociedade civil o apoiou. É a mesma gente que vê com bons olhos o discurso atual, moralista, religioso e ufanista, ou seja, é a turma que não aprende e, numa primeira dificuldade da democracia, chuta para o lado a liberdade e clama pela ditadura. Em 2021, apesar de um movimento aqui ou ali, os incentivadores da escuridão continuam se valendo do ambiente virtual e da mentira como tática. Bem, também cometem arroubos mais sérios, o que, pelo menos neste agosto, tem sido contestado pela justiça. Um dos mais comentados foi a busca nas propriedades do cantor sertanejo que andou ameaçando invadir o STF. Enfim, o país dividido entre a civilidade e a não civilidade está no ringue. Num ringue, aliás, no qual todos devemos entrar, pois não é uma luta a ser assistida. Somos pugilistas.
Não é preciso dizer que estou do lado da democracia, da liberdade (nada a ver com o cada-um-faz-o-que-quer) e do debate em um ambiente de diversidade política. Do lado em que combato, é habitual o conflito, que nada mais é do que o meio mais rico de as ideias encontrarem soluções para os problemas, o que não quer dizer que não haja erros. Há aos montes, e deles surgem novos conflitos e, no fim, novas soluções. Não é, portanto, um paraíso, pois viver é bruto, sem que tenha de ser violento. O lado da civilidade luta contra a violência, condena-a no Afeganistão, no Haiti, nos Estados Unidos, na Venezuela, na China e aqui, debaixo de nosso nariz.
Para o 7 de setembro plúmbeo que se aproxima, homens lustram seus coturnos, mulheres enaltecem os algozes, jovens se deixam enganar por aqueles que desejam sequestrar a democracia para lucrar. No fundo, o moralismo, a religiosidade e o ufanismo não passam de conversa para os bois dormirem.
Alexandre Brandão
sábado, 28 de agosto de 2021
Basta de agosto: primavera já!
“O Rio amanheceu cantando / toda a cidade amanheceu em flor/ os namorados vão pra rua em bandos / porque a primavera é a estação do amor.”
Amanheci com a voz de Dalva de Oliveira na cabeça cantando os versos de Braguinha, mas eles não me levaram a esse tempo de ventura que não vivi, mas ao próximo setembro, por todos os motivos que tenho para esperá-lo, para antecipar a chegada da primavera. Ao menos como metáfora.
É a esperança que a vacinação continue avançando, que cada um faça o que tem que ser feito, que aos poucos a vida volte a florescer depois da devastação da peste, é o que o mundo espera. É o que sempre acontece depois de guerras e epidemias. Embora no Brasil tudo seja mais difícil, com a economia em frangalhos, transformado em um pária internacional, sob ameaças de um golpe de Estado que ou vira uma ditadura ou uma inconcebível guerra civil (entre o Exército e a Polícia Militar?), ou fica como mais uma bravata irresponsável para tentar intimidar a oposição, o Congresso e o Judiciário. E incendiar suas legiões de fanáticos e suas milícias digitais, que as pesquisas estimam em torno 25% da população. Não é pouca gente. Mas é bem menos que os 65% que rejeitam Bolsonaro. Seria uma novidade: um golpe da minoria contra a maioria absoluta.
Quem consegue imaginar os comandantes das Forças Armadas, com 30 anos de estudos e serviços, apoiando uma ditadura do Jair? O que aconteceria se Bolsonaro tivesse poder para fazer o que quer sem o Congresso e o STF para atrapalhar? É só lembrar algumas de suas tentativas subversivas que foram barradas por tribunais, pela Câmara e pelo Senado. Sem controle, teria obrigado os estados a tratamento da Covid-19 com cloroquina e ivermectina, não teria comprado as vacinas porque não acreditava nelas, submeteria o Brasil a uma imunidade de rebanho como se fosse gado em que alguns têm que morrer para a sobrevivência da manada. Proibiria lockdowns e isolamentos. Por ignorância e má-fé proibiria o trabalho remoto. ( “O presidente da Petrobras que eu demiti ficou dez meses em casa sem trabalhar”). Liberaria a venda de armas para milícias populares inspiradas nas brigadas chavistas. Obrigaria os presidentes dos três poderes a abrir suas sessões com uma oração. Teria nomeado o filho Eduardo embaixador em Washington e arquivado todos os processos contra o filho Flávio. Teria fechado a TV Globo e aposentado metade do Supremo para substitui-los por “gente nossa”, seguindo a receita de Hugo Chávez de minar a democracia por dentro, corrompendo as instituições.
O curioso é que ao mesmo tempo em que é demonizado pelo bolsonarismo como comunista, o bolivariano virou um modelo para o capitão, que está tentando se tornar uma espécie de Chávez de baixo coturno, mas sem a inteligência, o carisma e a coragem do coronel.
Qual pesadelo pode ser pior: um chavismo de esquerda ou de direita?
Triunfo eleitoral, cada vez mais distante, sempre foi o plano B de Bolsonaro
Munique tornou-se, desde setembro de 1938, um nome polissêmico. A capital da Baviera alemã passou a evocar “apaziguamento” e, ainda, “traição”. No Brasil de hoje, Munique é Brasília, desde que o comando do Exército recusou-se a punir Eduardo Pazuello. Dependendo da conclusão do caso do coronel Aleksander Lacerda, logo será São Paulo.
No Rio de Janeiro, em 23 de maio, Bolsonaro pronunciou um discurso subversivo, em ato de rua. Ao seu lado, no palanque, estava Pazuello, que também discursou. Duas semanas depois, uma nota do Exército comunicou o arquivamento do processo administrativo instaurado contra o general da ativa.
Munique: Neville Chamberlain e Édouard Daladier entregaram os Sudetos a Adolf Hitler. Brasília: Paulo Sérgio de Oliveira jogou à lata de lixo o Regulamento Disciplinar do Exército que proíbe manifestações públicas políticas de militares de ativa.
O “chavismo de direita” de Bolsonaro, na precisa expressão de Rodrigo Maia, subverte a ordem democrática na tentativa de dissolver a fronteira legal que separa os homens em armas da atividade política. O triunfo eleitoral, horizonte cada vez mais distante, sempre foi o plano B do presidente. Seu plano A é um golpe de Estado: a submissão do Judiciário e do Congresso ao “meu Exército”.
O “meu Exército” bolsonarista não é o Exército brasileiro, mas uma milícia nucleada por militares amotinados. A agitação subversiva no interior das Forças Armadas ainda não ganhou tração, apesar do espaço aberto pelo apaziguamento do comandante do Exército. Nas polícias militares, porém, ergue-se um Partido Bolsonarista cujos contornos delineiam-se com nitidez às vésperas dos atos golpistas de 7 de Setembro.
Nas quase 400 mensagens que publicou em agosto, o militante bolsonarista Aleksander Lacerda, que veste uniforme de coronel da PM, insultou reiteradamente o governador paulista e o presidente do Senado. Mas, sobretudo, convocou seus “amigos” —ou seja, os 5.000 policiais de sete batalhões que comandava— aos atos subversivos.
Não são gestos de um solitário desvairado, mas lances de uma estudada provocação. Lacerda testava os limites, investigava a firmeza da coluna vertebral de João Doria. Sua conclusão provisória é que São Paulo pode ser Munique.
“Ele tem de ser severamente punido sob o ponto de vista administrativo e sob o ponto de vista penal-militar. Se não, vamos instalar a balbúrdia na instituição”, alertou o coronel Glauco Carvalho, ex-comandante de policiamento da capital do estado.
Doria, porém, preferiu classificar o comportamento de Lacerda como “inadequado” e afastá-lo de seu comando, entregando-o à Corregedoria da PM. A “balbúrdia” está a apenas um tiro de distância.
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) já firmou entendimento de que governadores têm a prerrogativa de expulsar oficiais da PM, via processo administrativo, sem prejuízo de julgamento pela Justiça Militar. Contudo, em São Paulo, o apaziguamento começa a fazer seu curso. Simulando cegueira, Doria descreveu a conclamação de Lacerda ao motim como um “fato pontual”.
Enquanto o governador praticamente encerrava o assunto, a facção bolsonarista da PM paulista organizava caravanas de ônibus de policiais que, à paisana, pretendem participar das manifestações do 7 de Setembro.
“A solução do problema da Tchecoslováquia é o prelúdio de um acordo mais amplo pelo qual toda a Europa pode encontrar a paz”, declarou Chamberlain ao retornar de Munique. Segundo a teoria do apaziguamento, a paz vale a traição. Trump e Biden aplicaram a tese ao Talibã, assinando um acordo pelo qual o governo afegão libertou 5.000 combatentes inimigos, que retornaram de imediato ao campo de batalha.
“Vocês tiveram a escolha entre guerra e desonra. Escolheram a desonra, e terão a guerra”, fulminou o sucessor de Chamberlain. Cabul caiu 16 meses após o acordo. Hitler atacou um ano após Munique.
No Rio de Janeiro, em 23 de maio, Bolsonaro pronunciou um discurso subversivo, em ato de rua. Ao seu lado, no palanque, estava Pazuello, que também discursou. Duas semanas depois, uma nota do Exército comunicou o arquivamento do processo administrativo instaurado contra o general da ativa.
Munique: Neville Chamberlain e Édouard Daladier entregaram os Sudetos a Adolf Hitler. Brasília: Paulo Sérgio de Oliveira jogou à lata de lixo o Regulamento Disciplinar do Exército que proíbe manifestações públicas políticas de militares de ativa.
O “chavismo de direita” de Bolsonaro, na precisa expressão de Rodrigo Maia, subverte a ordem democrática na tentativa de dissolver a fronteira legal que separa os homens em armas da atividade política. O triunfo eleitoral, horizonte cada vez mais distante, sempre foi o plano B do presidente. Seu plano A é um golpe de Estado: a submissão do Judiciário e do Congresso ao “meu Exército”.
O “meu Exército” bolsonarista não é o Exército brasileiro, mas uma milícia nucleada por militares amotinados. A agitação subversiva no interior das Forças Armadas ainda não ganhou tração, apesar do espaço aberto pelo apaziguamento do comandante do Exército. Nas polícias militares, porém, ergue-se um Partido Bolsonarista cujos contornos delineiam-se com nitidez às vésperas dos atos golpistas de 7 de Setembro.
Nas quase 400 mensagens que publicou em agosto, o militante bolsonarista Aleksander Lacerda, que veste uniforme de coronel da PM, insultou reiteradamente o governador paulista e o presidente do Senado. Mas, sobretudo, convocou seus “amigos” —ou seja, os 5.000 policiais de sete batalhões que comandava— aos atos subversivos.
Não são gestos de um solitário desvairado, mas lances de uma estudada provocação. Lacerda testava os limites, investigava a firmeza da coluna vertebral de João Doria. Sua conclusão provisória é que São Paulo pode ser Munique.
“Ele tem de ser severamente punido sob o ponto de vista administrativo e sob o ponto de vista penal-militar. Se não, vamos instalar a balbúrdia na instituição”, alertou o coronel Glauco Carvalho, ex-comandante de policiamento da capital do estado.
Doria, porém, preferiu classificar o comportamento de Lacerda como “inadequado” e afastá-lo de seu comando, entregando-o à Corregedoria da PM. A “balbúrdia” está a apenas um tiro de distância.
O STJ (Superior Tribunal de Justiça) já firmou entendimento de que governadores têm a prerrogativa de expulsar oficiais da PM, via processo administrativo, sem prejuízo de julgamento pela Justiça Militar. Contudo, em São Paulo, o apaziguamento começa a fazer seu curso. Simulando cegueira, Doria descreveu a conclamação de Lacerda ao motim como um “fato pontual”.
Enquanto o governador praticamente encerrava o assunto, a facção bolsonarista da PM paulista organizava caravanas de ônibus de policiais que, à paisana, pretendem participar das manifestações do 7 de Setembro.
“A solução do problema da Tchecoslováquia é o prelúdio de um acordo mais amplo pelo qual toda a Europa pode encontrar a paz”, declarou Chamberlain ao retornar de Munique. Segundo a teoria do apaziguamento, a paz vale a traição. Trump e Biden aplicaram a tese ao Talibã, assinando um acordo pelo qual o governo afegão libertou 5.000 combatentes inimigos, que retornaram de imediato ao campo de batalha.
“Vocês tiveram a escolha entre guerra e desonra. Escolheram a desonra, e terão a guerra”, fulminou o sucessor de Chamberlain. Cabul caiu 16 meses após o acordo. Hitler atacou um ano após Munique.
Um golpe em marcha
Bolsonaro não se preparou para governar, sua intenção desde o início foi produzir as condições para uma ruptura institucional, numa espécie de saudosismo de 1964. Tais condições pareciam ser uma radicalização nas pautas morais e reacionárias e a construção de uma narrativa, na qual o miliciano que ocupa a presidência, estaria sendo impedido de governar pela interferência de outros poderes, o Legislativo e o Judiciário.
As coisas não aconteceram como imaginava o presidente de extrema direita por alguns motivos. Em primeiro lugar, a ruptura institucional que levaria a um governo de força necessitaria de dois apoios essenciais: o grande capital e as Forças Armadas. Temos afirmado que em nenhum desses polos o presidente teria um respaldo homogêneo. A grande burguesia monopolista se divide entre a manutenção do presidente, que opera sua pauta, e a necessidade de afastá-lo porque o mandatário e suas intenções rupturistas criam uma grande instabilidade, que prejudica o bom andamento da mesma pauta. As Forças Armadas transformaram-se em avalista do presidente, uma espécie de garantia ao grande capital e aos outros poderes de que o presidente se manteria no cercadinho da institucionalidade apesar de suas bravatas. Os militares são mais que avalistas, participam diretamente do governo e tem demonstrado que seus interesses extrapolam o corporativismo e se aproximam de interesses econômicos e políticos que compartilham com o bolsonarismo.
Este jogo de forças produziu um pacto protagonizado pelos militares, o Judiciário e o Legislativo que manteve até agora o miliciano. O descontrole da pandemia, os desvios e desmandos na vacinação e a Comissão Parlamentar de Inquérito jogaram água no moinho daqueles que querem ao afastamento do presidente, ou desgastá-lo para buscar uma alternativa em 2022. O problema é que quanto mais o cerco se fecha, mais o presidente ameaça uma ruptura. A grande questão é, portanto, se o miliciano no governo tem ou não condições de desfechar seu golpe e efetivá-lo na formação de um governo de força, mesmo sem o apoio ou respaldo integral do grande capital, que parece preferir uma continuidade institucional que o favorece e não parece ameaçada em 2022.
Esta não é uma questão tão simples. Acredito que a resposta tem que partir de duas constatações: primeiro, o presidente tem meios de iniciar uma ruptura e provocar uma fratura com consequências imprevisíveis; segundo, talvez, o golpista não tenha apoio para efetivar o golpe em um novo governo fundado numa institucionalidade de exceção.
Vamos nos deter, primeiramente, no plano que parece estar em andamento e verificar se os recursos disponíveis permitem a aventura golpista. O presidente tem demonstrado ser incontrolável, isto é, os que defendem a continuidade do pacto tendem a perder espaço para a polarização que colocara em rota de colisão os que estão com Bolsonaro e os que estão contra ele. Paralelamente, o governo de extrema direita acentuará as tensões e a narrativa de uma conspiração, convocando sua base social e política para checar as forças que dispõe. Por enquanto, e isto pode mudar, o governo dispõe dos votos necessários para barrar um processo de impedimento na Câmara dos Deputados. No entanto, diante de um relatório final da CPI que, ao que se supõe, indica o indiciamento do presidente por um certo número de delitos, pode haver um deslocamento desta camada fisiológica que não guarda nenhuma coerência a não ser com sua própria sobrevivência.
Ao nosso ver, o isolamento do presidente e a possibilidade de deposição são os gatilhos para o plano já em andamento. Caso sobreviva ao impedimento, o pretexto seria a mítica possibilidade de fraude nas eleições na ausência de um voto impresso. Seja como for, a ameaça de ruptura permanece como uma ameaça constante. Como dissemos, a aparência da figura tosca e aparvalhada no ato de governar não pode obscurecer a capacidade do conspirador e dos meios que dispõe para agir.
Assusta-me a confiança que os setores políticos, incluindo aí a centro esquerda que acomodou-se ao campo institucional da ordem burguesa, tem na solidez de um regime político que aponta sérios indícios de corrosão eminente. Tal postura esta na base da inação que espera que o calendário e as eleições de 2022 chegue como solução redentora, independente do atual presidente chegar ou não em pé no pleito.
As coisas não aconteceram como imaginava o presidente de extrema direita por alguns motivos. Em primeiro lugar, a ruptura institucional que levaria a um governo de força necessitaria de dois apoios essenciais: o grande capital e as Forças Armadas. Temos afirmado que em nenhum desses polos o presidente teria um respaldo homogêneo. A grande burguesia monopolista se divide entre a manutenção do presidente, que opera sua pauta, e a necessidade de afastá-lo porque o mandatário e suas intenções rupturistas criam uma grande instabilidade, que prejudica o bom andamento da mesma pauta. As Forças Armadas transformaram-se em avalista do presidente, uma espécie de garantia ao grande capital e aos outros poderes de que o presidente se manteria no cercadinho da institucionalidade apesar de suas bravatas. Os militares são mais que avalistas, participam diretamente do governo e tem demonstrado que seus interesses extrapolam o corporativismo e se aproximam de interesses econômicos e políticos que compartilham com o bolsonarismo.
Este jogo de forças produziu um pacto protagonizado pelos militares, o Judiciário e o Legislativo que manteve até agora o miliciano. O descontrole da pandemia, os desvios e desmandos na vacinação e a Comissão Parlamentar de Inquérito jogaram água no moinho daqueles que querem ao afastamento do presidente, ou desgastá-lo para buscar uma alternativa em 2022. O problema é que quanto mais o cerco se fecha, mais o presidente ameaça uma ruptura. A grande questão é, portanto, se o miliciano no governo tem ou não condições de desfechar seu golpe e efetivá-lo na formação de um governo de força, mesmo sem o apoio ou respaldo integral do grande capital, que parece preferir uma continuidade institucional que o favorece e não parece ameaçada em 2022.
Esta não é uma questão tão simples. Acredito que a resposta tem que partir de duas constatações: primeiro, o presidente tem meios de iniciar uma ruptura e provocar uma fratura com consequências imprevisíveis; segundo, talvez, o golpista não tenha apoio para efetivar o golpe em um novo governo fundado numa institucionalidade de exceção.
Vamos nos deter, primeiramente, no plano que parece estar em andamento e verificar se os recursos disponíveis permitem a aventura golpista. O presidente tem demonstrado ser incontrolável, isto é, os que defendem a continuidade do pacto tendem a perder espaço para a polarização que colocara em rota de colisão os que estão com Bolsonaro e os que estão contra ele. Paralelamente, o governo de extrema direita acentuará as tensões e a narrativa de uma conspiração, convocando sua base social e política para checar as forças que dispõe. Por enquanto, e isto pode mudar, o governo dispõe dos votos necessários para barrar um processo de impedimento na Câmara dos Deputados. No entanto, diante de um relatório final da CPI que, ao que se supõe, indica o indiciamento do presidente por um certo número de delitos, pode haver um deslocamento desta camada fisiológica que não guarda nenhuma coerência a não ser com sua própria sobrevivência.
Ao nosso ver, o isolamento do presidente e a possibilidade de deposição são os gatilhos para o plano já em andamento. Caso sobreviva ao impedimento, o pretexto seria a mítica possibilidade de fraude nas eleições na ausência de um voto impresso. Seja como for, a ameaça de ruptura permanece como uma ameaça constante. Como dissemos, a aparência da figura tosca e aparvalhada no ato de governar não pode obscurecer a capacidade do conspirador e dos meios que dispõe para agir.
Assusta-me a confiança que os setores políticos, incluindo aí a centro esquerda que acomodou-se ao campo institucional da ordem burguesa, tem na solidez de um regime político que aponta sérios indícios de corrosão eminente. Tal postura esta na base da inação que espera que o calendário e as eleições de 2022 chegue como solução redentora, independente do atual presidente chegar ou não em pé no pleito.
Essa convicção trabalha apenas com alguns fatores, todos eles no campo da institucionalidade, até porque ela mesma – a centro esquerda – escolheu esse campo e abdicou de qualquer outra via de enfretamento e de busca pelo poder do Estado. Entretanto, este recuo e a abdicação ao uso da força foram unilaterais. As classes dominantes nunca o fizeram, certamente a extrema direita nunca o fez. As classes dominantes e suas personificações políticas, midiáticas, jurídicas, operam um sofisticado esquema que navega dentro e fora da institucionalidade e mesmo da legalidade, estão sempre preparadas e dispõe de recursos para garantia da ordem. Quando acreditaram ser necessário operaram um golpe fundado em uma escandaloso casuísmo jurídico, seja pelo pretexto das pedaladas que afastaram a presidente eleita em 2014 ou a farsa jurídica que afastou o ex-presidente Lula da disputa eleitoral de 2018.
Por seu lado, o bolsonarismo que dirige sua intencionalidade na ruptura, centra suas preocupações na aglutinação de recursos de força. Acobertado pelo pacto que lhe deu uma sobrevida institucional, o miliciano se aproveita dos termos do pacto para manter-se enquanto prepara essa ruptura. E como ela estaria sendo construída?
Para seu intento o bolsonarismo precisa de um certo apoio popular e de esquemas armados. É verdade que, no que tange à popularidade, o presidente perdeu espaço, mas arrisco dizer que o núcleo central do apoio de massas do bolsonarismo ainda sobrevive. O pacto que pretendia controlá-lo golpeou não mais que superficialmente as máquinas de fake news e os meios de manipulação em massa, por exemplo, em certos setores evangélicos. Ao lado disso, existe o apoio das milícias, de parte dos aparatos policiais e de segmentos das Forças Armadas.
Na lógica do miliciano, o país está dividido e a crise gera condições de polarização e confronto que serão decididas pela força. Na famosa reunião ministerial que se tornou pública, o presidente insistiu na ideia do armamento de setores da população, claramente vinculando esse armamento à defesa da população contra uma ditadura. Agora convoca seus apoiadores para sair em defesa daquilo que ele denomina de um “contragolpe”, reforçando a narrativa segundo a qual estaria em marcha um golpe do judiciário para afastá-lo.
Um dado deve ser considerado neste possível cenário. Houve um enorme crescimento no número de registros de armas no Brasil no atual governo, que, como sabemos, tentou sempre que pôde facilitar o acesso às armas. O número de registros de armas na Polícia Federal passou de 637.972 pedidos em 2017 para 1.056.670 pedidos em 2019 e 1.279.941, em 2020. Só no Distrito Federal, esses pedidos de registros saltaram de 35.693 para 236.296, num crescimento de 562%. Os pedidos de registro, que em 2018 eram de 46 armas por dia, saltaram para 378 pedidos diários em 2019. Sabemos que ao lado dos pedidos legais dos chamados cidadãos de bem, as milícias tem outras fontes de armamento, como parece indicar o arsenal descoberto na casa vizinha à do presidente em seu condomínio no Rio.
Ao meu ver, isto significa que a convicção de certos segmentos políticos de que o golpe estaria descartado pela falta de respaldo político (seja no Parlamento ou no grande capital), ou pela ação do poder judiciário como guardião de uma ordem constitucional estabelecida, apresenta-se como uma grossa ingenuidade. Os que planejam golpes devem levar em conta respaldos políticos, mas sabem que a ação de força é decisiva. Creio que o bolsonarismo aposta nesse cenário e na ideia de que, uma vez dada a partida para uma confrontação armada, econseguirá o apoio que lhe falta. Existe a possibilidade do blefe, isto é, o bolsonarismo não contaria com o apoio que alardeia nas milícias, corporações policiais e nas Forças Armadas. No entanto, para seu intento, bastaria que segmentos destas corporações se movessem e que os demais não tivessem disposição em promover a resposta armada em defesa de uma ordem política em ruínas.
Resta a posição dos interesses econômicos dominantes. Acredito que o grande capital, por ora, opera na intencionalidade de manter a ordem política e institucional vigente, no entanto não podemos desconsiderar a variada gama de formas políticas aos quais estes interesses se acomodam. O grande capital se desenvolveu satisfatoriamente durante a Ditadura Militar inaugurada em 1964, sobreviveu à sua queda e encontrou um terreno favorável à acumulação durante a transição controlada e sob tutela militar, e mesmo no máximo desenvolvimento de uma democracia limitada nos governos do PT. Por que não buscaria entender-se com um governo de extrema direita à cabeça de um Estado forte se este acabasse por se impor pela força? O capital não tem princípios, tem interesses.
Há um golpe em marcha. Ele pode fracassar, pode não passar de um blefe ou pode ser uma vitória de Pirro, na qual o golpista não consegue montar no tigre que pretendia cavalgar. A institucionalidade burguesa pode se antecipar e frustrar a tentativa golpista, afastando o presidente e prendendo os que iniciarem alguma ação mais decisiva de reação. É possível. Mas, até agora, há um golpe em marcha, de um lado os que apostam no conflito e se armam, de outro aqueles que já preparam uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para ser enviada a um Supremo Tribunal Federal que pode não mais estar lá para recebê-la.
Por seu lado, o bolsonarismo que dirige sua intencionalidade na ruptura, centra suas preocupações na aglutinação de recursos de força. Acobertado pelo pacto que lhe deu uma sobrevida institucional, o miliciano se aproveita dos termos do pacto para manter-se enquanto prepara essa ruptura. E como ela estaria sendo construída?
Para seu intento o bolsonarismo precisa de um certo apoio popular e de esquemas armados. É verdade que, no que tange à popularidade, o presidente perdeu espaço, mas arrisco dizer que o núcleo central do apoio de massas do bolsonarismo ainda sobrevive. O pacto que pretendia controlá-lo golpeou não mais que superficialmente as máquinas de fake news e os meios de manipulação em massa, por exemplo, em certos setores evangélicos. Ao lado disso, existe o apoio das milícias, de parte dos aparatos policiais e de segmentos das Forças Armadas.
Na lógica do miliciano, o país está dividido e a crise gera condições de polarização e confronto que serão decididas pela força. Na famosa reunião ministerial que se tornou pública, o presidente insistiu na ideia do armamento de setores da população, claramente vinculando esse armamento à defesa da população contra uma ditadura. Agora convoca seus apoiadores para sair em defesa daquilo que ele denomina de um “contragolpe”, reforçando a narrativa segundo a qual estaria em marcha um golpe do judiciário para afastá-lo.
Um dado deve ser considerado neste possível cenário. Houve um enorme crescimento no número de registros de armas no Brasil no atual governo, que, como sabemos, tentou sempre que pôde facilitar o acesso às armas. O número de registros de armas na Polícia Federal passou de 637.972 pedidos em 2017 para 1.056.670 pedidos em 2019 e 1.279.941, em 2020. Só no Distrito Federal, esses pedidos de registros saltaram de 35.693 para 236.296, num crescimento de 562%. Os pedidos de registro, que em 2018 eram de 46 armas por dia, saltaram para 378 pedidos diários em 2019. Sabemos que ao lado dos pedidos legais dos chamados cidadãos de bem, as milícias tem outras fontes de armamento, como parece indicar o arsenal descoberto na casa vizinha à do presidente em seu condomínio no Rio.
Ao meu ver, isto significa que a convicção de certos segmentos políticos de que o golpe estaria descartado pela falta de respaldo político (seja no Parlamento ou no grande capital), ou pela ação do poder judiciário como guardião de uma ordem constitucional estabelecida, apresenta-se como uma grossa ingenuidade. Os que planejam golpes devem levar em conta respaldos políticos, mas sabem que a ação de força é decisiva. Creio que o bolsonarismo aposta nesse cenário e na ideia de que, uma vez dada a partida para uma confrontação armada, econseguirá o apoio que lhe falta. Existe a possibilidade do blefe, isto é, o bolsonarismo não contaria com o apoio que alardeia nas milícias, corporações policiais e nas Forças Armadas. No entanto, para seu intento, bastaria que segmentos destas corporações se movessem e que os demais não tivessem disposição em promover a resposta armada em defesa de uma ordem política em ruínas.
Resta a posição dos interesses econômicos dominantes. Acredito que o grande capital, por ora, opera na intencionalidade de manter a ordem política e institucional vigente, no entanto não podemos desconsiderar a variada gama de formas políticas aos quais estes interesses se acomodam. O grande capital se desenvolveu satisfatoriamente durante a Ditadura Militar inaugurada em 1964, sobreviveu à sua queda e encontrou um terreno favorável à acumulação durante a transição controlada e sob tutela militar, e mesmo no máximo desenvolvimento de uma democracia limitada nos governos do PT. Por que não buscaria entender-se com um governo de extrema direita à cabeça de um Estado forte se este acabasse por se impor pela força? O capital não tem princípios, tem interesses.
Há um golpe em marcha. Ele pode fracassar, pode não passar de um blefe ou pode ser uma vitória de Pirro, na qual o golpista não consegue montar no tigre que pretendia cavalgar. A institucionalidade burguesa pode se antecipar e frustrar a tentativa golpista, afastando o presidente e prendendo os que iniciarem alguma ação mais decisiva de reação. É possível. Mas, até agora, há um golpe em marcha, de um lado os que apostam no conflito e se armam, de outro aqueles que já preparam uma Ação Direta de Inconstitucionalidade para ser enviada a um Supremo Tribunal Federal que pode não mais estar lá para recebê-la.
Debate que apequena
Democracia é essencialmente o regime do diálogo, da negociação, da busca do consenso, a partir da escolha do povo. É a política do debate. O problema é que há debates que engrandecem democracias e seus atores; outros apequenam. Muita gente acreditou que, ao fim da longa temporada de doença, luto e crises decorrentes da pandemia, o mundo e o Brasil, em particular, sairiam melhores, amadurecidos, fortalecidos. É verdade que organizações da sociedade civil se reaproximaram e assumiram o protagonismo em ações humanitárias de enfrentamento à Covid-19. Está claro que atribuições — à frente, saúde e assistência social — de um Estado intensamente demonizado em anos anteriores foram reconhecidas e, hoje, são cobradas. Mas, ao fim da jornada, sairemos mais exauridos que satisfeitos, mais esfarrapados que aprumados, mais famintos que saciados. Sairemos menores.
Não há como fingir que não foi devastador perder dois, três, talvez quatro anos reiniciando debates sobre temas superados, pacificados, resolvidos, à luz de pactos civilizatórios há muito firmados. O Brasil sob Jair Bolsonaro e seu grupo político implodiu qualquer traço de normalidade democrática. Hoje, gastamos tempo que não temos em discussões que, um par de anos atrás, eram completamente irrelevantes. Quase três décadas e meia depois de promulgada a atual Constituição, somos obrigados a lembrar que democracia é inegociável e tem de haver harmonia e independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Como numa classe de alfabetização cidadã, temos de explicar que ofender e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não é liberdade de expressão, mas ataque às instituições.
Quando a pandemia completou um ano, Ana Paula Lisboa, amiga querida, colunista no Segundo Caderno, expressou num encontro virtual o espanto com a polêmica brasileira sobre uso de máscara como medida não farmacológica para conter a transmissão da Covid-19. Ela vive em Luanda, capital angolana, há quatro anos e contou que lá máscara não é tema de debate: “As pessoas usam”. No Brasil, um quarto da população completamente imunizada, variante Delta do coronavírus em acelerada multiplicação, e o presidente da República cobra do ministro da Saúde o uso facultativo da proteção. Diariamente, repetimos que haver mais de 577 mil pessoas mortas pela pandemia é inaceitável.
Nos dois anos e meio do atual governo, fomos levados a explicar por que brasileiros como Elza Soares, Martinho da Vila, Benedita da Silva, Gilberto Gil, Zezé Motta, Conceição Evaristo são dignos de reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. E a reagir à inclusão do Palácio Gustavo Capanema, joia da arquitetura modernista, numa lista de imóveis da União a ser privatizados. É cansativo lidar com gestores públicos que não sabem a diferença entre bem imobiliário e patrimônio histórico; desprezam a relevância da cultura, das artes, do carnaval.
Cá estamos a produzir estudos e resgatar evidências de que flexibilizar o acesso a armas de fogo não diminuiu a violência, aumentou. Estamos em 2021 fazendo pessoas submetidas à tortura, à brutalidade do regime militar revisitar suas dores, exumar seus mortos para provar que houve ditadura no Brasil de 1964 a 1985. Temos de repetir que o Estado é laico e que Forças Armadas a ele se subordinam.
Sairemos exauridos, minúsculos. E com muito trabalho pela frente.
Não há como fingir que não foi devastador perder dois, três, talvez quatro anos reiniciando debates sobre temas superados, pacificados, resolvidos, à luz de pactos civilizatórios há muito firmados. O Brasil sob Jair Bolsonaro e seu grupo político implodiu qualquer traço de normalidade democrática. Hoje, gastamos tempo que não temos em discussões que, um par de anos atrás, eram completamente irrelevantes. Quase três décadas e meia depois de promulgada a atual Constituição, somos obrigados a lembrar que democracia é inegociável e tem de haver harmonia e independência entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Como numa classe de alfabetização cidadã, temos de explicar que ofender e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) não é liberdade de expressão, mas ataque às instituições.
Mais de meio milênio depois da chegada dos colonizadores, a Justiça é chamada a decidir se o direito dos povos indígenas sobre terras que ocupavam antes de o Brasil ser Brasil terminou com a entrada em vigor da última Carta Magna. É disso que trata o marco temporal que o STF volta a julgar em 1º de setembro. O mundo todo, boquiaberto, vê a Amazônia ser derrubada e incendiada com a anuência do governo. O debate se apequena quando a ministra da Mulher quer impor a maternidade a uma criança de 11 anos, que engravidou de um estupro; ou determina que meninas vestem rosa, e meninos azul.
Quando a pandemia completou um ano, Ana Paula Lisboa, amiga querida, colunista no Segundo Caderno, expressou num encontro virtual o espanto com a polêmica brasileira sobre uso de máscara como medida não farmacológica para conter a transmissão da Covid-19. Ela vive em Luanda, capital angolana, há quatro anos e contou que lá máscara não é tema de debate: “As pessoas usam”. No Brasil, um quarto da população completamente imunizada, variante Delta do coronavírus em acelerada multiplicação, e o presidente da República cobra do ministro da Saúde o uso facultativo da proteção. Diariamente, repetimos que haver mais de 577 mil pessoas mortas pela pandemia é inaceitável.
Nos dois anos e meio do atual governo, fomos levados a explicar por que brasileiros como Elza Soares, Martinho da Vila, Benedita da Silva, Gilberto Gil, Zezé Motta, Conceição Evaristo são dignos de reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares. E a reagir à inclusão do Palácio Gustavo Capanema, joia da arquitetura modernista, numa lista de imóveis da União a ser privatizados. É cansativo lidar com gestores públicos que não sabem a diferença entre bem imobiliário e patrimônio histórico; desprezam a relevância da cultura, das artes, do carnaval.
Cá estamos a produzir estudos e resgatar evidências de que flexibilizar o acesso a armas de fogo não diminuiu a violência, aumentou. Estamos em 2021 fazendo pessoas submetidas à tortura, à brutalidade do regime militar revisitar suas dores, exumar seus mortos para provar que houve ditadura no Brasil de 1964 a 1985. Temos de repetir que o Estado é laico e que Forças Armadas a ele se subordinam.
Somos impelidos a ensinar ao ministro da Economia que pobres não podem se alimentar de sobras; inflação de 7% é jogo perigoso para um país engolfado pelo desemprego, pela informalidade, pela fome; 52% de aumento na bandeira tarifária que onera a conta de luz é uma barbaridade. Precismos ensinar ao titular da Educação que crianças com deficiência têm de ir à escola, educação é direito constitucional de todos os brasileiros, e universidade não é para poucos.
Sairemos exauridos, minúsculos. E com muito trabalho pela frente.
A verdade dividida
A porta da verdade estava aberta
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só conseguia o perfil da meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia os seus fogos.
Era dividida em duas metades
diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era perfeitamente bela.
E era preciso optar. Cada um optou
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
Carlos Drummond de Andrade, "Contos Plausíveis"
mas só deixava passar
meia pessoa de cada vez.
Assim não era possível atingir toda a verdade,
porque a meia pessoa que entrava
só conseguia o perfil da meia verdade.
E sua segunda metade
voltava igualmente com meio perfil.
E os meios perfis não coincidiam.
Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta.
Chegaram ao lugar luminoso
onde a verdade esplendia os seus fogos.
Era dividida em duas metades
diferentes uma da outra.
Chegou-se a discutir qual a metade mais bela.
Nenhuma das duas era perfeitamente bela.
E era preciso optar. Cada um optou
conforme seu capricho, sua ilusão, sua miopia.
Carlos Drummond de Andrade, "Contos Plausíveis"
O problema de Bolsonaro é que não aprendeu nada e nada esqueceu
Ou o quadro mental do presidente Jair Bolsonaro é para lá de preocupante como admitem alguns dos seus auxiliares, segundo o jornalista William Waack, apresentador da CNN Brasil, ou Bolsonaro, e somente ele, enxerga alguma vantagem em continuar se comportando do modo ensandecido como o faz.
Antes de viajar a Goiânia para mais uma solenidade militar (foram nove até aqui em agosto), ele recomendou aos devotos com os quais se reúne diariamente à saída do Palácio da Alvorada:
“Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Tem um idiota: ‘Ah, tem que comprar é feijão’. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar.”
Mais fuzil, menos feijão – eis a nova receita econômica e institucional do presidente. O que pretende com isso? Apenas estimular os instintos mais primitivos dos seus fiéis seguidores para não perdê-los? Desviar a atenção do aumento do custo de vida? Ou é só mais uma prova do seu desequilíbrio mental?
De agosto de 2020 a agosto que chega ao fim, o preço da energia elétrica aumentou 20,4% contra 9,3% da inflação; o do feijão, 11%; arroz, 37%; gasolina, 39%; diesel, 35%; botijão de gás, 31%. Em julho do ano passado, o brasileiro trabalhou 12 dias para comprar a cesta básica. Em julho deste ano, 14 dias.
Nos tempos antigos, quando não havia pesquisas de opinião pública nem outros meios de se avaliar o humor das pessoas, os políticos mais experientes se limitavam a perguntar: o custo de vida aumentou ou diminuiu? Se diminuiu, o governo ganhará a próxima eleição; se aumentou, perderá. Era simples assim.
E, de certa forma, não deixou de ser. Essa é a âncora mais pesada que Bolsonaro arrasta no momento, e nada indica que deixará de ser até onde a vista alcança. Sem falar de outras: o desemprego; a falta de obras a serem exibidas; o número de mortos e infectados pela pandemia; o desmonte do combate à corrupção; e por aí vai.
A 14 meses das eleições do ano que vem o presidente sem partido, que fracassou na tarefa de construir um para chamar de seu, sequestrado pelo Centrão que lhe toma tudo o que tem para abandoná-lo mais tarde, está a caminho da guilhotina e só conta com uma saída para salvar sua cabeça: o apelo às armas.
Nunca na história falou-se tanto em 7 de setembro como agora. Os aliados de Bolsonaro dizem que ele quer dar uma demonstração de força para depois negociar uma trégua com os demais poderes da República. A ideia faria sentido se Bolsonaro fosse um político normal, mas ele não aprendeu nada e não esqueceu nada.
Antes de viajar a Goiânia para mais uma solenidade militar (foram nove até aqui em agosto), ele recomendou aos devotos com os quais se reúne diariamente à saída do Palácio da Alvorada:
“Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Tem um idiota: ‘Ah, tem que comprar é feijão’. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar.”
Mais fuzil, menos feijão – eis a nova receita econômica e institucional do presidente. O que pretende com isso? Apenas estimular os instintos mais primitivos dos seus fiéis seguidores para não perdê-los? Desviar a atenção do aumento do custo de vida? Ou é só mais uma prova do seu desequilíbrio mental?
De agosto de 2020 a agosto que chega ao fim, o preço da energia elétrica aumentou 20,4% contra 9,3% da inflação; o do feijão, 11%; arroz, 37%; gasolina, 39%; diesel, 35%; botijão de gás, 31%. Em julho do ano passado, o brasileiro trabalhou 12 dias para comprar a cesta básica. Em julho deste ano, 14 dias.
Nos tempos antigos, quando não havia pesquisas de opinião pública nem outros meios de se avaliar o humor das pessoas, os políticos mais experientes se limitavam a perguntar: o custo de vida aumentou ou diminuiu? Se diminuiu, o governo ganhará a próxima eleição; se aumentou, perderá. Era simples assim.
E, de certa forma, não deixou de ser. Essa é a âncora mais pesada que Bolsonaro arrasta no momento, e nada indica que deixará de ser até onde a vista alcança. Sem falar de outras: o desemprego; a falta de obras a serem exibidas; o número de mortos e infectados pela pandemia; o desmonte do combate à corrupção; e por aí vai.
A 14 meses das eleições do ano que vem o presidente sem partido, que fracassou na tarefa de construir um para chamar de seu, sequestrado pelo Centrão que lhe toma tudo o que tem para abandoná-lo mais tarde, está a caminho da guilhotina e só conta com uma saída para salvar sua cabeça: o apelo às armas.
Nunca na história falou-se tanto em 7 de setembro como agora. Os aliados de Bolsonaro dizem que ele quer dar uma demonstração de força para depois negociar uma trégua com os demais poderes da República. A ideia faria sentido se Bolsonaro fosse um político normal, mas ele não aprendeu nada e não esqueceu nada.
Choro ainda é grátis, Guedes
Para o ministro Paulo Guedes, a conta de luz vai aumentar mais, e não adianta nada ficar sentado chorando. Em tempos de inflação descontrolada, mortes aos borbotões e ataques sistemáticos à democracia e ao bom senso, chorar é uma das poucas coisas de graça à disposição do brasileiro.
O resto todo ofertado pelo governo que Guedes insiste em servir tem cobrado um alto preço moral, mental, político e econômico.
É altamente oneroso ter de aguentar uma frase fora de esquadro do ministro da Economia cada vez que a vida real evidencia o descompasso entre o que foi prometido por ele desde 2018 e o que vemos todos os dias no Brasil.
Pode ser que, para alguém como ele, o aumento na conta de luz devido ao reajuste da bandeira tarifária não tenha nada demais. “Qual o problema?”, questiona — e o mais grave é que ele parece de fato não entender qual é!
Assim como não vê a escalada autoritária do presidente a que responde nem admite que está sendo empurrado pelo Centrão para a beirinha do precipício fiscal, o ministro agora chega ao cúmulo de fazer pouco do galope dos preços, administrados ou não, e do impacto que isso tem para levar muitos brasileiros (eleitores, ministros) de fato às lágrimas.
O aumento da conta de luz pode significar a diferença entre a pessoa ter dinheiro para pagar o boleto ou não. Assim como a escalada dos combustíveis está deixando em casa o desempregado que já tinha migrado para os serviços de aplicativo de transporte para ter uma renda. Muitas vezes o que esse “engenheiro, advogado que está dirigindo Uber”, categoria que já mereceu o desprezo de Milton Ribeiro, outro colega de Guedes desconectado da realidade da pasta que dirige, tira com uma corrida não compensa o que despende para encher o tanque. Mas qual o problema, não é mesmo? Vai ficar chorando em casa?
Enquanto Guedes e também Bolsonaro dão de ombros para a economia real — o primeiro porque vem sendo acossado pelo segundo para dar um jeito de parir a fórceps um programa de renda que salve seu couro nas urnas, e o segundo porque está todo dia tramando um golpe contra a democracia — , a crise hídrica galopou sem que houvesse um plano consistente de enfrentamento. O governo deixou de fazer seu trabalho, e o brasileiro que chore. E lute.
Na crise energética de 2001, igualmente um ano pré-eleitoral, Fernando Henrique Cardoso enfrentou um desgaste político enorme com o risco de apagão, mas entregou um racionamento para consumidores privados e públicos, empresariais e domésticos. Quem não economizasse pagava mais.
Foi criado um superministério para comandar o racionamento, comandado por Pedro Parente. O resultado foi que o apagão não veio.
Ganha um voto impresso emoldurado quem se lembrar de uma reunião que o fanfarrão Bolsonaro tenha organizado entre as várias pastas ligadas ao problema para equacionar a crise hídrico-energética e oferecer um plano que evite o colapso. Ele está muito ocupado redigindo pedidos de impeachment de ministros do Supremo em primeira pessoa e conclamando a população para um ato no Sete de Setembro, cujo objetivo sub-reptício é provocar a depredação ou invasão das sedes dos demais Poderes e fornecer uma desculpa esfarrapada para um autogolpe com base na deturpação do artigo 142 da Constituição. Prioridades, pessoal. Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara enquanto quem foi eleito para governar se ocupa com balbúrdia? Chorões, vocês, hein?
O resto todo ofertado pelo governo que Guedes insiste em servir tem cobrado um alto preço moral, mental, político e econômico.
É altamente oneroso ter de aguentar uma frase fora de esquadro do ministro da Economia cada vez que a vida real evidencia o descompasso entre o que foi prometido por ele desde 2018 e o que vemos todos os dias no Brasil.
A crise hídrica de agora, que ameaça descambar para crise grave de fornecimento de energia e, consequentemente, para mais um entrave numa já não cumprida retomada econômica, não é uma inevitabilidade contra a qual não adianta chorar, como quer fazer crer o ministro.
Pode ser que, para alguém como ele, o aumento na conta de luz devido ao reajuste da bandeira tarifária não tenha nada demais. “Qual o problema?”, questiona — e o mais grave é que ele parece de fato não entender qual é!
Assim como não vê a escalada autoritária do presidente a que responde nem admite que está sendo empurrado pelo Centrão para a beirinha do precipício fiscal, o ministro agora chega ao cúmulo de fazer pouco do galope dos preços, administrados ou não, e do impacto que isso tem para levar muitos brasileiros (eleitores, ministros) de fato às lágrimas.
O aumento da conta de luz pode significar a diferença entre a pessoa ter dinheiro para pagar o boleto ou não. Assim como a escalada dos combustíveis está deixando em casa o desempregado que já tinha migrado para os serviços de aplicativo de transporte para ter uma renda. Muitas vezes o que esse “engenheiro, advogado que está dirigindo Uber”, categoria que já mereceu o desprezo de Milton Ribeiro, outro colega de Guedes desconectado da realidade da pasta que dirige, tira com uma corrida não compensa o que despende para encher o tanque. Mas qual o problema, não é mesmo? Vai ficar chorando em casa?
Enquanto Guedes e também Bolsonaro dão de ombros para a economia real — o primeiro porque vem sendo acossado pelo segundo para dar um jeito de parir a fórceps um programa de renda que salve seu couro nas urnas, e o segundo porque está todo dia tramando um golpe contra a democracia — , a crise hídrica galopou sem que houvesse um plano consistente de enfrentamento. O governo deixou de fazer seu trabalho, e o brasileiro que chore. E lute.
Na crise energética de 2001, igualmente um ano pré-eleitoral, Fernando Henrique Cardoso enfrentou um desgaste político enorme com o risco de apagão, mas entregou um racionamento para consumidores privados e públicos, empresariais e domésticos. Quem não economizasse pagava mais.
Foi criado um superministério para comandar o racionamento, comandado por Pedro Parente. O resultado foi que o apagão não veio.
Ganha um voto impresso emoldurado quem se lembrar de uma reunião que o fanfarrão Bolsonaro tenha organizado entre as várias pastas ligadas ao problema para equacionar a crise hídrico-energética e oferecer um plano que evite o colapso. Ele está muito ocupado redigindo pedidos de impeachment de ministros do Supremo em primeira pessoa e conclamando a população para um ato no Sete de Setembro, cujo objetivo sub-reptício é provocar a depredação ou invasão das sedes dos demais Poderes e fornecer uma desculpa esfarrapada para um autogolpe com base na deturpação do artigo 142 da Constituição. Prioridades, pessoal. Qual o problema de a energia ficar um pouco mais cara enquanto quem foi eleito para governar se ocupa com balbúrdia? Chorões, vocês, hein?
sexta-feira, 27 de agosto de 2021
Governando num mundo fake
No mundo fake do presidente Jair Bolsonaro a economia vai bem, a criação de empregos formais é um sucesso, os problemas são causados pelos governadores, o uso de máscaras é dispensável e as vacinas são tão “experimentais” quanto o tal tratamento precoce. Toda pessoa informada recebe com desconfiança, e até com preocupação, as declarações presidenciais sobre assuntos econômicos e de saúde – para citar só dois dos muitos territórios por ele desconhecidos.
Os dois são especialmente perigosos. Na área econômica, as perspectivas são ruins e poderão piorar, se o presidente, como de costume, cuidar mais de seus interesses pessoais do que das necessidades do País. Pelas previsões atuais, o crescimento econômico neste ano pode compensar, talvez com pequena sobra, a contração de 4,1% ocorrida em 2020, mas as perspectivas pioram muito a partir de 2022.
Diminuíram de novo na última semana as estimativas de expansão do Produto Interno Bruto (PIB). As medianas das projeções caíram para 5,27% em 2021 e 2% em 2022, enquanto as expectativas de inflação continuaram subindo e chegaram a 7,11% e 3,93%, segundo cálculos colhidos no mercado pelo Banco Central (BC).
Juros altos serão o remédio da autoridade monetária para conter o surto inflacionário. Mas o surto continuará sendo alimentado pelas ações eleitoreiras do presidente. Se depender dele, o Orçamento de 2022 será recheado de gastos populistas, destinados à caça de votos, e de dispositivos para agradar aos apoiadores fisiológicos, como um gordo fundo eleitoral e emendas para agradar aos amigos.
A inflação muito elevada tem imposto uma provação a mais para os brasileiros, principalmente para aqueles já afetados pelas péssimas condições do mercado de trabalho. Segundo o presidente, o mercado formal vai bem, com criação mensal de cerca de 250 mil empregos, mas o informal “deixa a desejar”. Esses comentários foram feitos em entrevista a uma rádio do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo.
O presidente parece levar a sério os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, gerido pelo Ministério da Economia. Analistas do mercado e outras pessoas habituadas a trabalhar com dados econômicos dão mais atenção aos levantamentos, muito mais amplos e mais informativos, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entidade fiel aos padrões internacionais e respeitada – contra a opinião do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Um novo quadro do desemprego deve ser divulgado pelo IBGE no fim do mês. O levantamento do trimestre móvel encerrado em maio mostra 14,8 milhões de desocupados (14,6% da força de trabalho, com estabilidade em relação ao período dezembro-fevereiro).
O número de empregados com carteira assinada (29,8 milhões) praticamente repetiu o do trimestre anterior. Também estável ficou o grupo de assalariados sem carteira no setor privado, de 9,8 milhões. A informalidade total, incluídos os trabalhadores por conta própria, cresceu ligeiramente, de 39,6% para 40% da população ocupada.
Não se espera um quadro muito diferente na próxima divulgação, mesmo com alguma melhora. Tampouco se espera um cenário muito mais favorável em 2022.
O presidente parece desconhecer esses dados. Pouco informado, insiste, no entanto, em interferir nas contas públicas, na política econômica e na política de saúde. Esse desconhecimento se manifestou em declarações na segunda-feira passada sobre vacinas e pandemia. Segundo ele, as vacinas são tão experimentais quanto o “tratamento precoce” defendido há alguns meses pelo Executivo. Obviamente ele ignora o significado de “experimental”.
De fato, dados da experiência, coletados de forma técnica por especialistas, confirmam a eficácia das várias vacinas contra a covid-19. Dados também controlados já desacreditaram as terapias por ele defendidas. Um presidente mais preparado entenderia essas informações. Além disso, alguém mais preparado teria valorizado o Ministério da Saúde, dado menos palpites e buscado ajuda de pessoas competentes e responsáveis.
Os dois são especialmente perigosos. Na área econômica, as perspectivas são ruins e poderão piorar, se o presidente, como de costume, cuidar mais de seus interesses pessoais do que das necessidades do País. Pelas previsões atuais, o crescimento econômico neste ano pode compensar, talvez com pequena sobra, a contração de 4,1% ocorrida em 2020, mas as perspectivas pioram muito a partir de 2022.
Diminuíram de novo na última semana as estimativas de expansão do Produto Interno Bruto (PIB). As medianas das projeções caíram para 5,27% em 2021 e 2% em 2022, enquanto as expectativas de inflação continuaram subindo e chegaram a 7,11% e 3,93%, segundo cálculos colhidos no mercado pelo Banco Central (BC).
Juros altos serão o remédio da autoridade monetária para conter o surto inflacionário. Mas o surto continuará sendo alimentado pelas ações eleitoreiras do presidente. Se depender dele, o Orçamento de 2022 será recheado de gastos populistas, destinados à caça de votos, e de dispositivos para agradar aos apoiadores fisiológicos, como um gordo fundo eleitoral e emendas para agradar aos amigos.
A inflação muito elevada tem imposto uma provação a mais para os brasileiros, principalmente para aqueles já afetados pelas péssimas condições do mercado de trabalho. Segundo o presidente, o mercado formal vai bem, com criação mensal de cerca de 250 mil empregos, mas o informal “deixa a desejar”. Esses comentários foram feitos em entrevista a uma rádio do Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo.
O presidente parece levar a sério os dados do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, gerido pelo Ministério da Economia. Analistas do mercado e outras pessoas habituadas a trabalhar com dados econômicos dão mais atenção aos levantamentos, muito mais amplos e mais informativos, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), entidade fiel aos padrões internacionais e respeitada – contra a opinião do ministro da Economia, Paulo Guedes.
Um novo quadro do desemprego deve ser divulgado pelo IBGE no fim do mês. O levantamento do trimestre móvel encerrado em maio mostra 14,8 milhões de desocupados (14,6% da força de trabalho, com estabilidade em relação ao período dezembro-fevereiro).
O número de empregados com carteira assinada (29,8 milhões) praticamente repetiu o do trimestre anterior. Também estável ficou o grupo de assalariados sem carteira no setor privado, de 9,8 milhões. A informalidade total, incluídos os trabalhadores por conta própria, cresceu ligeiramente, de 39,6% para 40% da população ocupada.
Não se espera um quadro muito diferente na próxima divulgação, mesmo com alguma melhora. Tampouco se espera um cenário muito mais favorável em 2022.
O presidente parece desconhecer esses dados. Pouco informado, insiste, no entanto, em interferir nas contas públicas, na política econômica e na política de saúde. Esse desconhecimento se manifestou em declarações na segunda-feira passada sobre vacinas e pandemia. Segundo ele, as vacinas são tão experimentais quanto o “tratamento precoce” defendido há alguns meses pelo Executivo. Obviamente ele ignora o significado de “experimental”.
De fato, dados da experiência, coletados de forma técnica por especialistas, confirmam a eficácia das várias vacinas contra a covid-19. Dados também controlados já desacreditaram as terapias por ele defendidas. Um presidente mais preparado entenderia essas informações. Além disso, alguém mais preparado teria valorizado o Ministério da Saúde, dado menos palpites e buscado ajuda de pessoas competentes e responsáveis.
Assinar:
Comentários (Atom)