“É trabalho deles nos trazer o que Israel não quer que vejamos”
Imagine, ou tente imaginar, ir trabalhar todos os dias quando seu trabalho é testemunhar a morte de perto.
Não a morte silenciosa do agente funerário, mas a morte sangrenta dos massacrados. Cadáveres, corpos feridos e corpos de crianças encharcadas de sangue sendo levados para hospitais enquanto seus parentes gritam em angústia e jogam os braços para o céu em busca de súplicas. Muitas vezes, apenas as partes dos corpos estão lá para serem encontradas.
Nesta semana, em Jabaliya, os corpos estavam se decompondo nas ruas sem que o repórter percebesse, enquanto ele falava com a câmera o mais calmamente possível.
Testemunhar esse inferno e reportá-lo é seu trabalho, dia após dia e mês após mês. Ao mesmo tempo, você tem que fazer o melhor para evitar ser morto, mas para reportar verdadeiramente, ser morto é o que você tem que arriscar. Enquanto você está nas ruas, sua família está em casa. Seu medo constante não é que eles não estejam seguros, porque você sabe que eles não estão. Ninguém está seguro. Seu medo é que o próximo ataque de míssil os mate também.
Você provavelmente pode sair de Gaza, mas não fará isso porque alguém tem que testemunhar e esse é seu papel. Todos os que sobrevivem testemunham, mas você e somente você tem a responsabilidade especial de contar ao mundo o que está acontecendo, e é por isso que você se torna um alvo especial para o inimigo, uma voz perigosa que precisa ser silenciada .
Desde 7 de outubro de 2023, mais de 130 dessas vozes em Gaza, entre quase 180 profissionais da mídia, foram silenciadas — silenciadas permanentemente. Quase todas são palestinas.
Jornalistas ocidentais não correm risco de serem mortos em Gaza porque eles não estão lá. O governo de Israel não os deixa entrar, então eles não podem reportar essa "guerra" (massacre diário de civis) e aparentemente eles não podem entrar pelo lado egípcio também.
Informar o mundo, portanto, recai quase exclusivamente sobre os ombros de jornalistas palestinos que trabalham para a Al Jazeera e veículos de notícias menores, alguns afiliados ao Fatah ou Hamas, incluindo Watan, Ajmal Radio, Palestine TV, WAFA, Al Shehab e a rede de notícias Al Aqsa. A RSF (Repórteres Sem Fronteiras) estima que pelo menos 32 jornalistas foram alvos e " mortos " (assassinados) por Israel desde 7 de outubro de 2023.
A lista inclui:
Rushdi al Sarraj, cofundador da Ain Media e jornalista freelancer, morto em um ataque com mísseis em 23 de outubro de 2023;
Samer Abudaqa, da Al Jazeera em árabe, morto em dezembro, com seu colega Wael al Dahdouh, chefe do escritório da Al Jazeera em Gaza, ferido;
Hamzah al-Dahdouh, filho de Wael, morto em um ataque de míssil em janeiro de 2024 (um ataque aéreo "aparente", relatou a Associated Press (AP), como se qualquer pessoa pudesse ser morta em um ataque aéreo "aparente"). A esposa, a filha, 7, o filho, 15, e outros oito parentes de Wael já haviam sido mortos em um ataque aéreo em 28 de outubro de 2023;
Abdallah Aljamal, que era um colaborador do Palestine Chronicle entre muitos outros veículos de notícias, morto em junho durante uma operação secreta no campo de refugiados de Nuseirat. A esposa de Abdallah, Fatima, foi morta na escada, indicando que os israelenses nem sabiam quem ela era quando atiraram nela. Invadindo o apartamento da família, eles mataram Abdallah e seu pai, um médico, de 74 anos, e feriram sua irmã Zainab.
Dezenas de pessoas nas ruas ao redor foram mortas em fogo de cobertura, que eventualmente incluiu ataques aéreos. As forças de ocupação mais tarde destruíram o prédio inteiro. As alegações israelenses de que três reféns estavam sendo mantidos no apartamento da família foram contestadas por outras fontes, que disseram que eles estavam sendo mantidos em outro lugar do prédio.
Ismail al-Ghoul, um repórter árabe da Al Jazeera e o cinegrafista Rami al Rifai, ambos mortos em julho em um ataque aéreo, junto com uma criança "não identificada", conforme relatado pela AP.
Estes são apenas alguns nomes dos 130, aos quais devem ser adicionados os nomes de jornalistas palestinos mortos ao longo dos anos em Gaza e na Cisjordânia, apenas alguns (notavelmente Shireen Abu Akleh, assassinado por um atirador na Cisjordânia em 2022) já foram relatados ou relatados em detalhes no ciclo de notícias ocidentais. Todos os jornalistas usam capacetes e jaquetas de imprensa, então podem ser identificados de perto.
Jornalistas também são alvos no Líbano. Em 13 de outubro de 2023, um grupo de sete jornalistas foi alvo perto da linha de armistício Líbano-Israel (a "fronteira"), mas a uma milha de distância de quaisquer hostilidades. Dois projéteis de tanque foram disparados, matando o correspondente da Reuters Issam Abdullah e ferindo gravemente a correspondente libanesa da AFP Christine Assi (sua perna foi posteriormente amputada). Os projéteis de tanque foram seguidos por tiros de metralhadora. Os israelenses sabiam que eles estavam lá e estavam dispostos a matar.
Os jornalistas em Gaza são frequentemente deslocados junto com todos os outros. Seus escritórios de imprensa são destruídos, suas famílias são ameaçadas ou mortas, alguns são presos e desaparecem com outros nas prisões de Israel.
Tudo isso é feito com total impunidade , junto com todos os outros crimes que Israel comete. Em janeiro, a RSF apresentou quatro queixas ao TPI, acusando Israel de cometer crimes de guerra contra jornalistas. Embora tenha sido garantido que algo seria feito, nada foi feito, o que não é surpreendente, visto que o TPI ainda não deu prosseguimento às acusações de crimes de guerra solicitadas pelo promotor-chefe Karim Khan contra Netanyahu e Gallant. O TPI também não se moveu mais de sua conclusão de janeiro de que Israel estava cometendo um genocídio "plausível" em Gaza.
Atirar no mensageiro é literalmente o que Israel está fazendo para interromper o fluxo de notícias de Gaza.
Dentro de suas próprias fronteiras (como membro da ONU, Israel é único como um estado que nunca declarou suas fronteiras), todas as notícias que saem são higienizadas primeiro pelo censor militar. As únicas notícias confiáveis sobre o que está acontecendo em Gaza estão saindo de Gaza, daí a campanha assassina lançada contra seus jornalistas.
Eles têm os mesmos problemas que todos os outros. Não há comida, água ou eletricidade suficientes e tristeza por familiares ou amigos mortos ou feridos, mas eles continuam a fazer seu trabalho, apesar do risco diário para suas próprias vidas.
Como o principal elo de notícias para o mundo exterior, os repórteres da Al Jazeera são os mais conhecidos. Eles são heróis à sua maneira.
Hani Mahmoud, Hind al Khoudary, Tareq Abu Azzoum, Moath al Kahlout e vários outros têm relatado essa guerra todos os dias há mais de um ano.
Eles estão vendo coisas que ninguém gostaria de ver, que ficam na mente quando entram e nunca mais saem, os corpos dilacerados de pessoas que conhecem e não conhecem, o material dos pesadelos da vida inteira.
Mantendo a calma, quase sempre, eles relatam dia após dia das ruas cobertas de corpos e partes de corpos, ou de fora dos hospitais, enquanto os corpos de crianças feridas ou mortas são carregados para dentro. Eles tiveram que olhar para as valas comuns e ver os corpos dos inocentes alinhados em suas mortalhas.
Nós, espectadores e leitores, não queremos testemunhar essas cenas horríveis mais do que eles, mas para saber o que está acontecendo, precisamos vê-las, mesmo que estremeçamos e desviemos o olhar porque a visão é insuportável.
É o trabalho deles nos trazer o que Israel não quer que vejamos. Que esses repórteres ainda tenham força para fazer isso depois de um ano sem quebrar (embora deva haver momentos em que eles cheguem perto) é extraordinário.
Jeremy Salt



















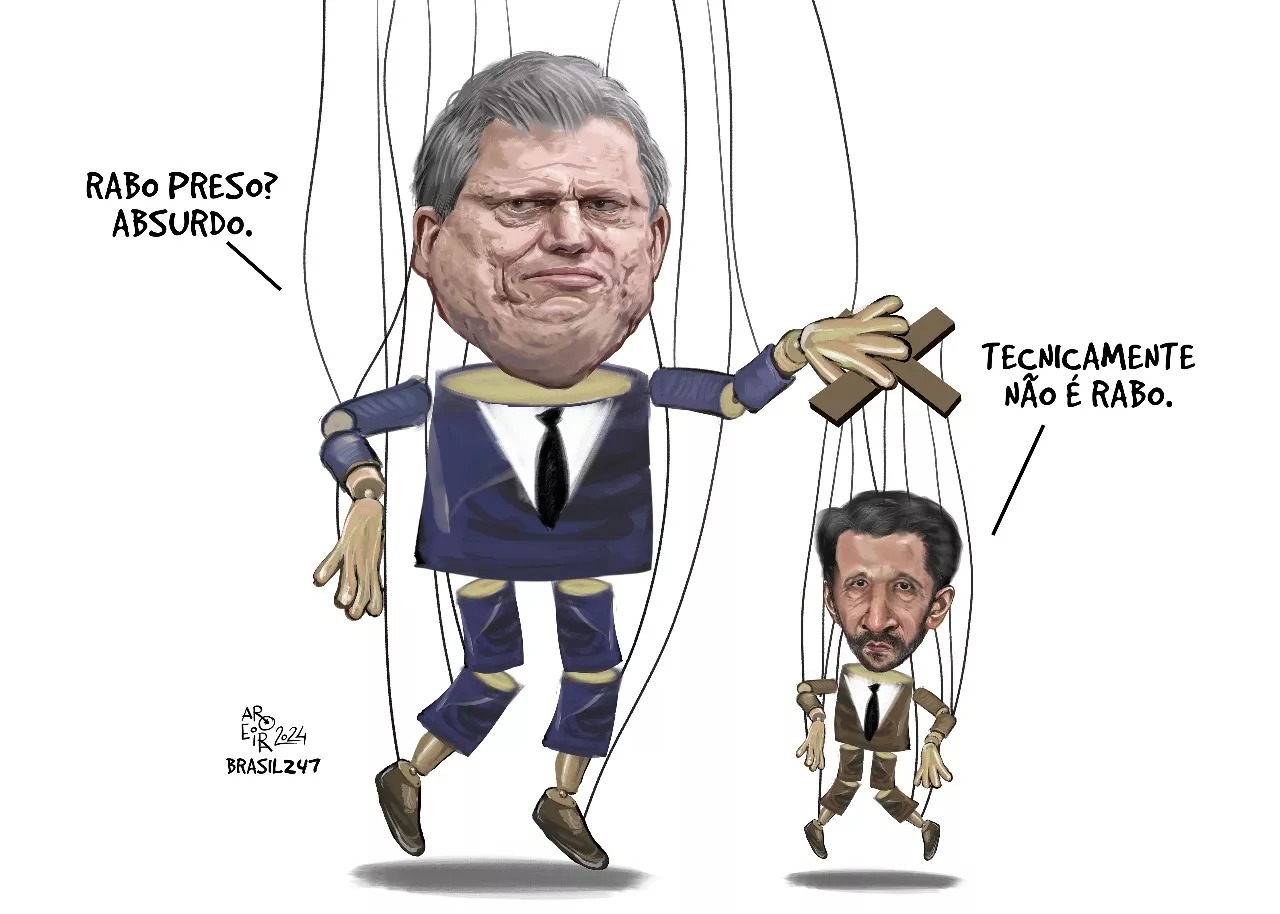


.jpg)