Um desses deveres é detectar o fugidio. À nossa volta, estão paisagens e modos de vida que ainda não sabem que estão a morrer. Temos de apanhá-los antes que morram. Não é um prazer mórbido. É uma despedida.
Sente-se quando se vai a um quiosque comprar jornais e todos os outros clientes estão a comprar boletins de apostas.
As coisas fugidias estão numa espécie de Outono tardio. Ainda há sol. Ainda há tempo. Precisamos é de lá estar. Quando uma coisa boa – ou mesmo má – desaparece de repente, é sinal de que os nossos detectores não estão a funcionar.
Todas as mortes são anunciadas. Nós é que não sabemos ler os anúncios.
Há quem se vicie em chorar o que já não existe. É quase como se esperassem pacientemente que as coisas desaparecessem, para poderem entrar em acção, como carpideiras à porta do cemitério, a pôr pingos nos olhos enquanto consultam os telemóveis, à espera que morra alguém.
É mais triste do que se pensa. O fugidio deixa-se apanhar. Precisa de nós: está a morrer. Se calhar, ainda pensa que pode sobreviver. Conta connosco para a renascença.
Não é azar, nem a maldade dos tempos sequer. As coisas vivas têm tempos de vida. Umas são borboletas e morrem muito depressa: a morte faz parte da beleza delas. Outras são tartarugas e morrem muito devagar: deixamo-nos irremediavelmente distrair, porque morremos antes delas.
O fugidio pode ser uma coisa má: um saco de plástico para transportar uma alface, uma aceleração escusada num automóvel, a pressa de despejar o lixo todo num contentor para lixo indiferenciado.
Para aproveitar enquanto se pode, primeiro é preciso detectar o que nos está a fugir.
“Já fui tarde” é o nome do nosso fado. “Quando cheguei, já tinha fechado” é sempre o primeiro verso. Não é coisa de velhos nem de saudosistas: cada vez há mais crianças que estão a deixar fugir a infância, sem saber aproveitá-la.
É preciso apanhar o fugidio.

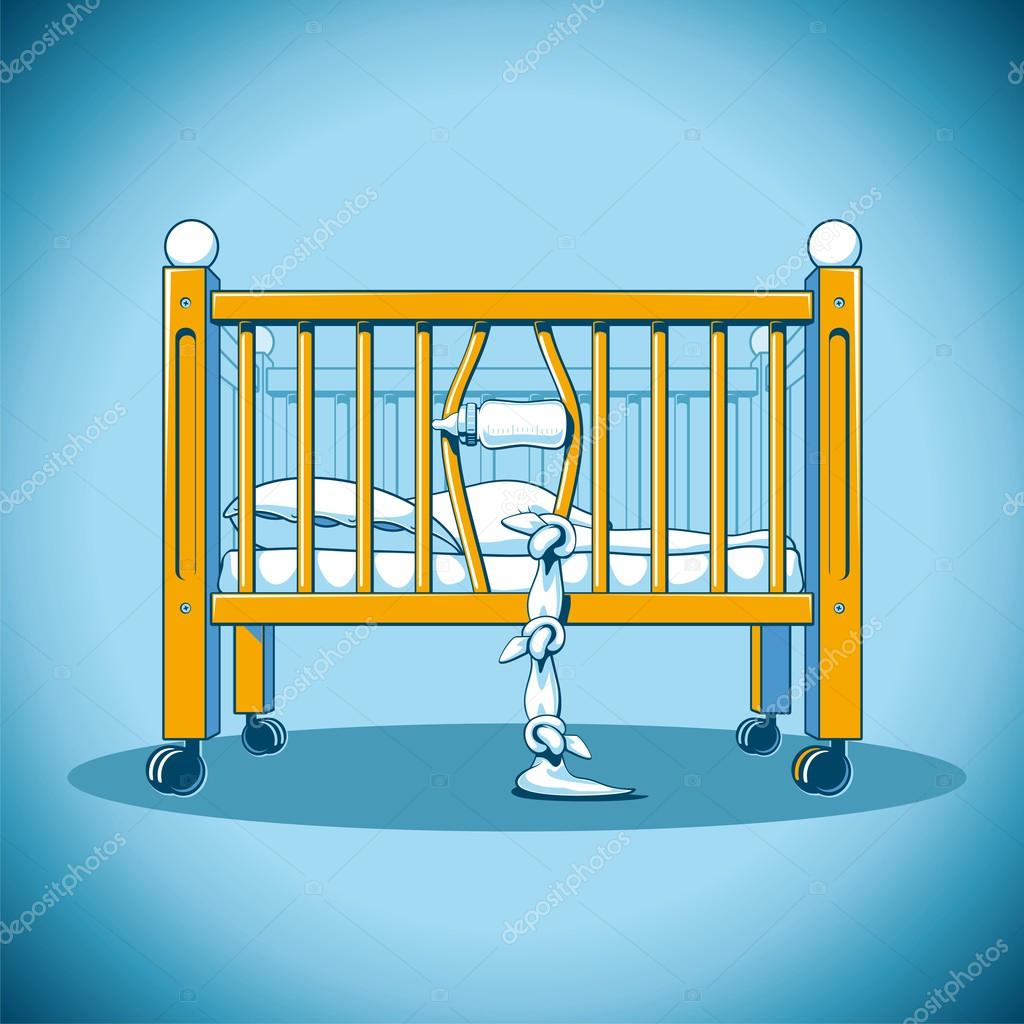
Nenhum comentário:
Postar um comentário